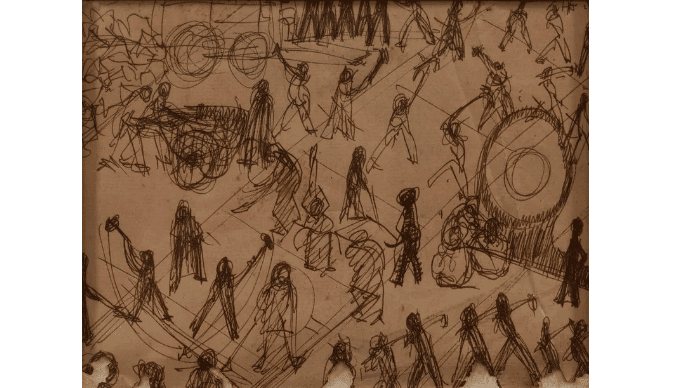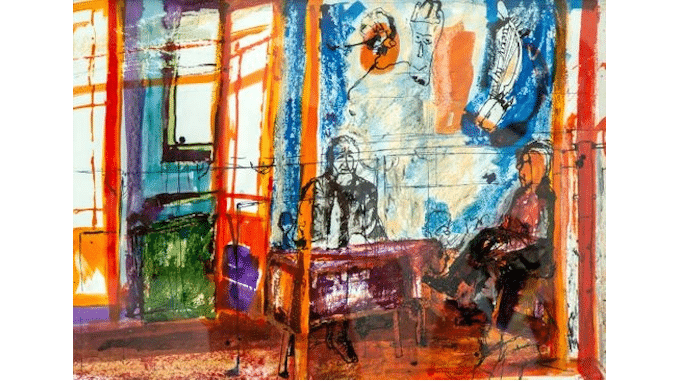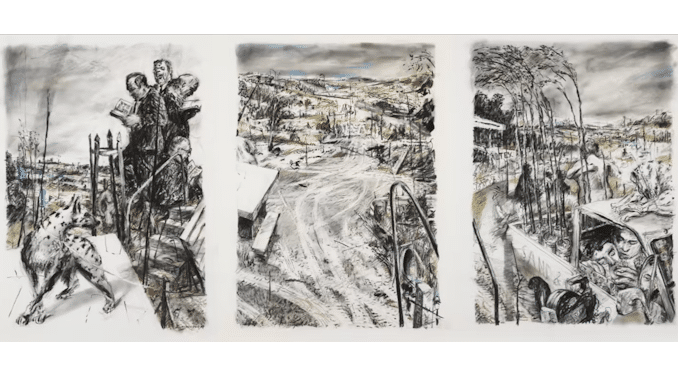Por Juan Grigera*
Considerando-se que o neoliberalismo como sistema de dominação e acumulação dominante está em crise, o que pode se prefigurar como seu substituto?
“A crise do coronavírus já provou que realmente existe essa coisa chamada sociedade” sentenciou Boris Johnson há alguns dias, para celebrar que 20 mil trabalhadorxs do sistema público de saúde (NHS) voltam ao serviço e que foram registrados 750 mil voluntários para colaborar durante a crise. Se isso foi o que disse, todo peso ficou por conta daquilo que estava implícito. Johnson fez referência, em seu isolamento (hoje internação), à magistral síntese de Thatcher do pensamento neoliberal três décadas atrás: “Não existe tal coisa chamada sociedade”.
O gesto de “BoJo” repete outro de algumas semanas atrás quando afirmou que diferentemente de 2008 quando resgataram os bancos, “desta vez vamos nos assegurar de cuidar das pessoas que realmente sofrem as consequências econômicas”. Claro que poderíamos ignorar essas expressões saídas da boca de um oportunista e inescrupuloso como Johnson, arquiteto do Brexit e primeiro ministro de um país que se encaminha a um rápido declínio. No entanto, vale lembrar que em tempos de crise “só os idiotas dizem a verdade”.
A crise provocada pelo contágio mundial de Covid-19 é uma crise radical para o neoliberalismo global. De algum modo prefigura sem precedentes a crise climática, pois em ambos os casos tanto o metabolismo humanos/natureza como a contradição valor de uso/valor de troca tomam um inesperado protagonismo. Para dimensionar seu impacto, primeiro devemos colocá-la em perspectiva com as respostas da crise de 2008. Em seguida, a analisaremos em sua profundidade, no tanto e no quanto põe em risco a capacidade do capitalismo de prover os valores de uso necessários para garantir a reprodução social. E, finalmente, nos perguntaremos: qual será o impacto internacional dessa crise?
Espectros de 2008
Enquanto a crise sanitária se desdobra rapidamente e sem solução à vista, a crise econômica se faz evidente dada a imediata recessão de quase todas as economias do mundo, o aumento extraordinário da dívida, o crescimento massivo do desemprego e a queda nas ações de empresas. Devido a suas características e dimensões, seria pouco fértil uma comparação muito detalhada desta crise com outras anteriores: não se trata de um problema de origem financeira como em 2008, nem tem a dinâmica da Grande Depressão de 1929. Em termos de pandemia, o contexto tampouco é o da chamada Gripe Espanhola de 1918. As Guerras Mundiais têm também algum paralelo em relação ao endividamento e à aceleração de alguns setores econômicos, ainda que as semelhanças se encerrem na brutal destruição de capital fixo (e, portanto, em processos únicos de reconstrução). O esforço para hibernar a produção e a circulação, ao mesmo tempo que mantendo alguns poucos setores em alta atividade (saúde, conectividade e outros serviços essenciais), é no mínimo singular.
No entanto, é importante não perder de vista o espectro de 2008: a resposta política até aqui foi diametralmente oposta à de então. Em 2008, contra muitas expectativas, a (não) saída da crise se fez sob a manutenção de uma narrativa e instrumentos neoliberais. Os enormes resgates das “imprescindíveis” instituições financeiras (com o consequente crescimento da dívida pública) seguiu um cenário internacional dominado por novos planos de austeridade (e restritos ao setor de saúde, entre outros), estagflação e um manejo neoliberal da dívida. O embate interpretativo, por sua parte, mostrou também uma impermeabilidade em mudar a narrativa neoliberal para dar conta da crise, resultando na “estranha não-morte do neoliberalismo”.
Uma primeira análise sobre as medidas adotadas nesta crise mostra a contrastante diferença: a “social-democrata” Dinamarca começou anunciando que cobriria 75% dos salários de empregados que de outro modo seriam despedidos. Na mesma semana, o Reino Unido anunciou uma medida similar: cobriria 80% dos salários. Os pacotes de resgate na OCDE variam entre 2 e 10% do PIB e são destinados a uma gama de empresas, trabalhadorxs e consumidorxs muito ampla. Em comparação, os resgates iniciais de 2008 rondaram entre o 0,7 e o 5% do PIB (ainda que tenham sido expandidos significativamente). O pacote inicial dos Estados Unidos foi de 700mil milhões, o atual de 2 bilhões é três vezes isso (e aproximadamente 10% do PIB). Boris Johnson anunciou recentemente que o auxílio de renda alcançará também aos trabalhadores autonômos (ainda em junho, ver abaixo).
Entretanto as medidas vão além das fiscais. Nenhum comentarista estranhou quando a China reverteu liberdades de mercado para obrigar a Foxconn a produzir respiradores. Entretanto, recentemente, a Espanha anunciou que nacionalizaria o sistema de saúde enquanto durasse a crise. Na Grã-Bretanha, Airbus, Dyson, Ford e Rolls-Royce concordaram em uma rápida reconversão para produzir 30 mil respiradores. Máscaras cirúrgicas são produzidas por grandes cadeias de roupa: na Itália, Armani e Prada, e na Espanha, Zara e Yves Saint Laurent. O governo de Trump anunciou que utilizaria uma legislação de períodos de guerra para prover insumos e forçar as automotivas a produzirem respiradores.
Queimar o livro de receitas
Ante nossos olhos vemos como se queima o livro de receitas neoliberal. Contudo cabe a pergunta, antes de “por quê?”: o que acontecerá após esta situação de exceção. E aqui cabe pouca margem de erro: não há “retorno à normalidade” no futuro imediato e muito provavelmente não há retorno às cegas à normalidade neoliberal. Sobre o primeiro, ainda quando se pode aventar uma rápida solução epidemiológica (em seis meses?), tanto a dimensão da recessão (de que se estimam quedas do PIB mundial entre 1 a 25%) como das dívidas públicas falam em uma crise que durará mais de um ou dois anos. Vale recordar, ademais, que a situação de vulnerabilidade sistêmica da economia mundial era um feito reconhecido já no fim de 2019: rentabilidade em declínio, dívida soberana em aumento e sinais de contração da produção manufatureira da China à Alemanha. O que pode esperar, por exemplo, a Itália depois da crise do Covid-19, cuja dívida já era de 140% do PIB em junho de 2019?
A suspensão quase total da atividade produtiva (o trabalho essencial de serviços e aquele que pode se realizar online é uma fração mínima) em boa parte das principais economias do mundo não é um evento menor. O virtual colapso das cadeias globais de produção (pela súbita suspensão da demanda, como por exemplo da indumentária, ou pelos estrangulamentos da oferta devido às súbitas reestruturações e até por restrições de exportação de alguns produtos críticos na crise) se expressa em aumentos brutais do desemprego e no estado crítico das cadeias internacionais de pagamento e crédito.
Esses elementos evocam a crise econômica como legado da pandemia e das medidas paliativas adotadas para a hibernação da produção e distribuição. Mas é necessário entender a crise em ainda outra dimensão: a da incapacidade de responder eficazmente à crise sanitária enquanto tal. É como no ditado: o diabo não está apenas no erro, mas na forma particular em que este se apresenta.
Contradição entre valor de uso e valor
O que nos conta o fato de que a Ferrari está produzindo respiradores, Gucci manufaturando máscaras e Christian Dior fabricando álcool em gel? Ou que a economia com maior PIB do mundo não seja capaz de prover máscaras de $0.75 suficientes a seus médicos?
De uma parte, ambos processos falam dos riscos geopolíticos da internacionalização da produção. Em um contexto de crise e diante de uma demanda global extraordinariamente maior, os principais países produtores de máscaras suspenderam suas exportações (China, Taiwan, Coreia do Sul). A China produz 80% das máscaras mundiais. E se essa tensão entre “commodity” e produto estratégico não é nova (o petróleo, por exemplo, navega faz tempo por essa tensão), aqui não está em jogo nenhum recurso natural único nem uma mercadoria particularmente complexa. Mas além disso: à diferença do petróleo, aqui não existiu plano nenhum de contingência. Pois nada impediu a estocagem de máscaras ou respiradores nos últimos anos. Nem sequer a imprevisibilidade: para citar um exemplo, depois da crise do SARS, os Estados Unidos criaram uma comissão para se preparar para uma próxima pandemia. Essa comissão sugeriu acumular 3500 milhões de máscaras e 70 mil respiradores. Das máscaras foram compradas apenas 104 milhões, utilizadas quase todas durante a gripe suína (H1N1) em 2009. Um corte de gastos bloqueou a reposição do mínimo estoque inicial. O estoque de respiradores por sua vez seguiu outro caminho para o fracasso: uma comissão licitou o desenho de um modelo novo e mais barato, logo adjudicado à Newport, uma pequena empresa japonesa baseada na Califórnia. Quando produzido um respirador de 3 mil dólares a unidade, a Covidien (uma das grandes produtoras de respiradores vendidos a $10 mil a unidade) comprou a Newport e cancelou o contrato com o Estado. Em julho de 2019 celebrou-se um novo contrato com a Phillips, mas a entrega de 10 mil unidades estava planejada apenas para meados de 2020.
Olhando para a infraestrutura, nos deparamos com a mesma imagem perversa. Mike Davis revela que os Estados Unidos têm 39% menos de camas de hospital que em 1981: a lógica de não ter camas ociosas levou a uma sistemática diminuição das camas, sob o critério de ocupar 90% do seu total todo o tempo. A análise de número de camas por habitantes publicada pela OMS é reveladora: a Coréia do Sul tem 4 vezes mais camas por habitante que os Estados Unidos, China e Cuba quase o dobro, e Líbano ou Albânia têm a mesma quantidade.
Em suma, o problema que se apresenta manifestadamente durante a crise a excede por muito. O que a falta dessas mercadorias põe em crise é produto da lógica mercantil. Ou seja, a contradição entre valor de uso/valor volta a se tornar aparente. Dito de outro modo: se os Estados Unidos não têm respiradores e máscaras suficientes, isso se deve a décadas de austeridade e a um sistema de saúde dominado pela lógica da ganância. A internacionalização da produção seguiu essa lógica e deixa (em parte por sorte) os países asiáticos em uma posição melhor ante esta crise.
Sendo uma contradição em aberto, as respostas que gera são temporárias. É irreal pensar, por exemplo, que o governo federal norte-americano forçará por muito mais tempo a Ford a fabricar respiradores. A intervenção estatal na produção e distribuição direta de valores de uso a que recorreram quase todos os Estados nesta crise é uma medida obviamente temporária. É também temporária a interrupção da lógica mercantil internacional (entre tantos exemplos, Estados Unidos interceptando carregamentos com máscaras da 3M com destino à Alemanha, ao Canadá ou a Barbados, ou tentando comprar acesso exclusivo a uma vacina, sustentando o bloqueio a Cuba ainda neste contexto, mas também a Turquia bloqueando a saída de respiradores para a Espanha ou a Alemanha fazendo o mesmo com máscaras destinadas à Itália). Mas a rachadura que esta crise provoca na lógica da acumulação (ao passo que, por exemplo, os cortes ao sistema de saúde se mostram estratégicos para um desempenho “normal” da mesma) supera a conjuntura atual. Abre um mundo do possível em um mundo que já estava em crise. Adds insult to injury, ou dito em nossa língua, esfrega sal na ferida.
Uma nova ordem mundial?
Qual é então a crise profunda que o Covid agrava? Pois vale arriscar a análise de duas dimensões possivelmente vinculadas: por um lado, a crise do neoliberalismo enquanto resposta articulada de dominação e acumulação de capital, e por outro, ao lugar dominante dos Estados Unidos no sistema internacional.
Comecemos pela ordem mundial: a crise torna patente a falta de coordenação internacional pela resposta epidemiológica – ainda mais devido à sua natureza. E também revela a clara impotência dos Estados Unidos em responder eficazmente à crise em seu próprio território. Ou seja, demonstra como a incapacidade de prover bens na quantidade e da natureza necessárias é resultado dos limites de seu desenvolvimento recente. De uma parte, a lógica mercantil acima mencionada, e de outra, a internacionalização da produção graças à qual boa parte dos valores de uso necessários nesta crise são produzidos na China. Assim, Nova York ilustra essa crise com histórias de hospitais abarrotados, enfermeiras que fazem trajes de proteção com sacos de lixo ou máscaras com roupas velhas e como o governo estatal compete com outros pela compra de respiradores.
De sua parte, a China (para além da controvérsia sobre as estatísticas de sua resposta ao Covid-19) utilizou sua posição para oferecer-se como essa garantia internacional: ofereceu respiradores, testes e máscaras à Itália, ao Irã e à boa parte da África e da América Latina.
Aqueles que chamaram atenção às profundas desigualdades com que será processada a crise, sinalizando, por exemplo, as privações ainda maiores dos sistemas de saúde da América Latina (Equador, por exemplo), África ou Oriente Médio, ou casos como da Faixa Gaza, têm razão em assinalar a existência de um “Terceiro Mundo” nesta crise. É importante não cair na arrogância ocidental de crer que o “Primeiro Mundo” se confirmará como os países da OCDE, pois, talvez à exceção da Alemanha, o cenário os localiza abaixo das respostas dadas pela China, Taiwan, Cingapura ou Coreia do Sul.
A conjuntura evidencia um processo já em curso: a perda da competitividade norte-americana frente à China e ao Sudeste Asiático. E comprovar isso não é entrar em território teórico do realismo (quem ainda espera uma mudança de hegemonia porque não vê o poderio militar chinês superar o dos Estados Unidos). Se o Covid-19 é o “momento Canal de Suez” norte-americano, o é como conjuntura que comprova os problemas estruturais de competitividade já de longa data. A dinâmica de acumulação seguramente prevalecerá a outros elementos – seria de se esperar que em algum momento o dólar norte-americano deixe de operar solidamente como dinheiro internacional. Em suma, é de se esperar que o declínio norte-americano não mais se faça esperar.
Agora, voltando à primeira parte desta hipótese: considerando-se que o neoliberalismo como sistema de dominação e acumulação dominante está em crise, o que pode se prefigurar como seu substituto? Se olharmos tão somente para o elemento da competitividade, poderíamos estar às portas de uma reestruturação capitalista pelo modelo “asiático” (que alguns analistas orientalistas chamam de “autoritário”, como se o ocidente precisasse de um guia para sê-lo). Mas aqui convém não confundir hegemonia internacional com acumulação, nem esta com dominação. O exercício é bem mais de tentar ler na conjuntura atual os elementos que serão mais relevantes para sobredeterminar um novo equilíbrio.
Controle Digital
Navegando por esse exercício tão arriscado quanto necessário, comecemos analisando a velocidade com que se expandiu o controle digital, para logo avaliar as novas resistências que se prefiguram.
A crise pandêmica legitimou o uso de tecnologias de controle e vigilância a uma velocidade única. Muitas dessas tecnologias há poucas semanas eram utilizadas apenas na “luta contra o terrorismo”, ou seja, eram dirigidas a grupos específicos (grupos políticos ou raciais) e não contra todxs xs cidadxs, varrendo rapidamente as sempre débeis barreiras legais que protegem a privacidade. Em Moscou, por exemplo, o cumprimento da quarentena será verificado com o uso do reconhecimento facial nas câmeras, mas também com um app para o celular que registrará os movimentos e um código QR que deverá ser apresentado à polícia para circular. Aqueles que não têm celular, receberão um emprestado. Israel utilizará dados de localização de celulares para rastrear casos de Coronavírus e avisar quem tenha estado em contato com a pessoa infectada (enviando uma mensagem de texto indicando-lhes que devem se isolar até uma data em particular). Esse sistema utiliza dados que a agência de inteligência Shin Bet já possuía e tecnologia criada para lutar contra o terrorismo. A Itália utiliza drones equipados com sensores de calor para medir a temperatura dxs transeuntes e é capaz de anunciar instruções como “Está em uma área proibida. Saia de imediato.” E pode utilizar reconhecimento facial para logo impor sanções administrativas e penais. A polícia local recebeu novos poderes que permitem controlar a temperatura das pessoas sem seu conhecimento ou consentimento.
O Irã tentou um método mais óbvio, pedindo aos usuários que instalem um aplicativo que prometeu ajudar a diagnosticar os sintomas do coronavírus. Secretamente esse filtrava os dados pessoais do usuário em tempo real. A Coreia do Sul também implementou um app de uso obrigatório para infectados. Na China, em alguns pontos, um código QR verifica seu risco de infecção e permite acessar ou não certos edifícios. A Google tornou público seus relatórios de mobilidade que mostram não apenas a granularidade de dados dos quais dispõem como também sua capacidade de análise dos mesmos: nos informes é mostrado o declínio no uso de parques, transporte, lugares de trabalho a partir da geolocalização dos telefones Android. Os exemplos de aplicativos de localização se multiplicam: Taiwan, Cingapura, Coreia do Sul. Alemanha e Reino Unido exploram a ideia de um “passaporte de imunizados”, que além de sua efetividade, abriria horríficas distinções entre a capacidade de circular entre distintxs cidadxs.
A esse repertório de soma a intensificação de medidas repressivas clássicas. O Peru eximiu de responsabilidade penal as forças de segurança em suas patrulhas pela emergência do Covid, o Quênia autorizou disparar naqueles que romperem com a quarentena e a polícia matou um menino de 13 anos. As brutalidades policiais no Equador, Paraguai, Chile ou Argentina neste contexto são também a norma. A polícia de Londres (Met) anunciou a compra de veículos de guerra.
Se essas condutas se apresentam como temporárias, seus legados não o são. Primeiro, pela demonstração de força de (alguns!) Estados e empresas em mostrar que essas tecnologias não só potencialmente existem como são capazes (em todo o sentido) de serem utilizadas em determinados contextos. Segundo, porque esses experimentos massivos serão por sua vez um caminho de aprendizagem para aperfeiçoá-las. Esses são os legados que não passam batido. A liberdade de movimento será restaurada o quanto antes se puder e não é ela que corre risco, apesar dos lamentos liberais de Giorgio Agamben ou Paul Preciado.
Resistências
Tanto quanto a crise serve para revelar o poder de controle e vigilância dos Estados, também evidencia o poder estrutural de alguns setores. Na lista de exceções de setores “indispensáveis” há um inesperado cálculo de que a produção depende de setores dos quais não se pode tolerar um dia de greve. Como um tipo de Plano Ridley, esses balanços apresentam padrões inesperados: a vulnerabilidade de cadeias de valor devido à sua extrema confiança na produção Just in Time (responsável pela grande crise de papel higiênico entre outros fenômenos), e a incrível precariedade do emprego em sobre a qual se sustentam esses serviços essenciais. Verifica-se, por exemplo, que no Reino Unido a decisão de pagar a renda mínima axs trabalhadorxs autônomxs só a partir de junho e não agora mesmo considera a necessidade de que sigam trabalhando: xs repartidorxs, serviço de delivery, Uber, etc.
E enquanto os mesmos que até ontem cortavam sem pudor orçamentos da saúde hoje convocam a aplaudir semanalmente xs mesmxs médicxs e enfermeirxs (ao passo que não provêm os materiais fundamentais para seu trabalho seguro, o equipamento de proteção individual ou EPI), até eles sabem que os sistemas de saúde terão outro posicionamento em futuras negociações. Ou xs trabalhadorxs da Amazon elevados a “nova Cruz Vermelha” que têm realizado greves nos Estados Unidos, França e Itália.
Se a posição estrutural da produção se tornou subitamente exposta aos olhos de todxs, é também necessário colocar na balança a enorme debilidade que o poder no mercado de trabalho significará para essas lutas. Cifras de desemprego superiores aos 15% são particularmente alarmantes, e serão uma pressão muito importante especialmente nesses setores de menor qualificação.
Conclusões
Buscar culpar o capitalismo pela origem do vírus, enfatizando-se a arriscada “governança” do meio ambiente e os perigos que tanto a indústria da alimentação como a agricultura sob o mando da ganância nos trazem, é um exercício nobre, porém desnecessário. Para responder ao racismo que acusa a China por suas práticas culturais basta nominá-lo como tal. Como disse Gerard Roche:
“(…) quando as imagens de comer morcegos circulavam na rede, evocavam representações preexistentes de chineses e asiáticos no geral. Isso permitiu aos comentaristas sentirem-se seguros ao afirmar que compreendem a etiologia do vírus. (…) Como pode tanta gente incapaz de encontrar Wuhan em um mapa e completamente desqualificada para fazer qualquer afirmação sobre a origem da propagação de um vírus sentir-se tão segura para tomar tais juízos?
O verdadeiro ponto fulcral está em evidenciar o modo pelo qual o Covid-19 se articula em uma estrutura social: sua desigualdade brutal, estrutural, social e econômica, sua insensível indiferença e sofrimento.
As grandes crises e as pandemias sempre colocam em crise o mundo existente. Acarretam enormes perdas humanas e nos obrigam a resgatar algumas lições em meio ao naufrágio. Proponho-nos três: nos mantermos em alerta ante uma crise que pode articular uma saída autoritária, o crescimento da xenofobia e racismo que alimenta falsas saídas e finalmente a radiografia dos pontos vulneráveis do capital – até ontem não tão à vista. E aferrar-se a esta última pode nos ajudar a lutar para acionar, como dizia Benjamin, “o freio de emergência da humanidade”.
*Juan Grigera é professor de economia política no King’s College London.
Tradução: Giulia Falcone
Publicado na Revista Intersecciones: Teoría y Crítica Social, em 13 de abril de 2020.