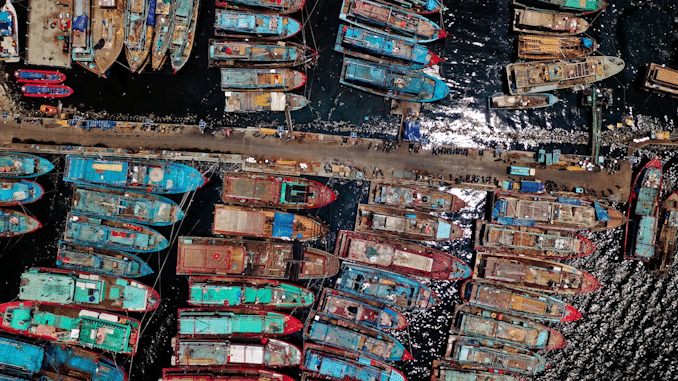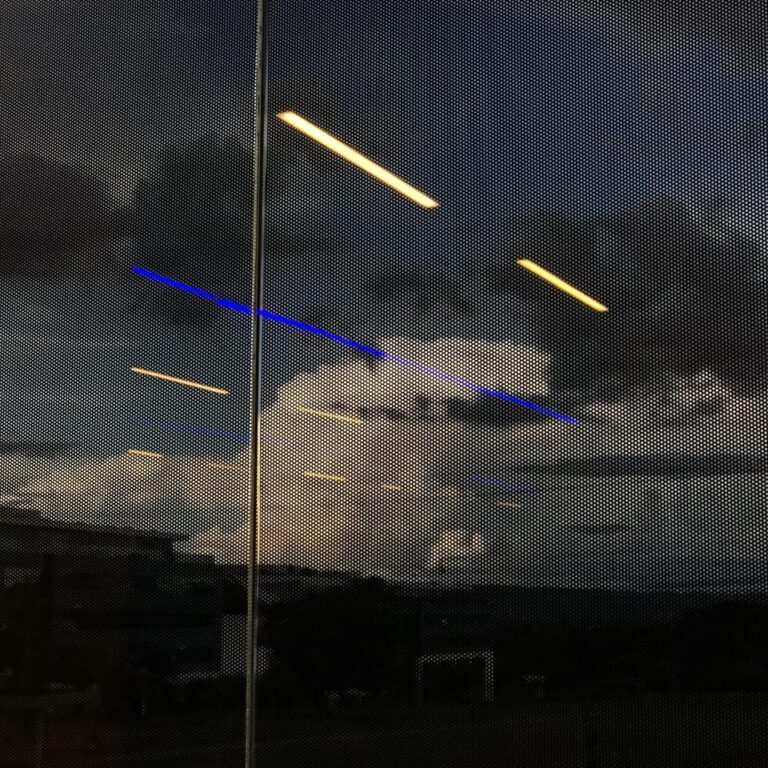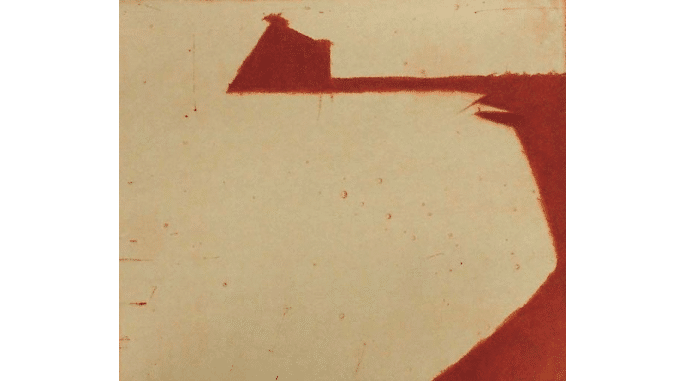Por JOSÉ RICARDO FIGUEIREDO*
Numa discussão sobre feudalismo, capitalismo, ou qualquer outro termo, é evidente a necessidade de esclarecer o sentido em que o termo é usado
Com o artigo “A colonização das Américas em debate”, publicado no site A Terra é Redonda, Mário Maestri teve a iniciativa de retomar o debate sobre a natureza dos modos de produção na história americana, incluindo a brasileira, tema central para a compreensão da formação histórica de nossos países, segundo a visão marxista. Mário Maestri contrapõe-se à concepção, tradicional até os anos 1960 e 1970, de ter havido feudalismo em nossa história, que estaria ainda presente no latifúndio brasileiro.
Também se contrapõe à corrente que define nosso passado como capitalista desde a colonização. Defende a tese de Ciro Flamarion Santana Cardoso e Jacob Gorender, de que a colonização se deu sob o escravismo colonial, um modo de produção distinto do escravismo antigo, e que transitaria diretamente para o capitalismo.
Publiquei uma réplica, também no site A Terra é Redonda, sob o título “A formação histórica do Brasil em debate”, concordando com as críticas à tese da colonização capitalista, mas defendendo a tese tradicional e criticando a duplicação do modo escravista. Mário Maestri escreveu uma tréplica, denominada “Em busca de um Brasil feudal perdido”, criticando minha “tese feudal” e reafirmando os aspectos políticos que enxerga na discussão.
Na presente resposta, as questões políticas e de história política serão deixadas para o fim. O prioritário, no debate, é a questão dos modos de produção em nossa história, tornando necessário atentar para o conceito de modo de produção.
Antes disso, uma questão de terminologia. A designação “tese feudal” é compreensível, porque a grande questão política que se colocava em torno dos anos 1950 e 1960 era a abolição dos traços feudais do latifúndio brasileiro através da reforma agrária. Mas é uma expressão enganosa na discussão histórica, porque os marxistas brasileiros reconheciam ter havido aqui comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo. Por isto, adoto a designação “tese ortodoxa”, no sentido de tese tradicional, mas também no sentido literal de tese coerente com o pensamento marxista.
Conceito de modos de produção
Numa discussão sobre feudalismo, capitalismo, ou qualquer outro termo, é evidente a necessidade de esclarecer o sentido em que o termo é usado. Em particular, o conceito de feudalismo enquanto modo de produção, conforme Marx, é distinto do conceito de feudalismo para a historiografia tradicional. São conceitos correlacionados, pois ambos têm como referência típica o período medieval europeu, mas diferenciam-se pelos aspectos que seus formuladores consideram definidores.
Uma definição abrangente do conceito de modo de produção pode ser inferida deste trecho do Prefácio da Contribuição à crítica da economia política: “Na produção social de sua existência, os homens estabelecem determinadas relações, necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado estágio evolutivo das forças produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se alça um edifício jurídico e político, e à qual correspondem determinadas formas de consciência social”.
Poucas linhas depois, Marx define, “a grandes traços”, “os regimes asiático, antigo, feudal e burguês moderno” como “épocas progressivas” do desenvolvimento humano, estabelecendo uma tipologia dos modos de produção dominantes nas grandes civilizações, na ordem cronológica da história do Velho Mundo.
Em O Capital,surge outra formulação, que mantém a relação entre as relações sociais e o desenvolvimento técnico do trabalho, mas é muito mais específica: “A forma econômica específica em que se suga mais-trabalho não pago dos produtores diretos determina a relação de dominação e servidão, tal como esta surge diretamente da própria produção e, por sua vez, retroage de forma determinante sobre ela (…) É sempre na relação direta dos proprietários das condições de produção com os produtores diretos – relação da qual cada forma sempre corresponde naturalmente a determinada fase de desenvolvimento dos métodos de trabalho, e portanto a sua força produtiva social – que encontramos o segredo mais íntimo, o fundamento oculto de toda construção social e, por conseguinte, da forma política das relações de soberania e de dependência, em suma, de cada forma específica de estado. Isso não impede que a mesma base econômica – a mesma quanto às condições principais – possa, devido a inúmeras circunstâncias empíricas distintas, condições naturais, relações raciais, exibir infinitas variações e graduações em sua manifestação”.
Está aí expressa a centralidade das relações de classe para qualquer sociedade e, portanto, para a caracterização de todo modo de produção.
Na análise de cada sociedade, deve-se conhecer, tanto quanto possível, a totalidade das relações de produção, como referido na formulação do Prefácio da Contribuição, atentando para a centralidade das relações de classe, conforme a formulação de O Capital. Entretanto, para caracterização do modo de produção de uma sociedade, considerar a totalidade das relações de produção geraria uma multiplicidade indefinida de modos de produção, como sugere o final deste último parágrafo citado. Só uma formulação específica, como a de O Capital, circunscrita às relações de classe fundamentais, permite estabelecer critérios para generalização de conceitos como escravismo, feudalismo, capitalismo etc.
O conceito de capitalismo enquanto modo de produção distingue-se do conceito coloquial, que o associa à presença de capital, isto é, riqueza empregada para gerar mais riqueza. O capital comercial e o capital usurário existiram desde a antiguidade, atravessando distintos modos de produção. O capitalismo, ou modo de produção capitalista, se define quando as relações mercantis dominam a produção: o possuidor da força de trabalho a vende de forma livre no mercado, sem sujeição a dominação extra-econômica.
Marx observa que a própria influência da atividade mercantil na sociedade depende de seu modo de produção, citando exemplos da antiguidade, em que o desenvolvimento mercantil aprimorou o artesanato em certos locais, mas não em outros. O conceito circulacionista de capitalismo, essencialmente o conceito coloquial, se alimenta do fato de que o grande desenvolvimento mercantil do período moderno fecundou o surgimento do capitalismo na Europa. Mas este mesmo desenvolvimento mercantil promoveu o rejuvenescimento do escravismo, abrindo-lhe as terras da América.
Do conceito de modo de produção deriva a primeira objeção a ser feita à teorização de Jacob Gorender, para quem “a escravidão dá lugar não a um único, mas a dois modos de produção diferenciados: o escravismo patriarcal, caracterizado por uma economia predominantemente natural, e o escravismo colonial, que se orienta no sentido da produção de bens comercializáveis” (O escravismo colonial, Ática, p.60). Apesar de Jacob Gorender criticar o circulacionismo, seu “modo de produção escravista colonial” é definido pela esfera da circulação! A proposição de Mário Maestri é algo distinta, mas não foge à mesma regra: “A grande diferença entre o escravismo pequeno-mercantil, romano, e o escravismo colonial, americano, deveu-se à extrapolação da orientação mercantil do último”.
Outra objeção cabe ao adjetivo “colonial”, que não se refere nem à produção nem à circulação, mas ao status político.
No próprio O capital, Marx descreve e elabora sobre a natureza das relações diretas entre os proprietários dos meios de produção e os produtores diretos, não só sob o capitalismo, mas também sob relações pré-capitalistas, para estabelecer comparações com o capitalismo. Em meu artigo anterior, tomei como base estas descrições e elaborações de Marx. Acho que não fui compreendido, a julgar por esta crítica de Mário Maestri: “Para o defensor de um passado brasileiro feudal, não haveria diferença entre a escravidão romana e a colonial, sendo a segunda um renascimento da primeira, mil anos após crise como forma de produção dominante”.
Eu não escrevi nada disso. Até porque a escravidão no Brasil não foi um renascimento da escravidão romana, mas fruto de uma continuidade bem conhecida. No período medieval, a escravidão negra era praticada entre os árabes. Portugal nasceu feudal, mas admitia a escravidão de mouros derrotados. Portugal mercantil associou-se ao comércio escravista na África negra, e ocupou economicamente os Açores com a escravidão para produção de açúcar. De lá trouxe a escravidão e o açúcar para o Brasil.
Além disso, a escravidão romana não era igual à escravidão colonial (e imperial). Por exemplo, o escravo romano não era necessariamente negro. Mas a escravidão patriarcal romana também não era igual à escravidão romana nas minas de ouro, ou nas galés, nem quaisquer destas eram iguais à escravidão dos gladiadores. Da mesma forma, no Brasil, a escravidão nos canaviais, nos engenhos, nas minas de ouro, a escravidão doméstica e a dos escravos de ganho urbanos, todas diferiam em certas características.
Mas, de comum entre todas estas variações, existia a escravidão, a relação social em que o trabalhador é visto e tratado como objeto, comprado e vendido. No artigo anterior lembrei parágrafos em que Marx menciona esta característica, apontando que em Roma, a reificação do escravo era explícita na sua designação como instrumentum vocale, assim como uma enxada era instrumentum mutum e um boi, instrumentum semivocale.
Na seqüência, Marx cita depoimentos referentes aos estados do sul dos Estados Unidos, em que encontra a reação do escravo a esta sua reificação no tratamento rude que ele dispensa aos instrumentos e aos animais. Marx, e não eu, viu a mesma relação social na escravidão romana e na escravidão “colonial” norte-americana. Eu a vi no Brasil: refletem esta reificação, como sua própria idéia, todos os autores contemporâneos da escravidão no Brasil que estudei em Modos de ver a produção do Brasil: Gandavo, Fernão Cardim, Antonil e Varnhagen; outros exemplos enchem mais quatro páginas do livro.
Sobre a questão do feudalismo, indaga-me Mário Maestri: “Que formas de relações semi-servis como o cambão, a meação, a parceria etc. ‘seriam escravistas para Jacob Gorender’ é uma proposta totalmente nova. Ficamos, portanto, esperando que Figueiredo cite onde e quando o marxista baiano fez semelhante afirmação desatinada”.
Antes de responder à justa cobrança, uma observação: ao falar em “relações semi-servis”, Mário Maestri semi-reconhece a justeza da tese ortodoxa. Jacob Gorender não usa a expressão “servil”, nem com prefixo “semi”.
Em sua análise sobre as formas de renda pré-capitalista da terra, Marx aponta a necessidade absoluta de violência para fixação do escravo, enquanto no feudalismo a coerção física passa a ser substituída, em parte, pela coerção ideológica. Destaca, ainda, que há um ganho de autonomia do servo quando se passava da renda em trabalho para renda em produto, e desta para renda em dinheiro.
Meação, terça e quarta são formas de parceria, no sentido de partição dos produtos do trabalho camponês com o latifundiário, e o cambão é partição de trabalho, como era a corvéia européia. No Brasil coronelista, estas relações econômicas estavam ligadas a relações de dependência ao latifundiário, chefe político e policial local, com suporte ideológico da Igreja. Focando nestas relações fundamentais entre as classes, tratava-se no Brasil de relações servis ou feudais, sem necessidade do prefixo semi.
Qual o sentido deste prefixo? Ele se coloca quando se aponta uma diferenciação entre o latifúndio brasileiro e o feudo. E as há. A propriedade compartilhada da terra pelo senhor e o camponês, que caracterizava o anfiteatro enfitêutico europeu, não existia formalmente no latifúndio brasileiro, embora as relações de partição do produto exijam a partição, na prática, da terra a ser trabalhada por cada família camponesa. A figura do servo da gleba não existiu aqui, mas também não foi a única forma de servidão na Europa. O prefixo faz sentido quando se adota definição de feudalismo distinta daquela centrada nas relações fundamentais de classe, seja associada à visão historiográfica ou a de algum sociólogo.
Isso é explicitado, por exemplo, por Raymundo Faoro em Os donos do poder, negando nosso feudalismo com base em Max Weber. E estava implícito num dos argumentos no debate dos anos 1960, o de que “feudalismo não se resume à servidão”. Em termos das relações de classe fundamentais, resume-se, sim. É usual reconhecer-se que as relações de produção entre o proprietário de meios de produção e o trabalhador têm relevância central do ponto de vista da análise política. É paradoxal que, num debate que questionava politicamente a tese ortodoxa, tenham se levantado objeções adotando definições de feudalismo distintas desta, cuja relevância política é evidente.
Outro uso do prefixo “semi” reflete a presença da crítica circulacionista à tese ortodoxa. Reconhecia-se a natureza servil da relação de trabalho, mas se reconhecia também a destinação comercial do produto, enquanto no mundo medieval o feudo seria unidade de produção autônoma, isolada. Nessa versão, nossa fazenda seria “feudal da porteira para dentro, capitalista da porteira para fora”.
Ora, o camponês europeu medieval usava arados e enxadas de ferro, que só era obtido em certos lugares; os instrumentos, ou pelo menos o ferro, deviam ser comprado de fora do feudo, que precisava produzir algo em troca. As cidades medievais precisavam de alimentos, que deviam comprar dos feudos a sua volta. Também no Brasil, os latifúndios eram auto-suficientes em muitas coisas; um deputado fazendeiro da Primeira República orgulhava-se de que em sua fazenda só entrava ferro, sal, chumbo e pólvora.
Mas Mário Maestri me cobra, com razão, onde Jacob Gorender teria afirmado que as relações como “o cambão, a meação, a parceria etc.” seriam escravistas. Eu devia ter escrito que tais relações são enquadradas por Jacob Gorender no escravismo colonial.
Uma técnica recorrente desse autor, ao tratar de relações sociais em que tradicionalmente se apontava feudalismo, é dar-lhe um nome que a enquadre no escravismo como, por exemplo, as “formas incompletas da escravidão”.
Depois da guerra dos Tamoios, a Coroa portuguesa preocupou-se em coibir a escravização dos índios para evitar outra rebelião. Uma medida foi estimular a escravidão de africanos, outra foi confiar a proteção dos índios aos jesuítas, seja controlando a relação dos colonos com os índios, seja administrando diretamente parte deles. A atuação jesuíta gerou conflitos, particularmente em São Paulo e Maranhão, no século XVII. Na Amazônia, várias ordens religiosas instituíram aldeamentos que atraíram inúmeras tribos, e que frutificaram economicamente, fornecendo aos portugueses especiarias que substituíram as que importavam do Oriente.
Aldeamentos jesuítas formados no Paraguai, estabelecidos na região do rio Paraná, foram vítimas de ataques dos paulistas para seqüestro dos seus índios, obrigando-os a se deslocarem para o Sul. Os ataques cessaram após a batalha de Mbororé, na década de 1640, quando os jesuítas haviam obtido direito a armar seus índios, inclusive com canhões. Implantaram nos pampas aldeias autosuficientes em agricultura e artesanato, com preservação da propriedade comum da terra, ponto de atrito ideológico com as Coroas portuguesa e espanhola. Os atritos culminaram com a expulsão dos jesuítas por Pombal e a destruição militar das reduções sulinas pelas duas coroas, em meados do século XVIII, no contexto da fixação das fronteiras entre as colônias de Portugal e Espanha.
Jacob Gorender assim sintetiza o tratamento dado aos índios: “(…) a escravidão dos índios (…) oscilou entre a forma completa e variadas formas incompletas, resultantes de restrições à legitimação jurídica da propriedade servil, de obstáculos com relação à alienabilidade e à transmissão por herança, de regimes de trabalho compulsório com pagamento de salário, etc.” (id.ibid. p.486)
Ora, a inalienabilidade do trabalhador, a impossibilidade de sua transmissão por venda ou herança, retira o caráter de propriedade absoluta do trabalhador pelo senhor, que caracteriza a escravidão. O pagamento de salário também evidencia relações não escravistas. Mas também não se trata de capitalismo: o salário não era monetário, mas constituído de uma peça de roupa por seis meses de trabalho, após os quais o índio voltava à aldeia.
Jacob Gorender havia citado Friedrich Engels sobre feudalismo, dizendo que “A servidão dos princípios da Idade Média (…) ainda continha muito de escravidão” (id.ibid. p.81). Mas não se lembrou disso quando viu pela frente o fenômeno da renda em trabalho, a forma mais atrasada de renda da terra.
Nem mesmo a adesão voluntária dos indígenas aos catequistas em todo o país, mas particularmente nas missões Rioplatenses, muda a concepção de Gorender: as reduções jesuíticas “encobriam uma estrutura econômica de finalidade mercantil, baseada numa forma de escravidão incompleta”.(id.ibid. p.486). Observe-se, também, o circulacionismo reiterado.
Uma forma mais original de enquadramento de relações feudais no escravismo foi aplicada ao sistema de quarta na pecuária nordestina, pelo qual o vaqueiro recebia a quarta cria de cada rês.
Esse sistema, caracteristicamente de renda em produto, modelou a penetração da pecuária ao longo das margens dos rios do sertão nordestino. Alguns vaqueiros conseguiam, depois de algum tempo, acumular cabeças de gado suficientes para iniciar sua própria criação, mais para o sertão. A atividade pecuária atraiu indígenas, assim como a escravidão dos canaviais os repugnava. Segundo Capistrano de Abreu, o biótipo cabeça-chata do sertanejo deve ter vindo dos cariris, o único grupo indígena não tupi significativamente incorporado à constituição genética do povo brasileiro. Esse sistema de quarta sobreviveu por muito tempo; lembro-me de uma reportagem da rede Globo mostrando-o ao vivo nos anos 1980; suponho que ainda exista.
Euclides da Cunha comenta em Os Sertões que o proprietário é frequentemente absenteísta: ele pode confiar na fidelidade de seus vaqueiros. Euclides da Cunha também observa que, se uma rês perdida de outro rebanho aparece em suas terras, o vaqueiro cuida dela como sua, e a devolve quando reclamada, com suas crias, reservando para si a quarta cria: vê-se o que o sistema de quarta ultrapassou a relação de trabalho, tornou-se regra moral. A região sertaneja do Nordeste é provavelmente aquela do Brasil em que mais se conservaram tradições folclóricas medievais; seria coincidência?
Sobre este sistema, diz Jacob Gorender: “Nas Formen, refere-se Marx a um contrato de meação de gado que, por efeito da falta de capital, se celebrava ainda frequentemente no Sul da França, chamando-se Bail de Bestes à Cheptel. O sistema brasileiro de quarta representava contrato análogo de parceria, uma relação pré-capitalista e não mais que isso, pois, por ela mesma, não caracteriza o tipo social específico. Caracteriza-se tão-somente uma situação pré-capitalista, passível de enquadramento em diferentes modos de produção. No caso do Brasil, enquadrou-se no modo de produção escravista colonial e sobreviveu a ele.” (id.ibid. p. 424)
Ora, o sistema de quarta não é um sistema pré-capitalista genérico, “passível de enquadramento” em qualquer modo de produção, igual a um coringa em jogos de baralho que é passível de enquadramento como carta de qualquer valor. É um sistema pré-capitalista específico, cuja natureza feudal é confirmada por sua sobrevivência ainda no século XIX na França, país de passado feudal, em condições de ausência de dinheiro.
Jacob Gorender recitara, sem crítica, a formulação de Poulantzas, popularizada por Marta Harnecker em Os conceitos elementares do materialismo histórico, de que “As formações sociais podem conter um único modo de produção” ou “vários modos de produção, dos quais o dominante determinará o caráter geral da formação social”. (id.ibid. p.25). Mas, como usual, esquece-se do que dissera, e inventa o tal modo de produção coringa.
Para quem emprega os conceitos de formação social e de modo de produção, a pecuária nordestina representava um modo de produção feudal subordinado ao escravismo dominante no Brasil durante a Colônia e a maior parte do Império. Já no âmbito da região sertaneja, o modo de produção dominante era feudal, mas havia escravismo secundariamente: os relatos da ocupação do Piauí por Domingos Afonso Mafrense, partindo da Bahia, falam em pecuária escravista; posteriormente, fazendeiros enriquecidos na região adquiriam escravos negros para trabalhos domésticos, no retorno da venda do gado às cidades.
A universalidade da formulação marxista dos modos de produção
A justificativa da existência de um modo de produção escravista colonial passa pelo questionamento da universalidade da evolução das sociedades na seqüência comunismo primitivo, escravidão, feudalismo, capitalismo. Esta seqüência é sugerida no Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, e foi formulada expressamente por Engels, seguido por Lênin, Stalin e muitos. Mário Maestri enfatiza que Marx não endossava tal visão: “Karl Marx jamais universalizou a linha evolutiva da Europa Ocidental, como declarou em forma explícita em suas cartas ao ‘diretor dos Otiechestviennie Zapinki, e, 1877 e à Vera Zassulich, em 1881. Nelas, declarou ‘taxativamente’ ‘não atribuir caráter universal à linha de evolução da Europa ocidental’ que propusera (…) Marx se referira, igualmente, a um ‘modo de produção asiático’, desconhecido pela Europa (…) Tema que não desenvolveu por se encontrar fora de seu espaço de preocupação – a gênese do capitalismo e sua superação.”
Sem dúvida, a gênese do capitalismo e sua superação eram temas centrais para o comunista, mas seu “espaço de preocupação” era muito mais abrangente. Marx, como Engels, esforçou-se em adquirir uma compreensão do desenvolvimento histórico universal. E, embora incompletamente, Marx desenvolveu o tema do modo de produção asiático.
A frase de Mário Maestri se detém na negação do esquema engelsiano, sem reconhecer que Marx propôs outro esquema. Este aparece no Prólogo da Contribuição à crítica da economia política, quando enumera, “a grandes traços”, os regimes “asiático, antigo, feudal e burguês moderno” como épocas progressivas do desenvolvimento humano, fornecendo uma tipologia dos modos de produção das grandes civilizações, na ordem cronológica da história do Velho Mundo.
Em O capital, ao tratar da renda pré-capitalista da terra, Marx apresenta renda em trabalho, em produto e em dinheiro como formas de apropriação do trabalho do camponês pelo latifundiário, no modo feudal, e, simetricamente, apresenta os mesmos tipos de renda também como formas de apropriação do trabalho da aldeia pelos estados orientais. Na discussão das formas de trabalho por cooperação simples, Marx menciona a construção de obras monumentais em estados orientais. Menciona, noutro lugar, a simplicidade da estrutura social de uma aldeia tradicional na Índia.
A apresentação mais desenvolvida e mais unificadora do conceito de modo de produção asiático aparece num rascunho ou esboço, publicado postumamente sob o título Formações econômicas pré-capitalistas (citado por Jacob Gorender pelo nome abreviado Formen). Ali, Marx observa três possíveis evoluções a partir do comunismo primitivo, em direção ao escravismo, ao feudalismo ou ao modo asiático. Portanto, desaparece qualquer idéia de uma evolução social única para todas as sociedades.
O modo de produção asiático corresponde a sociedades de classes, que desconhecem a propriedade da terra, mantém a estrutura de aldeias autosuficientes, e em que freqüentemente o Estado exerce um papel produtivo, tipicamente como organizador de sistemas de irrigação. O modo asiático é o único cujo estabelecimento não se baseia necessariamente em violência, como o escravismo e o feudalismo. Marx identifica neste tipo também os celtas na Europa ocidental e os incas nos Andes. Esta avaliação é estendida a outras civilizações pré-colombianas por Roger Bartra em Tributo e posse na sociedade asteca. (in P. Gebran, Conceito de modo de produção, Rio de janeiro: Paz e Terra, 1978).
Vê-se que o modo “asiático” não foi desconhecido pela Europa, nem pela América. Com isso, o termo “asiático” se mostra duplamente inadequado, primeiro por ser um termo geográfico, não ligado à produção, segundo por ser geograficamente errôneo. Foi sugerido, posteriormente, o termo “tributário”. Mais importante: a seqüência de regimes de produção progressivos citada no Prefácio da Contribuição: asiático, antigo, feudal e burguês moderno, que segue a cronologia das grandes civilizações no Velho Mundo, inclui também as civilizações pré-colombianas do Novo Mundo. Portanto, Marx apresenta uma formulação verdadeiramente universal.
Formações parece ser uma re-elaboração de outro texto também não publicado em vida, em A Ideologia Alemã, de Marx e Engels. Em ambos os textos a discussão sobre as sociedades pré-capitalistas é estruturada em torno de três formas de propriedade: propriedade tribal, propriedade comunitária ou do estado e propriedade feudal, correspondentes ao comunismo primitivo, escravismo e feudalismo. No Formações, a propriedade tribal é estendida aos Estados orientais. Essa elaboração e re-elaboração do desenvolvimento humano geral bem mostram a amplitude das preocupações de Marx. Preocupação também de Engels, que encontrou em Morgan sua referência sobre o comunismo primitivo.
Aliás, preocupação que ia ainda mais longe. Engels se baseou em Darwin para escrever O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Marx se ofereceu para redigir um prefácio para A Origem das Espécies, de Darwin, que o recusou (compreensivelmente: já tinha problemas demais com sua própria teoria).
Além dos modos citados no Prólogo da Contribuição, outros termos relativos a modos de produção aparecem na literatura marxista. Podem ser sinônimos, como forma germânica, que aparece em A Ideologia Alemã correspondendo a forma feudal em Formações. Podem ser etapas ou formas específicas dos modos de produção dominantes. Podem ser modos não dominantes, pelo menos no âmbito de grandes civilizações, como modo patriarcal, modos de artesãos independentes ou de camponeses independentes.
Para ressaltar a indefinida multiplicidade de modos de produção, Mário Maestri cita, no primeiro artigo, os modos doméstico, tributário e de linhagens conhecidos na África. Supus que os modos doméstico e de linhagens poderiam ser variações do comunismo primitivo, e notei que modo tributário era sinônimo de modo asiático.
Pela resposta de Mário Maestri, o termo linhagem parece referir-se a estrutura familiar. Sobre o modo doméstico, contra-argumenta: “Não podemos, definitivamente, aproximar a produção doméstica aldeã africana, sustentada por uma horticultura e agricultura servindo-se de ferramentas de ferro, ao comunismo primitivo de Marx e Engels”.
Porque não? Engels acompanha o etnólogo norte-americano Lewis Morgan, que divide o período anterior às grandes civilizações em selvageria e barbárie, que correspondem na terminologia atual aos estágios paleolítico e neolítico. O primeiro estágio é marcado pela apropriação direta dos frutos da natureza, mas o segundo estágio se caracteriza pela produção planejada das condições de vida futura através da agricultura e da pecuária.
As sociedades anteriores às grandes civilizações não conheciam o ferro. Entretanto, uma vez que o ferro foi produzido, ele pode ser comercializado para quaisquer sociedades. Por exemplo: com a chegada dos navegadores portugueses e franceses, antes da colonização propriamente dita, os tupis conheceram instrumentos de ferro, que trocavam por pau-brasil. Com este comércio, seu modo de produção, no sentido técnico, alterou-se um pouco: não precisavam mais lascar ou polir pedras, as novas ferramentas eram muito melhores, precisavam agora cortar e carregar o ibirapitanga. As relações sociais na aldeia não se modificaram de forma imediata. Com o uso do ferro, os tupis teriam abandonado seu modo de produção comunista primitivo?
A institucionalidade das capitanias hereditárias
Mencionei em meu primeiro artigo que a negação da presença de relações feudais no Brasil ocorrera, não apenas na literatura marxista, mas também na historiografia clássica, que até os anos 1960 denominava feudal a organização política das capitanias hereditárias.
Esclareci: “De fato, as capitanias reproduziam, formalmente, o anfiteatro enfitêutico característico da propriedade territorial feudal européia, em que a propriedade da terra era tripartida entre o rei, o nobre e o camponês. O rei concedia feudos a um nobre em troca de parcela dos produtos da terra e de compromissos políticos e militares, e o nobre concedia glebas a camponeses em troca de parcela de seu trabalho ou de seus produtos. Na colonização brasileira, o rei concedia capitanias hereditárias aos capitães governadores, a maioria em retribuição a feitos militares, sob compromissos econômicos e políticos, e os capitães concediam sesmarias a quem demonstrasse capacidade de fazê-las produzir, o que demandava patrimônio suficiente para adquirir escravos e construir as benfeitorias necessárias.”
Mário Maestri reproduz este parágrafo para acusar-me como quem “aceita – ou não estranha – que o feudalismo que defende explorasse trabalhadores escravizados.”
Ora, eu estava explicitamente me referindo ao conceito de feudalismo segundo a historiografia clássica brasileira, não à minha concepção! Mais ainda: no parágrafo seguinte, esclareço que a presença de escravos não alterava a classificação feudal porque “a historiografia clássica foca antes a organização política que a sócio-econômica”.
Na sequência desta crítica, Mário Maestri dedica-se bastante aos aspectos institucionais das capitanias hereditárias, criticando a caracterização feudal por este ângulo. Estes aspectos são parte da totalidade das relações de produção, aquelas no interior da classe dominante, entre donatário e sesmeiro.
“Em sua defesa da construção tradicional de um feudalismo imaginário para o Brasil, José Ricardo Figueiredo nega (?) o caráter alodial da propriedade sesmeira por mim proposto. Afirma que sua concessão exigia a necessária permissão do rei (?) e dos donatários para que ela fosse vendida, doada, legada (?), herdada (?) etc. E que os novos proprietários passariam a dever as obrigações ao rei e ao capitão-geral a que estavam obrigados os sesmeiros originais. Nenhuma documentação é apresentada para apoiar esta afirmação que contradita os fatos históricos (!).
(…) Os donatários eram investidos de variados poderes administrativos, judiciários, etc., recebendo os proventos devidos. A Coroa detinha o monopólio do comércio de pau-brasil e dos escravos, o quinto sobre todos os metais preciosos, o dízimo eclesiástico, devido à concessão papal do Padroado da Ordem de Cristo aos reis de Portugal, em 1851 (sic, 1551). Os arquivos da Colônia e do Império guardam dezenas de milhares de atos de compra, de venda, de partilha, de aluguel, etc. de terras, sem travas além das determinações mercantis de praxe.”
Pus as interrogações entre parênteses após palavras que não empreguei. Em particular, não neguei que as sesmarias pudessem ser vendidas ou alienadas de alguma forma; neguei, sim, que isso alterasse a relação social entre donatário e sesmeiros. A exclamação entre parênteses, ao final do primeiro parágrafo, representa exclamação mesmo, surpresa: precisa-se documentação para afirmar que a mudança de dono de uma sesmaria não alterava as relações sociais?
Mas esta demanda por documentação pode ser satisfeita recorrendo a Varnhagen, cuja História geral do Brasil apresenta detalhadamente os aspectos institucionais da colonização. O historiador aponta que as condições da colonização tornavam apropriados os “meios feudais”, no sentido de que os donatários adquiriam poder quase absoluto sobre a população de sua capitania, típico dos tempos anteriores à centralização monárquica: “a coroa chegava a ceder, em benefício dos donatários, a maior parte dos seus direitos majestáticos”.
Cabiam ao donatário, não apenas “variados”, mas plenos poderes administrativos: além de “chamar-se capitão e governador da Capitania”, devia “prover, em seu nome, as capitanias de tabeliães do público e judicial”, e “criar vilas, nomeando seus ouvidores, meirinhos e demais oficiais de justiça”, bem como a “alcaidaria ou governo militar das vilas”.
O donatário detinha também quase plenos poderes jurídicos: “alçada, sem apelação nem agravo, em causas crimes até morte natural, para peões, escravos e gentios”, e “até dez anos de degredo e cem cruzados de pena às pessoas de maior qualidade”. Ainda cabia a ele “conhecer das apelações e agravos de qualquer ponto da capitania”.
O donatário acumulava também o poder político de “influir nas eleições dos juízes e mais oficiais dos conselhos das vilas, apurando as listas dos homens bons, que os deveriam eleger; e anuir ou não às ditas eleições”, o que era vedado aos senhores de terra em Portugal pelas ordenações do Reino.
Dispondo de tão abrangentes poderes, seria factível, por exemplo, a troca de sesmeiros sem a concordância do donatário? Em particular, vê-se que todas as “dezenas de milhares de atos de compra, de venda, de partilha, de aluguel, etc. de terras”, a que Mário Maestri se refere, foram reconhecidas por tabeliães nomeados pelo “capitão e governador”.
Maestri argumenta, ainda, sobre suposta ausência de tributos feudais para o sesmeiro: “Em 1534, a Carta Régia da doação da Capitania do Espírito Santo determinava, como habitual, que os donatários repartissem em sesmarias as terras da capitania, a ‘quaisquer pessoas de qualquer qualidade’, ‘livremente sem foro nem direito algum’, à exceção do ‘dízimo de Deus’”.
Varnhagen também comenta que as condições oferecidas pela Coroa aos sesmeiros eram mais favoráveis do que aquelas existentes para os senhores de terra em Portugal, porque a Coroa procurava tornar atrativa a vinda de colonos às terras americanas. Ainda assim, os tributos não eram exíguos como sugere Maestri.
O historiador define o “Foral dos direitos, foros e tributos e coisas que na dita terra havia os colonos de pagar” ao rei e ao donatário como “um contrato enfitêutico, em virtude do qual se constituíam perpétuos tributários da coroa e dos donatários capitães-mores, os solarengos que recebessem terras de sesmarias”. Os direitos e deveres concedidos aos colonos se reduziam: “A possuírem sesmarias sem tributos mais que o dízimo. A isenção para sempre de sisas, imposto sobre o sal ou saboarias, ou quaisquer outros tributos não constantes da doação e foral. Á garantia de que o capitão não protegeria com mais terras seus parentes (…)
A ser declarada livre de direitos toda exportação para quaisquer terras de Portugal, pagando somente a sisa ordinária quando se vendesse o produto. À franquia de direitos dos artigos importados de Portugal. Ao comércio livre dos povoadores entre si, ainda quando de diferentes capitanias, e privilégio para só eles negociarem com os gentios”.
Evidenciando ainda o objetivo de favorecer a colonização, “cada capitania era declarada couto e homizio, e ninguém poderia ser nela perseguido em função de crimes anteriores”.
Apesar do que o primeiro ponto do Foral sugere, e que Gorender e Maestri tomam literalmente, o dízimo eclesiástico não era o único tributo sobre os sesmeiros. O segundo ponto do Foral alertava que podia haver, e os havia, outros tributos constantes na doação, que competia ao donatário. O quarto ponto menciona a sisa ordinária do que era exportado a Portugal.
A assertiva de que os donatários recebiam “os proventos devidos” sugere que seriam mantidos por soldo real. Isso não havia. Junto às prerrogativas administrativas, jurídicas e políticas referidas, os donatários recebiam amplos poderes econômicos. Podiam “possuir na própria capitania uma zona de dez e, alguns, até quinze léguas de extensão de terra sobre a costa, em quatro ou cinco porções separadas”. Podiam “cativar gentios para seu serviço”, e “vender para Lisboa até trinta e nove cada ano, livres de sisa”.
Havia ainda outros direitos econômicos dos donatários que correspondiam necessariamente a deveres dos sesmeiros para com eles, e que certamente constariam das cartas ou atos de doação referidos no segundo ponto do Foral. Cabia aos donatários o “direito das barcas de passagem dos rios mais ou menos caudais”. Cabia-lhes o “monopólio das marinhas, moendas de água e quaisquer outros engenhos, podendo cobrar tributo dos que se fizessem com sua licença”. Cabia-lhe ainda o “dízimo do quinto dos metais e pedras preciosas”, a “vintena de todo pescado”, a “vintena do produto do pau-brasil, ido da capitania, que se vendesse em Portugal” e a “redízima dos produtos da terra ou o dízimo de todos os dízimos”.
Vê-se que, no âmbito institucional, as capitanias eram plenamente feudais. Tinham que ser; Portugal só poderia transplantar e adaptar ao Brasil o que conhecia: as instituições políticas feudais e os modos de produção escravista, que prevaleceu na colonização, e feudal.
A desqualificação política da tese ortodoxa
Para Mário Maestri, Stalin teria transformado a sequência das sociedades de classe, escravista, feudal e capitalista, em dogma universal para impor uma política de “revolução por etapas”, de colaboração com o capitalismo, “Programa (…) que levou ao desastre de 1964 (…) Fracasso histórico que pagamos até hoje”.
Nunca é demonstrada, e está longe de ser intuitiva, a ligação da derrota de 1964 à política comunista que não colocava o socialismo como objetivo direto.
O governo João Goulart enfrentava conflitos com os latifundiários por causa da proposta de reforma agrária, que encontrara efetiva ressonância no campo. Também enfrentava conflitos com os norte-americanos por causa da política externa independente e da política econômica nacional-desenvolvimentista, e conflitos com o empresariado nacional por causa da agitação sindical. Nos últimos anos, vivia-se uma aceleração inflacionária até então inédita.
Poucos dias antes do golpe, uma agitação sindical de soldados e marinheiros foi vista como quebra de hierarquia pela cúpula das Forças Armadas. Uma tempestade perfeita, para a qual a esquerda e os democratas não se prepararam, e disso, sim, cabia autocrítica. Mas fica difícil acreditar que hastear bandeiras de natureza socialista pudesse ajudar a evitar o golpe; pelo contrário, a direita assustava as classes médias com notícias da Cuba revolucionária.
Mas o tema da derrota de 1964 aparece só uma vez, ao passo que responsabilização de Stalin pela política dos comunistas é reiterada. Por exemplo: “Essa visão sobre a sucessão universal necessária de modos de produção foi consolidada, com objetivos pragmáticos colaboracionistas, estranhos a Lênin, por Joseph Stalin (…) O abandono da luta pela revolução socialista mundial, principal bandeira da III Internacional, quando de sua fundação e durante os primeiros anos, deveu-se à imposição da suposta construção isolada do socialismo na URSS.”
Não se fundamenta essa responsabilização exclusiva de Stalin pela política comunista brasileira de então. Por exemplo, no final do Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels apresentam as posições dos comunistas em alguns países europeus naquele 1848: “Aliam-se na França ao partido democrata-socialista contra a burguesia conservadora e radical, reservando-se o direito de criticar as frases e as ilusões legadas pela tradição revolucionária. Na Suíça, apóiam os radicais, sem esquecer que este partido se compõe de elementos contraditórios, metade democrata-socialista, metade burgueses radicais. Na Polônia, os comunistas apóiam o partido que vê numa revolução agrária a condição da libertação nacional, isto é, o partido que desencadeou a insurreição da Cracóvia em 1846. Na Alemanha, o Partido Comunista luta de acordo com a burguesia todas as vezes que esta age revolucionariamente: contra a monarquia absoluta, a propriedade rural feudal e a pequena burguesia”.
Assim, no Manifesto, os comunistas apóiam as lutas avançadas que estavam objetivamente presentes em cada país, sem necessariamente exigir objetivos diretamente socialistas, mas sempre demonstrando a independência do partido da classe trabalhadora na luta democrática unitária. Duas décadas depois, Marx e Engels também não exigiram objetivos socialistas para apoiar fortemente os nortistas contra o escravismo sulista na Guerra de Secessão estadunidense. Não se trata de “revolução por etapas”, mas de revolução factível frente à realidade concreta em cada momento histórico.
Em Duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática, publicado em 1905, declara Lênin: “Em países como a Rússia, a classe operária sofre não tanto do capitalismo como da insuficiência do desenvolvimento do capitalismo. Por isso a classe operária está absolutamente interessada no mais amplo, mais livre e mais rápido desenvolvimento do capitalismo. É absolutamente vantajosa para a classe operária a eliminação de todas as reminiscências do passado que entorpecem o desenvolvimento amplo, livre e rápido do capitalismo”.
E acrescenta: “Isso não se deve esquecer (como o esquece, por exemplo, Plekhanov) ao apreciar as numerosas declarações de Marx (…) sobre a necessidade da organização independente de um partido do proletariado”.
Também diretamente ligadas ao debate dos anos 1960 e 1970 no Brasil são as teses desenvolvidas por Vladímir Lênin para o II Congresso da Internacional Comunista, em 1920, atentando particularmente para as lutas anti-imperialistas em todo mundo. O ponto 11 destas teses diz: “No que se refere aos estados e nações mais atrasados, onde predominam as relações feudais ou patriarcais e patriarcais-camponesas, é necessário ter em vista em particular: 1º, a necessidade de que todos os partidos comunistas ajudem o movimento libertador democrático-burguês nesses países (…) 4º, a necessidade de apoiar especificamente o movimento camponês dos países atrasados contra os latifundiários, contra a grande propriedade agrária, contra todas as manifestações ou sobrevivências do feudalismo”.
Tudo que Mário Maestri critica como “abandono da luta pela revolução socialista mundial, principal bandeira da III Internacional, quando de sua fundação e durante os primeiros anos” está aí, assinado por Lênin, em Congresso da III Internacional, naqueles “primeiros anos”. O alvo que Mário Maestri denomina stalinismo é uma política marxista, engelsiana e leninista, antes de ser defendida por Stalin.
Por fim, comento as especulações de que este debatedor seria “no mínimo, muito próximo ao PC do B, tendo sido membro do conselho diretor da Fundação Maurício Grabois (…) O que ajuda a compreender essa defesa retardatária”. Mário Maestri acertou na primeira parte: tenho muito orgulho de ser filiado ao PC do B há 25 anos. Mas errou na segunda parte: quando me filei, o PC do B não mais defendia a tese ortodoxa; defendo-a por conta própria.
*José Ricardo Figueiredo é professor aposentado da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Autor de Modos de ver a produção do Brasil (Autores Associados\EDUC). [https://amzn.to/40FsVgH]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA