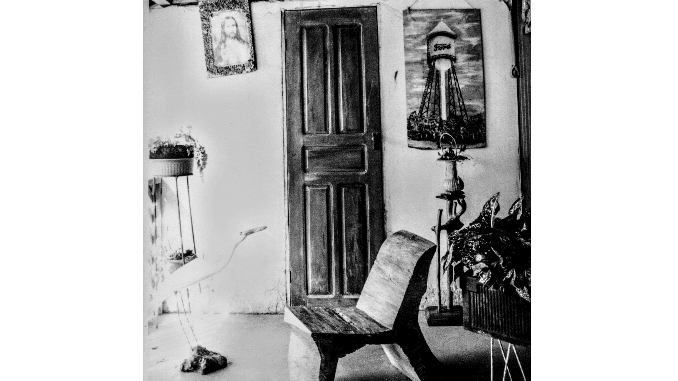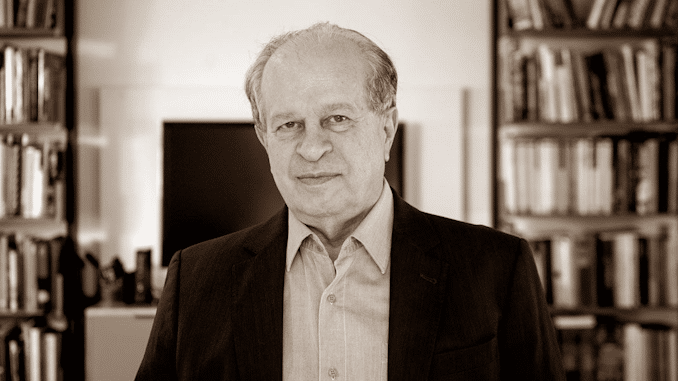Por JOÃO ADOLFO HANSEN*
A ruína, que sempre foi a principal matéria da modernidade, é um tema central na obra de Samuel Beckett
Para o Celso Favaretto, deste seu velho amigo velho.
“Humanismo é um termo que se reserva para os tempos dos grandes massacres” (Beckett)
“…é preciso continuar, não posso continuar, vou continuar” (Beckett, O Inominável).
…aqui e agora, ainda vivo no Brasil fascista de 2021, para celebrar a amizade de mais de 68 anos que desde os 11 me liga ao Celso Favaretto, escrevo sobre um autor que levou a modernidade ao extremo da ruína das ruínas históricas no século XX. A ruína, que sempre foi a principal matéria da modernidade, principalmente naqueles não muitos artistas que valem a pena porque agarram as coisas pelos cabelos torcendo-lhes, como merecem, os pescoços, quando fazem da porcaria que é a vida em qualquer lugar do mundo capitalista e out of nowhere a principal matéria de suas artes.
Desde moço, Celso se dedicou anos e anos e anos a fio ao estudo e à discussão de modernos e pós-modernos, utópicos e pós-utópicos, escritores e poetas e pintores e músicos e teóricos e filósofos e críticos que tomaram e tomam por tema de suas práticas artísticas e teóricas as muitíssimas heranças disparatadas de Kant e Hegel e Marx e Freud e Saussure e Heidegger e Sartre e Adorno e Cézanne e Mallarmé e Oiticica e Caetano e os muitíssimos outros todos não citados que hoje também são ruínas arruinadas, como os que citei. Para isso, Beckett.
Eu – que nos anos 1980, cansado de ser moderno, mas de modo algum querendo ser pós-moderno, resolvi estudar ruínas arruinadas escavando remotíssimas esquecidíssimas práticas simbólicas ditas pré-modernas em disparatados cacos e pedaços e hiatos e elipses e psius não-iluministas mais que arruinadíssimos, só legíveis com carbono 14 ali e aqui representados por ossos e detritos e poeiras e pós de nomes sempre e agora mais e mais esquecidos, como Donne e Gryphius ee Quevedo e Góngora e Gracián e Sor Juana e Caviedes e Vieira e Pascal e Bossuet e d’Urfé e Tesauro e Gregório de Matos e Guerra e um extensíssimo etc. – sempre me lembrando de que Flaubert, quando explicou porque tinha escrito Salammbo, disse que era preciso estar muito triste para reconstruir Cartago, eu que, nos anos 1980, infelizmente não era Flaubert, eu que, nos anos 1980, cansado de ser moderno, mas não querendo ser pós-moderno, me joguei sem bovarysmo às ruínas da Cartago colonial com alegria feroz, a da destruição – eu, ainda vivo e atolado na merda agora do Brasil bolsonarista-milico-evangélico-FIESP-fascista de 2021 lembro na minha desflor o que o leitor já saberá: as ficções de Samuel Beckett transformam a letra, letter, em lixo, litter, levando quem as lê aos limites da significação e do sentido.
Silêncio e indizível, nada de misterioso, profundo ou transcendente na experiência que o leitor faz de restos, pois são só resíduos de uma dramatização de processos materiais que se dão em qualquer corpo quando a língua roça a linguagem e outras coisas. A equação de Beckett é supressiva: escreve para eliminar a linguagem e atingir suposta e certamente inexistente substância do real. Nunca chega lá, enquanto reduz o tempo-espaço e o corpo de seus personagens aos elementos compositivos de uma voz que gagueja produzindo vazio.
Em O Inominável (1953), último livro da trilogia constituída por Molloy (1951) e Malone morre (1951), por exemplo, dissolve unidades que fundamentaram a representação orgânica. O lugar fictício onde se dramatiza a voz que conta não é, propriamente, o espaço físico-cultural e o tempo histórico do assim chamado “contexto social” sempre posto ou pressuposto cenário-referência das ações de personagens nas histórias escritas como representação. O lugar é só lugar de linguagem, não-lugar atópico, inventado como estado parcial em que forças larvares se atualizam continuamente, escalavrando a voz que narra com as múltiplas linhas de suas séries divergentes dissolvendo esburacadas a unidade imaginária de um suposto seu corpo.
A experiência desse estado é a da duração em que a voz se repete. A repetição obsessiva dela pode induzir o leitor a lembrar o estado de desesperança da repetição das ações dos danados do Inferno, de Dante; mas aqui não vem nem jamais virá Virgílio-guia do leitor-personagem pelo espaço, nem nenhuma Beatriz-interpretação de significações do tempo, nem muitíssimo menos o Deus cristão ou, no lugar da ausência dele, uma qualquer Razão cartesiano-hegeliano-marxista como transcendência de princípios doadores de significação e sentido. O estado de desesperança não tem começo ou fim. O texto começa pelo meio de linhas de fuga que o sulcam constituindo a posição do “aqui” do leitor que lê repetindo o personagem que tenta eliminar a linguagem deslocando continuamente o sentido da repetição de sua repetição. É impossível falar e significar e simultaneamente dizer o sentido das coisas que a fala nomeia e significa. A voz do personagem está situada numa posição ou antes ou depois das significações que enuncia.
O sentido produzido pelo que diz sobre o que diz permanece suspenso e sempre inomeado e sempre inominável: “Tenho que falar, não tendo nada a dizer, nada a não ser as palavras dos outros. Não sabendo falar, não querendo falar, tenho que falar. Ninguém me obriga a isso, não há ninguém, é um acidente, é um fato. Nada poderá jamais me dispensar disso, não há nada. Nada a descobrir, nada que diminua o que falta dizer, tenho o mar a beber, então há um mar. Não ter sido bobo, é isso que terei tido de melhor, feito de melhor, ter sido bobo, querendo não ser, acreditando não ser, sabendo que era, não sendo bobo por não ser bobo” (Beckett, O inominável).
Em seu livro Flaubert, Joyce and Beckett: The Stoic Comedians, Hugh Kenner lembrou – a propósito de Moran, personagem de Beckett – o paradoxo de Epimênides, o Cretense: “Eu, Epimênides, Cretense, digo que todos os cretenses são mentirosos”. E lembrou Beckett herdeiro de Joyce herdeiro de Flaubert. Ou Beckett comediante do impasse como Joyce é comediante do inventário e Flaubert comediante da enciclopédia. Flaubert, como se sabe, enfrentou a exigência narrativa da documentação, do detalhe, da metonímia etc. tratando da estupidez da comunicação de preconceitos e lugares comuns da merda da sua sociedade burguesa com a obstinada estupidez de alguém disposto a escutar a merda das verdades de vendedores de enciclopédias e Bíblias e equivalentes, como jornalistas e políticos e financistas e economistas e padres evangélicos e pastores católicos e vice-versa e professores e pais de família…
Assim Madame Bovary é a laboriosa reconstrução de uma novela barata de adultério feita como enciclopédia da futilidade e da estupidez. E ainda, com Flaubert, Bouvard et Pécuchet, as estórias de dois imbecis investigando livros imbecis sobre assuntos imbecis etc. Joyce começa nesse ponto em que Flaubert parou e adota dois procedimentos principais dele, que fazem a narrativa ter a capacidade enciclopédica de acumular feitos e informações e focar a matéria social por meio da paródia.
Assim, enquanto Flaubert tem por horizonte o desprezo pela burguesia e o tédio da enciclopédia da estupidez burguesa, Joyce não zomba de Dublin, mas a ama. Não afeta indiferença, como Flaubert, mas inventaria divertidamente a riqueza dos materiais que transforma – como é o caso dos falares de Dublin. Em Finnegans Wake, faz o inventário das línguas antigas e modernas, evidenciando o poder combinatório das vinte e tantas letras do alfabeto, para fazer o inventário das experiências da fala.
Beckett retoma os dois. Parece impossível levar além a magnífica competência de ambos e Beckett explora a incompetência, escrevendo obras que fingem a incapacidade de fazer com que apareça o personagem do título delas. Ou obras que tratam meramente do fato de que alguém está sentado na cama escrevendo uma estória besta. Beckett escreve sobre o impasse – ou a partir do impasse – de não ter o que dizer e nenhuma razão para dizê-lo – particularizando a mecânica do corpo e dos objetos do corpo, reduzindo a ação dos personagens às suas condições e processos materiais. Para uma comparação, veja-se por exemplo Joyce (o personagem é Bloom): “Apoiando os pés no parapeito, saltou por cima da viga da entrada do porão, enfiou o chapéu, agarrou-se a dois pontos da união inferior dos barrotes, abaixou o corpo gradualmente em toda a extensão de seus cinco pés e nove polegadas e meia a dois pés e dez polegadas do pavimento da entrada do porão e deixou que o corpo se movesse livremente no espaço ao separar-se da viga encolhendo-se em preparação para o impacto da queda” (Ulisses).
E agora Beckett (o personagem é Watt): “A maneira como Watt avançava para o leste, por exemplo, consistia em girar o busto o mais distante possível para o norte e ao mesmo tempo lançar a perna direita na maior distância possível até o sul e, continuando, girar o busto, na medida do possível, até o sul e, ao mesmo tempo, lançar a perna esquerda, na maior distância possível, até o norte, e outra vez girar o busto, na medida do possível, para o norte, e lançar a perna direita o mais longe possível para o sul, e tornar a girar o busto, na medida do possível, para o sul, e lançar a perna esquerda, o mais longe possível, na direção do norte, e assim sucessivamente, uma e outra vez, muitas, muitas vezes, até chegar a seu destino, onde podia sentar. Poucos joelhos podiam dobrar-se tão bem como os de Watt quando os fazia ir por aí já que, evidentemente, se encontravam em perfeito estado. Mas, quando se tratava de caminhar, não se dobravam por obscuras razões. Por assim dizer, os pés caíam, sola e calcanhar simultaneamente, sobre o solo, e o abandonavam para empreender o voo pelos livres caminhos do ar, com evidente repugnância. Quanto aos braços, pareciam contentes em pender inertes, com absoluta independência” (Watt).
***
Em 1949, Beckett tratou da incompetência da arte, tema nuclear da sua ficção, em três breves diálogos com o crítico de arte francês Georges Duthuit. O primeiro deles, Tal Coat, estabelece que a competência da arte, por maior que seja, sempre falha. A competência sempre busca o aborrecido caminho do possível, vendo o que é possível fazer e tentando fazê-lo sem jamais atingir completamente o alvo. A arte avança passo a passo, por acerto e erro. “Para nós só há tentativa”, como dizia T.S. Eliot.
Argumento: o pintor que, admitindo que o elemento geral de toda arte é o fracasso parcial, toma como tema e procedimento a própria incapacidade da pintura de rivalizar com a realidade e, com isso, inventa outra forma de competência: “Nenhuma pintura se acha mais repleta que a de Mondrian”, diz Beckett, propondo que, frente à arte, existem duas espécies de enfermidades: (1) a de querer saber o que fazer; (2) a de querer ser capaz de fazer.
Veja-se a tradução dos três diálogos:
Três diálogos com Georges Duthuit 1.Tal Coat
B. – Objeto total, completo com partes que faltam, em vez de objeto parcial.
Questão de grau.
D. – Mais. A tirania do discreto destruída. O mundo, um fluxo de movimentos participando de um tempo vivo, o do esforço, criação, liberação, a pintura, o pintor. O efêmero instante de sensação devolvida, divulgada, com o contexto do contínuo de que se nutriu.
B. – Em qualquer caso um impulso até uma expressão mais adequada da experiência natural, como revelado à atenta coenaesthesia. Ou conseguido por meio de submissão ou por meio de mestria, o resultado é um ganho em natureza.
D. – Mas o que o pintor descobre, ordena, transmite não está na natureza. Qual a relação de uma dessas pinturas e uma paisagem vista numa certa idade, em certa estação do ano, numa certa hora? Não estamos num plano bastante diferente?
B. – Por natureza entendo aqui, como o realista mais ingênuo, um composto de percebedor e percebido, não um dado, uma experiência. Tudo que quero sugerir é que a tendência e a realização dessa pintura são fundamentalmente as da pintura prévia, esforçando-se por ampliar o estado de um compromisso.
D. – Você negligencia a imensa diferença entre a significação da percepção para Tal Coat e a significação dela para a grande maioria de seus antecessores, aprendendo como artistas com o mesmo servilismo utilitarista como num engarrafamento de trânsito e melhorando o resultado com uma pincelada de geometria euclidiana. A percepção global de Tal Coat é desinteressada, não comprometida com a verdade nem com a beleza, tiranias gêmeas da natureza. Posso ver o compromisso da pintura passada, mas não o que você deplora no Matisse de certo período e no Tal Coat de hoje.
B. – Eu não deploro. Eu concordo que o Matisse em questão, como as orgias franciscanas de Tal Coat, tem valor prodigioso, mas um valor aparentado aos já acumulados. O que temos de considerar no caso dos pintores italianos não é que eles medissem o mundo com olhos de contratadores de obras, um marco significa o mesmo que outro, mas que eles nunca se moveram do campo do possível, por muito que possam tê-lo ampliado. A única coisa perturbada pelos revolucionários Matisse e Tal Coat é uma certa ordem no plano do factível.
D. – Qual outro plano pode haver para o artífice?
B. – Logicamente, nenhum. No entanto falo de uma arte afastando-se dele com desgosto, cansada de façanhas insignificantes, cansada de fingir ser capaz, de ter sido capaz, de fazer um pouco melhor a mesma velha coisa, a de ir um pouco mais longe numa estrada monótona.
D. – E preferindo o quê?
B. – A expressão de que não há nada a expressar, nada com que expressar, nada a partir de que expressar, nenhum poder de expressar, nenhum desejo de expressar, junto com a obrigação de expressar.
D. – Mas esse é um ponto de vista violentamente extremo e pessoal que não nos serve para nada, no caso de Tal Coat.
B. …
D. – Talvez isso seja suficiente por hoje.
Masson
B. – Em busca da dificuldade mais que em suas garras. O desassossego de alguém para quem falta um adversário.
D. – Talvez seja por isso que hoje ele tantas vezes fale de um pintar o vazio, aterrado e tremendo. Seu interesse foi, por um tempo, a criação de uma mitologia; então com o homem, não simplesmente no universo, mas em sociedade; e agora “vazio interior”, a condição primeira, de acordo com a estética chinesa, do ato de pintar. Poderia parecer, com efeito, que Masson sofre, mais agudamente que qualquer pintor vivo, da necessidade de chegar ao repouso, isto é, de estabelecer os dados do problema a ser resolvido, o Problema, enfim.
B. – Apesar de pouco familiarizado com os problemas que ele se pôs para si mesmo no passado e quais deles, pelo mero fato da sua solubilidade ou qualquer outra razão, terem perdido sua legitimidade para ele, eu sinto não muito distante a presença delas, atrás dessas telas veladas de consternação, e as cicatrizes de uma competência que deve ser mais penosa para ele. Duas velhas enfermidades que sem dúvida deviam ser consideradas separadamente: a enfermidade de querer saber o que fazer e a enfermidade de querer ser capaz de fazê-lo.
D. – Mas o propósito declarado de Masson agora é reduzir essas enfermidades, como você as chama, a nada. Ele aspira a ficar livre da servidão do espaço, que seu olho possa “brincar entre os campos sem distância focal, tumultuoso, com criação incessante”. Ao mesmo tempo ele reclama a liberação do “vaporoso” (etéreo). Isso pode parecer estranho em alguém por temperamento mais inclinado ao entusiasmo que ao desalento. Você naturalmente replicará que isso é a mesma coisa de antes, a mesma procura de um abrigo a partir da carência dele. Opaco ou transparente, o objeto permanece soberano. Mas como se pode esperar que Masson pinte o vazio?
B. – Ele não espera isso. Que há de bom em passar de uma posição insustentável a outra, em buscar justificativa sempre no mesmo plano? Aqui está um artista que parece literalmente cravado no feroz dilema da expressão. Ainda assim continua serpenteando. O vazio de que fala é talvez simplesmente a obliteração de uma presença tão insuportável de buscar quanto de perturbar. Se essa angústia de desamparo nunca se manifesta como tal, por seus próprios méritos e por causa própria, embora quem sabe muito ocasionalmente admitida como condimento para a “façanha” que põe em perigo. A razão é sem dúvida, entre outras, que parece conter em si mesma a impossibilidade de manifestar-se. De novo uma atitude lógica. Em qualquer caso, dificilmente poderia ser confundida com o vazio.
D. – Masson fala muito de transparência – “aberturas, circulações, comunicações, penetrações desconhecidas” – onde ele possa brincar à vontade, em liberdade. Sem renunciar aos objetos, aborrecidos ou deliciosos, que são o nosso pão e vinho e peixe diários, ele tenta abrir caminho entre suas partilhas na direção daquela continuidade de ser que está ausente da experiência rotineira de viver. Nisso ele se aproxima de Matisse (o do primeiro período, não é preciso dizer) e de Tal Coat, mas com essa notável diferença, a de que Masson tem que lutar contra seus próprios dotes técnicos, que têm a riqueza, a precisão, a densidade e o equilíbrio da elevada maneira clássica. Ou, melhor eu diria, o seu espírito, pois ele se mostrou capaz, quando a ocasião requeria, de grande variedade técnica.
B. – O que você diz certamente lança luz sobre o dramático transe desse artista. Permita-me apontar o seu interesse pelas amenidades da facilidade e da liberdade. As estrelas são indubitavelmente soberbas, como Freud sublinhou lendo a prova cosmológica de Kant da existência de Deus. Com tais preocupações me parece impossível que ele pudesse sempre fazer algo diferente do que os melhores, incluindo a ele mesmo, já fizeram. Talvez seja uma impertinência dizer que ele o deseja. Suas observações extremamente inteligentes sobre o espaço exalam o mesmo espírito possessivo dos cadernos de notas de Leonardo que, ao falar de disfazione, sabe muito bem que não perderá nenhum fragmento. Assim, me perdoe se, do mesmo modo como falávamos do tão distinto Tal Coat, volto a evocar meu sonho de uma arte sem ressentimento frente à sua invencível indigência e demasiado orgulhosa para representar a farsa de dar e receber.
D. – O próprio Masson, tendo observado que a perspectiva ocidental não passa de um conjunto de armadilhas para capturar objetos, declara que a posse delas não lhe interessa. Ele dá parabéns a Bonnard por ter, em suas últimas obras, “ido mais além do espaço possessivo em cada forma e figura, longe de limites e demarcações, até o ponto em que toda posse se dissolve”. Estou de acordo em que há uma grande distância entre Bonnard e essa pintura depauperada, “autenticamente sem fruto, incapaz de qualquer imagem, não importa qual seja”, a que você aspira e para a qual também, quem sabe, talvez inconscientemente, tende Masson. Mas podemos realmente deplorar a pintura que admite “as coisas e as criaturas da primavera, resplandecentes de desejo e de afirmação, efêmeras sem dúvida, mas imortalmente repetidas”, não para beneficiá-las, nem para desfrutar delas, mas para que possa continuar aquilo que no mundo é tolerável e radiante? Temos que realmente deplorar a pintura que é uma espécie de fortalecimento, entre as coisas do tempo que passam e se afastam de nós apressadamente na direção de um tempo que perdura e oferece crescimento?
B- (Sai chorando).
Bram van Velde
B. – Francês, antes de tudo fogo.
D. – Falando de Tal Coat e Masson, você invocava uma arte de uma ordem diferente, não só a partir deles, mas a partir de qualquer outro realizada até a data. Estou certo ao pensar que você tinha van Velde em mente ao fazer essa fulminante distinção?
B. – Sim. Creio que ele é o primeiro a aceitar certa situação e a assentir em certa forma de agir.
D. – Seria demais lhe pedir que expusesse de novo, o mais simplesmente possível, a situação e o modo de agir que você concebe como próprios dele?
B. – A situação é a de alguém desamparado que não pode agir, nesse caso que não pode pintar, a partir do momento em que está obrigado a pintar. Sua forma de agir é a de quem, desamparado, incapaz de agir, age, nesse caso pinta, a partir do momento em que está obrigado a pintar.
D. – Por que está obrigado a pintar?
B. – Não sei.
D. – Por que está desamparado para pintar?
B. – Porque não há nada para pintar e nada com que pintar.
D. – E o resultado, diz você, é uma arte diferente?
B. – Entre aqueles que chamamos de grandes artistas, não posso pensar em nenhum cujo interesse não resida predominantemente em suas possibilidades expressivas, as do seu veículo, as da humanidade? O pressuposto que fundamenta toda pintura é o de que o território do artífice é o território do factível. O muito que expressar, o pouco que expressar, a habilidade de expressar muito, a habilidade de expressar pouco se confundem na comum ansiedade de expressar todo o possível, o mais verdadeiramente possível, ou mais sutilmente possível, com a melhor habilidade de cada um. O que…
D. – Um momento. Você está sugerindo que a pintura de van Velde é inexpressiva?
B. – (Duas semanas depois). Sim.
D. – Você se dá conta do absurdo do que propõe?
B. – Espero que sim.
D. – O que você diz equivale a isso: a forma de expressão conhecida como pintura, a partir do momento em que por obscuras razões estamos obrigados a falar de pintura, teve que esperar van Velde para ver-se livre da errônea apreensão com que trabalhou tanto tempo e tão perfeitamente, quero dizer, a de que sua função era expressar por meio de pintura.
B. – Outros sentiram que arte não é necessariamente expressão. Mas as numerosas tentativas feitas para tornar a pintura independente de suas circunstâncias só tiveram êxito na ampliação do seu repertório. Sugiro que van Velde é o primeiro cuja pintura está despossuída, livre, se você preferir, de cada circunstância em cada forma e figura, tanto ideal quanto material, e o primeiro cujas mãos não foram atadas pela certeza de que a expressão é um ato impossível.
D. – Mas não poderia ser sugerido, mesmo por alguém tolerante dessa fantástica teoria, que a ocasião de sua pintura é sua entalada, e que ele é expressivo da impossibilidade de expressar?
B. – Não se poderia expor método mais engenhoso para devolvê-lo, são e salvo, ao seio de São Lucas. Mas por uma vez sejamos o bastante loucos para não dar as costas. Todos prudentemente deram as costas frente à penúria final, viraram as costas para a simples miséria na qual virtuosas mães desvalidas podem roubar pão para seus famintos rebentos. Há mais que diferença de grau entre estar eliminado, eliminado do mundo, eliminado de si mesmo e estar sem essas apreciadas comodidades. A primeira situação é um apuro; a outra, não.
D. – Mas você já falou do transe de van Velde.
B. – Certamente não o fiz.
D. – Você prefere a opinião mais pura de que aqui finalmente há um pintor que não pinta, que não pretende pintar. Vamos, vamos, meu querido amigo, faça algum tipo de exposição coerente e então vá embora.
B. – Não seria suficiente que eu simplesmente me fosse?
D. – Não. Você começou. Acabe. Comece outra vez e continue até que tenha terminado. Então vá embora. Tente lembrar que o tema que discutimos não é você nem o sufi Al-Haqq, mas um holandês muito concreto chamado van Velde, erroneamente conhecido até agora como artista pintor.
B. – Que tal seria se primeiramente eu dissesse que gosto de imaginar que ele é, imaginar que ele faz e então que é mais que provável que ele seja e atue de modo bastante diverso? Isso não seria uma excelente saída para todas as nossas aflições? Ele feliz, você feliz, eu feliz, os três borbulhantes de felicidade.
D. – Faça como você quiser, mas termine.
B. – Há muitas maneiras nas quais a coisa que eu em vão estou tentando dizer possa ser em vão tentada dizer. Eu experimentei, como você sabe, tanto pública quanto particularmente, debaixo de coação, através da debilidade do coração, através da fraqueza da mente, com dois ou trezentos. A patética antítese posse/pobreza talvez não seja a mais tediosa. Mas começamos a ficar cansados disso, não é? A constatação de que a arte sempre foi burguesa, embora ela possa mitigar nossa dor frente às realizações do socialmente progressivo tem afinal um escasso interesse. A análise da relação do artista e sua circunstância, uma relação sempre considerada como indispensável, não parece ter sido muito produtiva, sendo a razão, talvez, por que ela perdeu o rumo com inquisições sobre a natureza da circunstância. É óbvio que para o artista obcecado com sua vocação expressiva, nada e tudo estão condenados a converter-se em circunstância, incluindo, como até certo ponto é aparentemente o caso de Masson, a busca de uma circunstância, e os experimentos com a própria esposa de todo homem do espiritual Kandinsky. Nenhuma pintura está tão repleta quanto a de Mondrian. Mas se a circunstância aparece como um termo instável de relação, o artista, que é o outro termo, apenas o é menos, graças à sua proliferação de modos e atitudes. As objeções contra esse ponto de vista dualista do processo criativo não são convincentes. Duas coisas estão estabelecidas, ainda que precariamente: o alimento, desde frutas na bandeja até matemáticas elementares e autocomiseração e seu modo de resolver. Tudo que poderia ser concernente a nós na aguda e crescente ansiedade da própria relação, como se cada vez mais ela se visse obscurecida por um senso de não validade, de inadequação, de existência às custas de tudo que ela exclui, de tudo que fecha a passagem. A história da pintura, e lá vou eu de novo, é a história de suas tentativas de escapar desse senso de fracasso por meio de mais autênticas, mais amplas, menos exclusivas relações entre representador e representado, numa espécie de tropismo na direção de uma luz sobre a qual as melhores opiniões continuam variando, e com uma espécie de terror pitagórico, como se a irracionalidade de pi fosse uma ofensa à divindade, não a menção de sua criatura. Minha argumentação, uma vez que estou no banco, é que van Velde é o primeiro a desistir desse estetizado automatismo, o primeiro a resignar-se profundamente frente à incoercível ausência de relação, a ausência de termos ou, se você preferir, na presença de termos inutilizáveis, o primeiro a admitir que ser um artista é fracassar, como ninguém mais se atreve a fracassar, esse fracasso é seu mundo, e sua deserção, arte e ofício, bom cuidado da casa, vida. Não, não, permita- me terminar. Sei que tudo o que agora se requer, inclusive para levar esse horrível assunto a uma conclusão aceitável, é fazer dessa submissão, essa admissão, essa fidelidade ao fracasso, uma nova ocasião, um novo termo de relação, e do ato que, incapaz de agir, obrigado a agir, ele faz, um ato expressivo, mesmo que apenas de si mesmo, de sua impossibilidade, de sua obrigação. Eu sei que minha inabilidade para agir assim me coloca, e talvez a um inocente, no que acredito que ainda se chama uma situação nada invejável, familiar aos psiquiatras. Por isso há esse plano colorido, que não estava aí antes. Não sei o que ele é, nunca tendo visto nada parecido com ele antes. Parece não ter nada a ver com a arte, em qualquer caso, se minhas lembranças não falham (Prepara-se para ir embora).
D. – Você não está esquecendo nada? B – Suponho que já é suficiente, não?
D. – Entendi que seu número devia ter duas partes. A primeira consistia em que você dizia o que…humm…pensava. Isso eu estou disposto a acreditar que fez. A segunda…
B. – (Lembrando cordialmente). Sim, sim, estou errado, estou errado.
***
No primeiro diálogo, Beckett propõe o que pensa de sua arte de escritor: “… falo de uma arte (…) cansada de façanhas insignificantes, cansada de fingir ser capaz, de ter sido capaz, de fazer um pouco melhor a mesma velha coisa, a de ir um pouco mais longe numa estrada monótona”.
Duthuit pergunta: “– E preferindo o quê?” E Beckett: “– A expressão de que não há nada a expressar, nada com que expressar, nada a partir de que expressar, nenhum poder de expressar, nenhum desejo de expressar, junto com a obrigação de expressar”.
Duthuit afirma: “– Mas esse é um ponto de vista violentamente extremo e pessoal que não nos serve para nada, no caso de Tal Coat.”
Assim, segundo Beckett, sua escrita seria feita como falta de habilidade abstrata e incalculada que produz uma arte “carente de motivo em toda forma e aspecto, ideal ao mesmo tempo que material”. Adorno, no ensaio “Tentando entender Fim de partida”, escreve: “Depois da Segunda Guerra Mundial, tudo, inclusive uma cultura ressuscitada, foi destruído, sem realizá-la; a humanidade continua a vegetar, depois de eventos a que mesmo os sobreviventes não podem realmente sobreviver, num monte de entulho que tornou inútil a reflexão que alguém possa fazer sobre o seu próprio estado arruinado”.
Nessa situação em que a consciência crítica foi e vem sendo mais e mais substituída pela consciência cínica, as ideias de significação e sentido se tornaram objeto de irrisão e zombaria corrosiva. Hamm diz: “Nós estamos começando a… a… significar alguma coisa?” E Clov: “Significar alguma coisa? Você e eu, significar alguma coisa? Ah, essa é boa!”
Adorno propôs que Fim de partida é o ponto final do sentido na arte moderna feita depois de Auschwitz, ponto final também da própria possibilidade de propor sentido. Fim de partida reduz a filosofia e a arte a “lixo cultural”. Assim: “A interpretação de Fim de partida não pode propor a quimérica finalidade de expressar o sentido da peça numa forma mediada pela filosofia. Acreditar que ela pode significa apenas entender sua ininteligibilidade, reconstruindo concretamente o sentido de que ela não tem nenhum sentido”.
Beckett propõe que o entendimento da peça pode ser, simplesmente, o entendimento de que ela é incompreensível porque não tem estrutura de sentido. Mas evidentemente se pode propor que há sentido no modo como figura o não sentido. Assim, por exemplo: O primeiro nível de sentido corresponde à estrutura mesma do artefato dramático produzido como ficção;
outro nível pode ser a intenção do todo como estrutura comunicada pelo autor ao espectador; o terceiro, ainda, pode ser o sentido das palavras e enunciados que os personagens falam e o sentido da progressão da ação nos diálogos.
Como se sabe, a peça é montada como citação contínua dos resíduos reificados da educação, desenvolvendo o tema do desgosto radical com a sociedade burguesa moderna. Beckett faz a paródia da filosofia e das formas artísticas e, recusando a interpretação, propõe que todas as coisas perderam todas as qualidades que tinham. Como consequência, a vida é extrema abstração. A história está excluída, porque desidratou o poder da consciência de pensá-la como poder da lembrança e da expectativa. Logo, o drama é encenação de um gesto vazio e árido em que o resultado da história aparece como farsa e ruína. A peça é a expressão do horror de saber que não existe nenhuma vida além da vida árida e oca e falsa dos personagens. E aqui, o humor, o humor negro. Mas rir do quê? Lembre-se Hamm.
O personagem Hamm é citação de Hamlet: “Coaxar ou não coaxar, eis a questão”; “Esticar a canela ou não esticar a canela, eis a questão”. E citação de Cam, o filho amaldiçoado de Noé. E uma piada: em inglês, ham actor = mau ator, canastrão. E também ham = presunto. E o trocadilho: “ficar com Hamm, ficar com home”. O tema de Hamm é a nostalgia, a melancolia, a tentativa de retorno ao passado. Sua narrativa compõe um personagem assombrado com o passado e, mais ainda, com um passado possível, cuja memória pretende manipular. Hamm produz sua melancolia com masoquismo, contando muitas vezes a mesma estória para seu pai, Nagg, e para Clov.
Com a estória de algo passado, Hamm também produz para si mesmo a certeza de ter existido. A estória se refere a um momento passado em que teria tido o poder de ajudar alguém, um homem que pedia auxílio para si mesmo e seu filho pequeno antes do cataclisma que cadaverizou o mundo. Hamm domina todos os detalhes da estória, evidenciando sua habilidade de controlar as vidas do pedinte e seu filho. Sua estória é demonstração de seu poder de ser ou ter sido magnânimo com o pedinte, demonstrando sua habilidade para cuidar da criança – que provavelmente é Clov – quando o pai era incapaz. No presente, Hamm está cego e preso à cadeira de rodas; assim, a lembrança do passado também é momento de autocrítica e lembrança de quando tinha poder.
Hamm – Lembra de quando você chegou aqui? Clov – Não. Era pequeno demais, você me contou. Hamm – Lembra de seu pai?
Clov – (Com cansaço) – Mesma resposta. Já me fez essas perguntas milhões de vezes.
Hamm – Gosto das velhas perguntas. Ah, velhas perguntas, velhas respostas, não há nada como elas. Fui eu quem foi um pai para você.
Clov – Foi. (Olhar fixo em Hamm). Você foi um pai para mim. Hamm – E minha casa o seu lar.
Clov – É. (Longo olhar circular). Esse lugar foi isso para mim.
Hamm – (Com orgulho). Sem mim (aponta para si), sem pai. Sem Hamm (gesto circular), sem lar.
Clov – Vou deixá-lo.
Hamm – Você já pensou numa coisa? Clov – Nunca.
Hamm – Que aqui estamos enfiados num buraco. Mas, e atrás das montanhas? E se lá ainda estiver verde? Hein? Flora! Pomona! Ceres! Talvez você não precise ir muito longe.
Clov – Não posso ir muito longe. Vou deixá-lo.
Clov é criado por Hamm, sendo provavelmente filho do mendigo. É o único personagem que se move na peça, mas com dificuldade. Nagg e Nell, pai e mãe de Hamm, põem metade do corpo para fora de latões de lixo e conversam. A conversa é paródia da assim chamada normalidade da vida a dois.
Nell – Que foi, meu bichinho? Hora do amor? Nagg – Você estava dormindo?
Nell – Ah não! Nagg- Me beija. Nell – Não podemos.
Nagg – Tente.
Nell – Por que essa farsa dia após dia? Nagg – Perdi meu dente.
Nell – Quando?
Nagg – Ainda tinha ele ontem. Nell – (Elegíaca) Ah! Ontem!
E, ainda, por exemplo Dias Felizes (Happy days, 1961). A peça como paródia do casamento; Winnie, com 50 anos, esposa tagarela, e Willie, com 60, marido taciturno, entediado, provavelmente homicida, no final da peça. Mas não só paródia.
Cenário: gramado seco, pequena colina no centro, queda suave para a frente do palco e para os lados. Ao longe, planície vazia.
1º ato. Winnie, loira, braços e ombros nus, decote, seios fartos, colar de pérolas, enterrada até a cintura, dorme, com os braços apoiados na terra à frente; à esquerda, bolsa preta grande; à direita, sombrinha dobrável. À direita, atrás, Willie dorme sobre a terra. Um despertador toca. Winnie levanta a cabeça, olha para a frente. Apoia as mãos sobre a terra, olha para o alto:
– Mais um dia celestial (…) Jesus Cristo amém (…) Pelos séculos dos séculos. Amém. (…) Começa, Winnie (…) Começa teu dia, Winnie, (Winnie, enterrada até o pescoço, chapéu na cabeça, olhos fechados (2o ato). Sua cabeça – que não pode mais virar, nem inclinar, nem levantar – mantém-se rigorosamente estática durante todo o ato).
Winnie – Salve, sagrada luz (…) Alguém está olhando para mim, ainda (…) Se preocupando comigo, ainda (…) Isso é que eu acho maravilhoso.
Beckett dizia que a estranheza era a condição necessária da peça e da situação penosa de Winnie nela: “Nesta peça, você tem uma combinação do estranho e do prático, do misterioso e do factual. Esse é o xis tanto da comédia quanto da tragédia nela”. Winnie ou os despojos de uma vida enterrados numa cova prematura. Assim, Winnie= arquivo da cultura, arquivo do fim das coisas. A peça como exame dos restos da cultura ocidental e do colapso das coisas todas.
Winnie, como o Inominável, não quer continuar, não pode continuar e vai continuar. Beckett dizia para a atriz alemã Martha Fehsenfeld que representou Winnie: “Pense nela como um pássaro com óleo nas penas”. Winnie evita pensar no sofrimento por meio de palavras e jogos com os objetos da bolsa: pente escova de cabelo batom escova de dente pasta de dente óculos revólver, dizendo: “as coisas têm vida própria”. Começa a falar quando uma campainha toca; se para de falar, a campainha volta a tocar. O que é possível para ela já é passado: “dias felizes”, “prazeres fugazes”, “lembranças felizes”, “versos extraordinários” etc. Fala e interrompe a fala: “É uma criatura interrompida”. “Ah, o velho estilo… o doce velho estilo”.
Nos ensaios de 1979, Beckett orientou a atriz Billie Whitelaw sobre a relação entre Winnie e sua bolsa: “A bolsa é tudo o que ela tem – encare-a com afeição (…) Desde o princípio você deve saber como ela se sente a seu respeito (…) Quando a bolsa está no alto, à direita, você espia o interior dela, vê as coisas que estão lá e então as tira para fora. Espia, pega, deposita. Espia, pega, deposita. Você examina com mais atenção quando ergue as coisas do que quando as abaixa. Cada coisa tem o seu lugar.
Beckett fez Billie treinar os movimentos da mão de Winnie num gesto de rapina: as mãos se estendem para cima, em forma de garra, depois descem, dentro da bolsa, retirando os objetos.
Winnie cita Shakespeare, Milton, Gray, Yeats e outros poetas, estabelecendo o contraste do valor cultural que os poemas já tiveram em seu tempo e em tempos passados e a sua situação, em que são detritos como as outras coisas todas de que fala: o tempo e as outras coisas todas, que refere como “o velho estilo”, acabaram. A insistência de Winnie de que as coisas permanecem soa desesperadora. Porque o que há são só restos, ou seja, o túmulo do casamento, da cultura, do tempo e da história. E, assim, vamos continuar, não podemos continuar, mas é preciso continuar nec spe nec metu.
*João Adolfo Hansen é professor titular aposentado e sênior de literatura brasileira na USP. Autor, entre outros livros, de Agudezas seiscentistas – Obra reunida, vol 1 (Edusp).
Publicado originalmente na revista Limiar v. 8, no. 15, 2021.