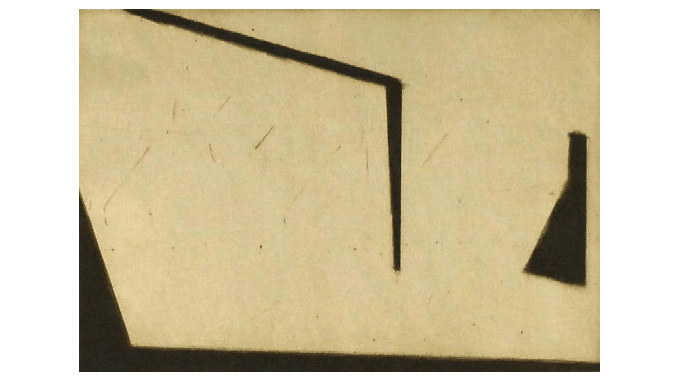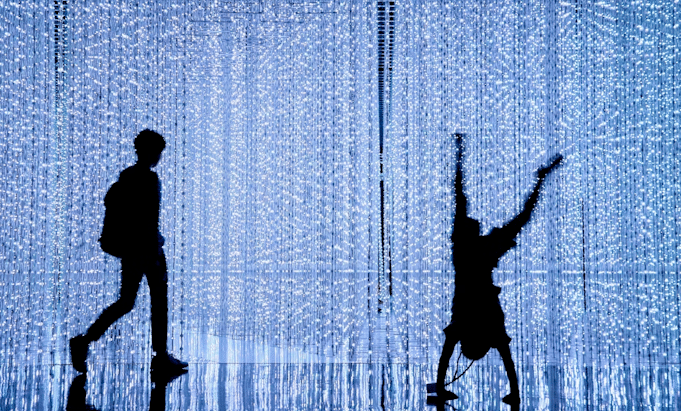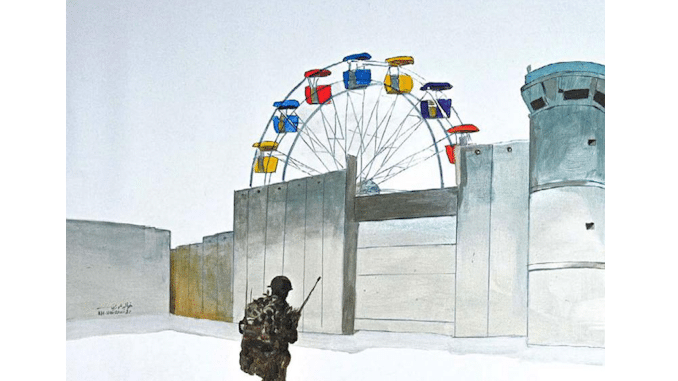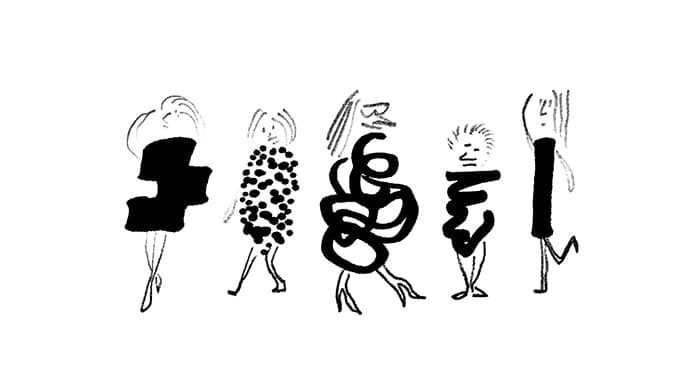Por LINCOLN SECCO*
Uma análise do cargo de vice-presidente e da possível aliança entre Lula e Alckmin em 2022
A possível escolha de um conservador para acompanhar Lula nas eleições de 2022 provocou uma série de debates. Só não houve surpresa. O PT desde 2002 incorporou um vice de centro-direita. A exceção foi ter uma mulher comunista em 2018 numa situação no mínimo insólita.
Devido à acidentada história brasileira há um “fetiche do vice”, algo que se reforçou na Nova República porque Sarney, Itamar e Temer ascenderam ao comando do país sem voto.
Antes também houve vices que foram mais ou menos importantes, como Floriano Peixoto, Nilo Peçanha, Delfim Moreira e João Goulart. Mas em geral, a posição dos demais foi meramente decorativa, tanto que as constituições de 1934 e 1937 não previram um vice presidente, como aliás é o caso do Chile desde o século XIX.
Um vice não exerce nenhum papel relevante na máquina pública, exceto se o presidente quiser (e se for esperto não vai querer). Se é um chefe de partido, como foi Temer, ele serve como instrumento de pressão dos aliados sobre o presidente; e se há uma crise, pode galvanizar os traidores num golpe de Estado, como o fez o próprio Temer em 2016, mas também Café Filho em 1954.
Na eleição, o vice também carece de importância, já que o eleitorado praticamente o desconhece. Quando muito, pode ter uma relevância negativa devido a algum escândalo. Em 1994 houve a crise dos vices e tanto Lula quanto FHC trocaram de companheiro de chapa.
Para Lula ter Alckmin como vice ou uma mulher de esquerda tanto faz do ponto de vista eleitoral. A maioria não mudará seu voto por isso e essa é a razão pela qual Lula faz ouvidos moucos para as reclamações da sua militância. Ele acredita que o melhor é ter um colega de chapa à sua direita, como Judas, para acalmar empresários e o eleitorado que pode estar indeciso entre a ordem e a mudança. Promete, assim, uma mudança dentro da ordem.
Claro que nenhuma ordem é ameaçada por uma eleição, mas não estamos falando de realidades e sim de crenças. Ter alguém sentado à sua esquerda só contentaria o ardor militante de quem não possui outra opção. Para esse tipo de raciocínio, racional em tempos “normais”, o centro ou centro direita é quem deve ter o privilégio da escolha.
Geraldo Alckmin
O ex-governador paulista de fato viabilizaria um arco amplo de alianças, dirão analistas políticos. E, depois, a governabilidade. Também não. O cargo de vice não se faz acompanhar de grande capacidade de distribuição de cargos ao seu séquito. Os partidos aliam-se para nomear ministros e obter empregos que lhe apeteçam, além de obter favores para seus futuros parlamentares. Ter um vice é só um símbolo. Com o amplo favoritismo petista nas pesquisas, os interessados em se aliar ao PT não deixarão de fazê-lo se o vice for petista, desde que tenham a promessa de gorda participação no poder.
O que importa ao PT é ter um candidato a vice presidente que não vá conspirar contra o titular do cargo. Ser da própria legenda ajuda, embora não seja garantia. A solução estaria em acabar com um cargo que mantêm inerte e de mente vazia um potencial traidor. Em caso de vacância permanente, um sucessor deveria ser eleito para terminar o mandato, mas isso está fora do horizonte político atual.
Fascismo
Há ainda a caracterização fascista do governo e a consequência estratégica que se deveria tirar disso. Se é fascista, nosso dever é a defesa da democracia formal antes de tudo, a fim de afastar uma ameaça ao próprio regime.
O fascismo é um movimento de massas com apoio eleitoral sustentado por uma crítica ao sistema. Se ele obteve sucesso é porque o próprio sistema já havia sido desmoralizado. É a melhor saída defender simplesmente a democracia?
Se olharmos para o tão citado exemplo alemão é claro que uma aliança entre sociais democratas e comunistas no início dos anos 1930 teria sido desejável, mas com base em qual programa? E notem que estamos falando de uma aliança no interior da esquerda e não com a direita conservadora, a qual já estava comprometida com o nazismo. Quem invoca esse exemplo histórico raramente cita essa diferença essencial. Aliás, a efetiva vitória sobre o fascismo na Segunda Guerra Mundial não se limitou a restaurar a democracia e obrigou os regimes que se sucederam a criar um estado de bem estar social.
Brasil
A nossa situação histórica é muito distinta. Mas a luta antifascista aqui exige, dentro dos limites eleitorais em que a esquerda está encerrada, aliar a defesa da democracia a um programa de inversão de prioridades. Não se trata sequer de propor uma nova constituição como aconteceu em outros países latino americanos. A nossa constituição não é a da ditadura, como a chilena, mas a de 1988, atacada diuturnamente pela direita.
Os prováveis aliados da esquerda só desejam saber se a chapa tem chances de vitória. O programa mínimo a ser adotado imporá balizas apenas às forças que polarizam o cenário político. Hoje, um bolsonarista jamais apoiaria o PT e vice versa. Já a maioria dos partidos situados entre os “extremos” eleitorais pode escolher qualquer um dos lados em função da expectativa de votos e ganhos materiais. Ou apostar numa “terceira via” que desde 1989 não deu certo.
Nessas circunstâncias, o PT poderia propor um programa mínimo ao candidato a vice e constrangê-lo a fazer a sua defesa explicitamente. Ele deve incorporar, entre as coisas que normalmente a esquerda defende, uma política econômica punitiva ao grande capital e ao rentismo, a nacionalização das empresas privatizadas, anulação da reforma trabalhista, um Tribunal de Manaus para julgar a família Bolsonaro e os militares envolvidos nos crimes da pandemia e finalmente exigir das Forças Armadas um pedido de desculpas ao povo brasileiro pela Ditadura Militar.
Isso sequer é certeza de fidelidade após a eleição. E nem sei se o vice se converteria publicamente. Mas Brasília bem vale uma missa.
*Lincoln Secco é professor do Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de História do PT (Ateliê).