Por OSVALDO COGGIOLA*
Posfácio do livro Breve História de Portugal – A Era Contemporânea (1807-2020)
“Última flor do Lácio”, “primeiro império global”, “capitalismo hiper-tardio”, “a mais longa ditadura do século XX”, “ultracolonialismo” (Perry Anderson): parece que só os adjetivos extremos pudessem qualificar o lugar de Portugal na história moderna. A tentação é grande, por isso mesmo, de considerar a “particularidade portuguesa” como uma singularidade única na história. Certa historiografia (seria melhor dizer ideologia) nacionalista cai em cheio nessa armadilha. Esse é o primeiro obstáculo que o livro de Raquel Varela e Roberto Della Santa, que temos a honra de prefaciar, consegue superar brilhantemente. Pois ele parte, para expor e explicar Portugal, das contradições nacionais, ou seja, do seu lugar na construção do mundo das nações e do imperialismo, e de classe, que pautaram sua história contemporânea. As singularidades de Portugal aparecem como produto da particular refração, no plano nacional, de tendências orgânicas da história mundial, que informaram sua história praticamente desde o nascedouro. E nem será preciso dizer que a Revolução dos Cravos, que, para nossas gerações tirou, em 1974-1975, Portugal das margens da nossa “história imediata”, pondo os acontecimentos lusitanos nas manchetes de jornais do mundo inteiro, fechou de modo extraordinário (e também inesperado) o ciclo revolucionário de alcance mundial que tinha se iniciado em 1968, com o Maio francês, a Primavera de Praga, e outros acontecimentos que anunciaram o fim dos “trinta anos gloriosos” do capital. Parece, novamente, como se a singularidade perseguisse o papel de Portugal na história mundial. Só poderíamos dar cabo da tarefa do prefaciador, não explicando o que o livro explica por si só, mas introduzindo sumariamente o leitor nas condições e contradições históricas que presidiram a criação da matéria específica deste texto, a história contemporânea de Portugal.
Portugal nasceu de um evento-limite da história europeia. Na Península Ibérica, a guerra contra os mouros foi o alicerce dos futuros Estados ibéricos. Em 1139, durante a reconquista cristã, foi fundado o Reino de Portugal a partir do condado Portucalense, entre os rios Minho e Douro. A reconquista, desde o século XII, levou seus reis a ceder poder às cidades. Os cristãos portugueses eliminaram o último reino mouro de sua região em 1249. A estabilização aproximada das suas fronteiras em 1297 tornou Portugal o reino europeu com o território delimitado mais antigo do continente. Na Espanha, o conflito com o Islã desaguou na “Guerra de Reconquista” conduzida pelos príncipes cristãos, concluída em finais do século XV. Em Portugal, bem antes disso, uma primeira unidade nacional foi atingida com a “Revolução de Avis”, em 1383, resultante de conflitos que resultaram no fim da dinastia Afonsina e no começo da dinastia de Avis. Essa revolução resultou na coroação de João, Mestre de Avis, como D. João I rei de Portugal, em 1385. A vitória sobre o reino de Castela estabeleceu a independência do país, com o apoio da burguesia comercial lusa, que ajudou a fornecer os recursos necessários para o primeiro “exército nacional” ibérico. Portugal, em 1387, criou o imposto da sisa, de caráter “nacional”. A crise do século XIV fez do empreendimento ultramarino uma alternativa econômica e social, e possibilitou à Coroa portuguesa o fortalecimento do Estado, criando uma rede de dependências através de concessões de mercês relacionadas ao comércio no Atlântico.
Isso vinculou o destino do novo reino com a história europeia e, logo, depois, com a história mundial. Elencando a sucessão dos países ou blocos de cidades cujo domínio econômico, político e militar criou as bases do mercado mundial (Veneza-Gênova-Pisa na Baixa Idade Média, Espanha-Portugal no início da Era Moderna, e logo depois Holanda, França e Inglaterra), Karl Marx identificou o caráter da acumulação de capital em cada fase histórica: cada domínio mundial resumia o caráter de uma época. Nas origens do capitalismo, primeiro modo de produção tendencialmente mundial, o capital era forjado na circulação de mercadorias. Nas cidades costeiras italianas e do Norte da Europa, primeiro, em Espanha e Portugal, depois; mais tarde nos Países Baixos e na Inglaterra, houve um grande acúmulo de capitais gerados no comércio: na comercialização das especiarias provenientes do Oriente (tecidos, pimenta, canela, cravo), depois na produção colonial americana (metais preciosos, madeira, tinta, açúcar, tabaco).
Com o estabelecimento de um fluxo regular de comunicação e comércio com a América, os centros do comércio europeu se deslocaram para a costa atlântica. Surgiram locais para onde afluía a maior parte dos capitais acumulados, e periferias onde esses capitais se valorizavam, sem ainda quebrar as velhas relações econômicas. O comércio interno de Portugal, mesmo sendo um país pioneiro das expedições ultramarinas, era ainda superior ao comércio internacional das especiarias (em que Portugal se especializou), e basicamente feito com base em trocas diretas, não através da intervenção do dinheiro. A maior parte dos produtores peninsulares continuou por muito tempo consumindo parte de sua produção ou trocando mercadorias em mercados limitados. O desenvolvimento econômico europeu era desigual. A formação econômico-social de Portugal, baseada na sesmaria, não era tipicamente feudal, pois suas raízes não estavam ligadas a um passado arcaico ou decorrente de relações servis. A Coroa portuguesa concentrava grande parte das terras e concedia seu domínio condicionado ao uso, sem, contudo, abrir brechas para o processo da criação da propriedade territorial como pressuposto para a formação de um mercado de trabalho livre.
Os países ibéricos organizaram e financiaram as expedições e viagens interoceânicas, realizadas por marinhos ibéricos ou estrangeiros a serviço dos novos Estados peninsulares. Inicialmente os portugueses limitaram sua ação marítima ao comércio com Europa e África, mas, em 1415, a conquista de Ceuta, na costa marroquina, foi o início de uma expansão que não se interrompeu por mais de dois séculos, protagonizada por um país pequeno e pobre em recursos, em boa parte montanhoso e pouco apto para culturas agrícolas. Havia em Portugal superpopulação relativa e impossibilidade de crescer nos territórios vizinhos, dominados pela poderosa Castela, além de penúria em grãos, peixes e especiarias (e também em metais preciosos para comprá-los no exterior). Dois séculos antes dos portugueses, Gênova tentou sem sucesso a circum-navegação da África; italianos e catalães tentaram, em 1291 e 1348, navegar pelas costas africanas ao Sul do Cabo Bojador, também sem sucesso – depois dessas empreitadas, por quase um século, os europeus abandonaram a exploração da costa saariana. Quando esta foi retomada, em 1415, não o foi por mercadores mediterrâneos, mas por homens de uma pobre nação situada nos confins da Europa: por aventureiros e marinheiros portugueses com finalidades portuguesas.
A expansão marítima lusa esteve precedida por uma crise interna de grande envergadura. A Peste Negra dizimara as populações urbanas e rurais do país. Em 1375, o rei dom Fernando regulamentou através da Lei das Sesmarias a distribuição de terras abandonadas entre os privilegiados do Reino. As concessões eram livres de ônus, fora a obrigação de explorá-las em prazo determinado. Superada a pior fase da peste, os portugueses se lançaram além-mar. Pioneiro da exploração marítima, Portugal expandiu seus territórios nos séculos XV e XVI, estabelecendo o primeiro “império global” da história, com possessões em África, na América do Sul, na Ásia e na Oceania.[i] Ao descobrir a rota marítima para as Índias, Portugal tirou parte importante do comercio europeu ao Mediterrâneo, onde Veneza o dominava, para levá-lo ao Atlântico, onde Lisboa tomou a iniciativa. Em 1415, quando as forças do rei D. João I conquistaram Ceuta, eram movidas tanto pelo espírito de continuação da reconquista como pelo interesse comercial.
À medida que os muçulmanos atacavam e desviavam as rotas comerciais mediterrâneas dos europeus, Portugal investiu na exploração por mar ao longo da costa ocidental africana. A partir de 1419, navegadores experientes, dotados dos mais avançados desenvolvimentos náuticos e cartográficos da época, exploraram a costa ocidental de África, cada vez mais para o Sul. Em 1418 chegaram ao arquipélago da Madeira e em 1427 aos Açores, onde estabeleceram capitanias que prosperaram da agricultura e de uma florescente indústria de açúcar. Gil Eanes transpôs o Cabo Bojador em 1434, deixando atrás um obstáculo geográfico até então intransponível. Os motivos da primazia oceânica portuguesa/ibérica foram a boa tradição marinheira e as técnicas marítimas, entre as que se destacou a caravela, barco rápido, pequeno e de fácil manobra, o navio que possibilitou as viagens interoceânicas. A vela latina,[ii] já ilustrada numa miniatura do século IX, no século XII se estendeu por todo o Mediterrâneo e iniciou sua difusão para o Norte europeu. Nessa época apareceu o leme moderno, que substituiu o velho leme lateral. Após aperfeiçoar a caravela em meados do século XV, em 1479 navegantes lusos atravessaram o Equador. Os portugueses intensificaram a busca de um caminho marítimo para as “Índias”, o almejado Oriente, alternativo ao Mediterrâneo – dominado pelas repúblicas marítimas italianas, pelos otomanos, pelos mouros e por piratas – para participar no lucrativo comércio de especiarias. Em 1482, Dom João II alentou novos esforços na busca do extremo Sul da África, a despeito dos fracassos precedentes da empreitada.
Foi o início de uma série de viagens interoceânicas, pilotadas por navegantes experimentados, nas quais pequenos nobres embarcaram com vistas a enriquecer de modo súbito e retornar à metrópole em uma nova condição na hierarquia social. Quanto às tripulações, “ao embarcar em um navio rumo ao Novo Mundo, famílias portuguesas, aventureiros de toda espécie, nobres, religiosos, degredados, prostitutas e marinheiros deixavam para trás tudo o que se poderia relacionar com dignidade. Não havia a bordo privacidade nem garantia de integridade física – doenças, estupros, fome e sede eram riscos inerentes à viagem, sem contar o perigo de acidentes”.[iii] A coragem dos primeiros navegantes interoceânicos não foi uma lenda. Não só os comandantes, mas principalmente as tripulações, foram vítimas de uma enorme mortandade, devida aos perigos inerentes às empreitadas por rotas e terras desconhecidas, e também a doenças para as quais mal se conhecia algum tipo de remédio, como o escorbuto. Nessas condições, ficava impossível a preservação da saúde dos tripulantes, “sobretudo frente à dificuldade de abastecer as embarcações com provisões alimentares adequadas e capazes de resistir ao tempo longo e aos climas antagônicos das viagens inter-hemisféricas, muitas vezes estendidas para além do planejado em função de condições que nem sempre cabiam nos cálculos prévios de abastecimento feito em terra”, que fizeram um soldado da Companhia das Índias Ocidentais escrever que o Atlântico Sul se transformara num “sepulcro grande, amplo e fundo”.[iv]
Quando, em 1486, o rei português deu a Bartolomeu Dias o comando de uma expedição marítima, fê-lo com o motivo explícito de encontrar e estabelecer relações com o lendário rei cristão africano conhecido como Prestes João,[v] mas também para explorar o litoral africano e encontrar uma rota para o Oriente. As duas caravelas de cinquenta toneladas e sua nave auxiliar passaram primeiro pela baía de Spencer e o Cabo das Voltas. Finalmente, em 1488 Bartolomeu Dias dobrou o cabo do Sul do continente africano, entrando pela primeira vez no Oceano Índico a partir do Atlântico. Dias percebeu que tinha passado pelo extremo sul da África, superando o que ele chamou de “Cabo das Tormentas”: o rei português, com uma ideia mais precisa do que acontecera, mudou esse nome para “Cabo de Boa Esperança” devido às possibilidades que o domínio dessa nova rota abria para a Coroa. A abertura da rota direta entre a Europa e o Extremo Oriente, por meio da navegação do Cabo, acabou com o monopólio que o Egito islâmico detinha sobre essa via. Foi, não por acaso, em Portugal que Colombo começou a conceber seu pioneiro projeto de viagem transoceânico, inspirado pelo ambiente febril de navegações, descobrimentos, comércio e desenvolvimento científico que converteram Lisboa, na segunda metade do século XV, num rico e ativo porto de dimensão internacional, e Portugal no país dos melhores, mais audazes e experientes marinheiros, com os maiores conhecimentos náuticos da época.
Depois da chegada de Colombo às Américas, Portugal realizou também viagens de reconhecimento do novo continente, com Duarte Pacheco Pereira em 1498 e Pedro Alvares Cabral em 1500. E não passou muito tempo até Portugal se aventurar, com um ritmo vertiginoso, pelas latitudes orientais: “Exceto o Japão, que apenas é visitado em 1543, as restantes costas dos mares da Ásia foram reconhecidas pelos portugueses, os protagonistas da primeira expansão europeia por essas águas, no intervalo muito breve de quinze anos: entre 1500 e 1509, a exploração centrou-se no Índico ocidental, até Ceilão; o último destes anos coincidiu com a chegada a Malaca da esquadra do futuro governador Diogo Lopes de Sequeira, abrindo-se então a via dos ‘Mares do Sul’, um processo que está praticamente concluído entre o segundo e o terceiro ano posteriores à conquista da mesma cidade (1511). Foi a partir de Malaca que se explorou de modo sistemático o Índico oriental, os mares da China e do Arquipélago. Pela ordem com que foram reconhecidos: os portos do Golfo de Bengala (1511-1514); os portos do Sião (1511); as ilhas de Maluco (Maluku, ou ilhas Molucas) e Banda (1512); e a China (1513). A exploração prévia do Atlântico tardara três quartos de século. A rapidez com que se avança para Oriente explica-se em boa parte pelo aproveitamento que os recém-chegados revelam saber fazer da experiência das rotas, portos e monções que a navegação comercial asiática praticava aí com regularidade, sobretudo aquela de longo curso, liderada pelos muçulmanos”.[vi]
Como já observado, Portugal havia tomado a dianteira do processo de expansão ultramarina em águas africanas, atingindo Guiné em 1460, em 1471 Costa de Marfim, em 1482 o Congo, em 1488 o Cabo de Boa Esperança. Depois atingiu, em 1498, Calicute (Calcutá), com Vasco da Gama; em 1500 o Brasil, em 1512 as Ilhas Molucas; navios portugueses expulsaram os árabes de Sofala e de Zanzíbar, destruíram a frota egípcia, abrindo as rotas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Frédéric Mauro distinguiu três “épocas” no século XVI. Na primeira (1500-1530), o fato decisivo foi o de os portugueses se apropriarem do mercado das especiarias, e o Mediterrâneo, dominado pelos turcos, ceder seu espaço comercial ao Atlântico. Charles R. Boxer definiu Portugal como o primeiro “império global”: a primeira expansão oceânica portuguesa, no entanto, teve mais um caráter comercial (com enclaves e feitorias) do que propriamente colonial. Ainda assim, por volta de 1540, os portugueses detinham os mais importantes portos da Índia e do Extremo Oriente. Uma espécie de português “degenerado” se converteu na língua franca do Oriente não só entre nativos e portugueses, mas também entre marinheiros de diversas nacionalidades europeias, e continuou a ser usado até a segunda metade do século XIX. Os portugueses buscaram quebrar o domínio muçulmano e veneziano no acesso às especiarias e na exportação dos artigos de luxo asiáticos, e em estabelecer sua própria hegemonia nas rotas marítimas para a Ásia, o que quase conseguiram, mediante o estabelecimento de relações comerciais amistosas com produtores e comerciantes asiáticos.[vii] No século XVI, os navios portugueses sulcavam o Oceano Indico e transportavam quase metade das especiarias dirigidas à Europa e ao Império Otomano, um comércio do qual a Coroa portuguesa extraia grande parte de suas rendas.
Graças às expedições, em primeiro lugar portuguesas, na Europa se consolidou, paulatinamente, a ideia de um mundo que coincidia com a Terra tal como ela é: “Os limites do mundo real iam mudando com cada caravela que zarpava para circum-navegar as costas da África e o Nordeste, rumo às Índias… O rei de Portugal já havia enviado emissários judeus para buscar o reino de Prestes João, do qual se dizia que era um poderoso monarca cristão de terras remotas, que mantinha contato com as Tribos Perdidas (de Israel)”.[viii] Através da vontade febril de conhecer paragens desconhecidas, ou de verificar a realidade das lendas, se desenhava um processo histórico de raízes profundas, certamente inconscientes para a maioria de seus protagonistas: “A expansão portuguesa começou sob um modelo mediterrâneo clássico, embora suas consequências estivessem destinadas a acabar com a centralidade do Mediterrâneo (e da ‘Antiguidade’) para sempre”.[ix] Pois a força no Mediterrâneo já não bastava; a hegemonia comercial começava a se jogar em outro cenário. A descoberta das rotas para a América e o sucesso das tentativas portuguesas de circum-navegar a África provocaram o deslocamento do comércio mundial em direções opostas: os oceanos viraram o local do principal protagonismo comercial na Europa, deslocando o Mediterrâneo e o Mar Negro.
O financiamento estatal da empresa interoceânica foi precedido pelo financiamento privado por parte de colônias comerciais italianas instaladas em cidades hispano-portuguesas – Charles Tilly se referiu à participação decisiva nesse financiamento de condottieri e empresários genoveses, ansiosos por “colônias comercialmente viáveis” – assim como por comerciantes judeus sefarditas, das primeiras expedições atlânticas, que abriram o caminho para as viagens interoceânicas, e teve como precondição a criação de unidades estatais em Portugal e Espanha. Apoiada em conhecimentos geográficos ainda precários, a empresa ultramarina ibérica foi planejada e politicamente (isto é, religiosamente) legitimada. Em meados do século XV, a partilha do butim da futura expansão atlântica, que se supunha conduziria a terras desconhecidas, foi concordada antecipadamente pelos países ibéricos com a Igreja, com decretos como o do papa Nicolau V (em 1456) beneficiando o rei de Portugal, corrigidos pelos papas sucessivos. O papa autorizou em 1455 a servidão perpétua de populações consideradas “inimigas de Cristo”, justificando a escravatura de africanos (especialmente nas plantações dos portugueses na Madeira).
Lia-se na bula papal Romanus Pontifex: “Nós, considerando a deliberação necessária para cada uma das matérias indicadas, e visto que, anteriormente, foi concedido ao referido Rei Afonso de Portugal por outras cartas, entre outras coisas, a faculdade plena, em relação a qualquer sarraceno e pagão e outros inimigos de Cristo, em qualquer lugar onde eles se encontrem, reinos, ducados, principados, senhorios, possessões, bens móveis e imóveis possuídos por eles, de invadir, conquistar, combater, derrotar e subjugar; e de submeter à servidão perpétua os membros das suas famílias, para aproveitar em benefício próprio e de seus sucessores, para possuir e utilizar para seu próprio uso e de seus sucessores, reinos, ducados, condados, principados, senhorios, possessões e outros bens que lhes pertençam”. Pondo fim à guerra da sucessão de Castela, foi firmado o Tratado de Alcáçovas, em 4 de setembro de 1479, entre Afonso V de Portugal e os Reis Católicos, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. O tratado firmava a paz entre Portugal e Castela, assim como formalizava a renúncia do soberano português às suas pretensões ao trono castelhano. O Tratado também regulamentava as possessões dos dois países no Atlântico, reconhecendo o domínio de Portugal sobre a ilha da Madeira, os Açores, Cabo Verde e a Costa da Guiné, ao mesmo tempo em que atribuía as ilhas Canárias a Castela. Como Castela renunciava também a navegar ao sul do Cabo Bojador, traçava-se na prática uma linha ao Norte da qual as terras pertenceriam a Castela e, ao Sul, a Portugal. Pela primeira vez se regulamentava a posse de terras por descobrir. Motivações religiosas condicionaram as conquistas das potências cristãs no Oriente, na África e nos novos continentes.
Espanha e Portugal, potências emergentes, se viram favorecidas pelas decisões papais, suas economias receberam um choque de vigor do comércio ultramarino antes da ascensão da burguesia na Inglaterra, sob a rainha Elizabeth I, e da consolidação da potência continental da França, sob Henrique IV. A potência econômica nascente era, no entanto, a Holanda, destino dos fluxos monetários dos banqueiros venezianos. As potências ibéricas (Espanha e Portugal), no entanto, definiram uma nova etapa da expansão do comércio mundial. As viagens interoceânicas atlânticas mudaram as condições da partilha ibérica dos novos territórios. Quando Dom João II de Portugal os reivindicou, os monarcas espanhóis protestaram apelando para o papa e invocando um estatuto das Cruzadas que permitia aos governantes católicos se apropriarem de terras pagãs para propagar a fé. Em maio de 1493, atendendo à demanda de Espanha, o papa Alexandre VI emitiu uma bula, dirigida a toda a cristandade, em que reconhecia os direitos dos dois reinos sobre as terras descobertas e por descobrir não pertencentes, até o Natal de 1492, a nenhum outro soberano cristão. A bula Inter Coetera traçava uma linha fictícia, de Norte a Sul, distante cem léguas a ocidente dos Açores e de Cabo Verde, ilhas atlânticas pertencentes a Portugal, por meio da qual se atribuíam à Espanha todas as terras descobertas e por descobrir situadas a Oeste desse meridiano, e a Portugal as terras situadas a Leste.
Desse modo, na época da chegada de Colombo às terras americanas, Espanha e Portugal se encontravam em disputa para ganhar direitos sobre eventuais descobertas ultramarinas. Em 1481 Portugal tinha obtido do papa uma bula que separava as novas terras por um paralelo na altura das Ilhas Canárias, dividindo o mundo em dois hemisférios: o Norte, para a Coroa de Castela, e o Sul, para a Coroa de Portugal. Definiram-se dois ciclos da expansão: o ciclo oriental, pelo qual a Coroa portuguesa garantia seu progresso para o Sul e o Oriente, contornando a costa africana, e o ciclo ocidental, pelo qual a Espanha se aventurou no oceano Atlântico, em direção do Oeste. Foi como resultado desse esforço espanhol que Colombo chegou às terras americanas. A expansão ibérica operou o deslocamento do Mediterrâneo para o Oeste atlântico do centro de gravidade econômico e, portanto, geopolítico do mundo. Diversamente da prévia expansão hanseática, a expansão ultramarina ibérica trazia ainda no seu bojo a ideia de conquista de territórios; nobres associavam-se a comerciantes usando as viagens além-mar para dilatar a fé cristã. O papa (1492-1503) Alexandre VI, espanhol, emitiu uma série de quatro bulas estabelecendo uma política em favor da Espanha. As duas primeiras bulas davam à Espanha o título das descobertas de Colombo e de outras terras ocidentais, desde que a população nativa fosse convertida ao cristianismo. A terceira bula papal limitou a área ocidental para todas as terras descobertas, começando cem léguas a Oeste das ilhas de Cabo Verde e Açores. Essa bula deu aos espanhóis o direito às terras orientais através da circum-navegação pelo Ocidente. A quarta bula, a Dudum Siguidem, editada em agosto de 1493, anulava quaisquer ordens previas do papa que favorecessem os portugueses.
Em fins do século XV, ainda sem diplomacia internacional entre Estados, fazia-se necessária a bênção do papado para qualquer iniciativa internacional: a linha da bula Inter Coetera passava no meio do Oceano Atlântico e praticamente não incorporava terras do Novo Mundo ao quinhão de Portugal. Como o papa Alexandre VI prejudicasse com suas bulas todas as reivindicações do soberano de Portugal, os portugueses pressionaram por uma nova negociação com a Espanha com vistas a rever a posição do meridiano recém traçado. Essa reconfiguração vinculou-se à primeira tentativa de dividir o mundo mediante contrato entre Espanha e Portugal, finalmente realizado em 1494. Sem interferência do papado, o Tratado de Tordesilhas, que emendou as bulas papais, sendo o primeiro documento em que os interesses das nações subordinaram os interesses da cristandade, foi firmado pelo Rei de Portugal e os Reis Católicos, redefinindo a distribuição do mundo. O meridiano de Tordesilhas foi estipulado a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, ampliando as cem léguas originalmente dispostas pela Bula Inter Coetera. As terras a Oeste pertenceriam à Espanha e as terras a Leste, a Portugal: “A controvérsia sobre as futuras descobertas se resolveu adotando a tese castelã, um meridiano, em vez do paralelo do Cabo Bojador, como pretendiam os portugueses. Este critério prevaleceu no tratado eferente à questão africana… Essas cláusulas anularam a paz de 1479 e as bulas papais de 1493”.[x]
Pela primeira vez, Estados impunham sua vontade ao Vaticano, nada menos que para dividir o mundo conhecido, e também aquele por conhecer. O tratado foi ratificado pelo papa Júlio II em 1506, quando decidiu-se também proceder à determinação exata do meridiano. Na prática, o meridiano de Tordesilhas resultou na incorporação de uma grande fração do território do Novo Mundo aos domínios de Portugal. A linha de Tordesilhas nunca foi demarcada com precisão durante o período colonial, variando a interpretação dos cartógrafos que se debruçaram sobre a empreitada. No entanto, a descoberta das Ilhas Molucas (as ilhas das especiarias) levantou um questionamento sobre a extensão da linha de Tordesilhas, que dividia o orbe ao meio, mas cujo traçado do outro lado do mundo (o hemisfério Sul) permanecia indefinido. Como na época não existiam técnicas de medição de longitudes, foi necessário resolver a questão por meio da barganha, da que resultou o Tratado de Zaragoza, de 22 de abril de 1529, firmado por D. João III de Portugal e Carlos V da Espanha. Por esse acordo Portugal pagaria à Espanha pela posse das Ilhas Molucas, enquanto que o meridiano de Zaragoza seria traçado a partir das Ilhas das Velas, próximas às Molucas.
À medida que o século XVI avançava, a superioridade naval otomana no mundo conhecido foi desafiada pelo crescente poder marítimo da Europa ocidental, particularmente de Portugal, no Golfo Pérsico, Oceano Índico e nas ilhas das Especiarias. O comércio triangular Europa-África-América provocou uma grande acumulação de dinheiro, que estabeleceu as bases para o financiamento do capitalismo europeu. Marx esteve entre os primeiros a estabelecer o elo entre a violência externa nas colônias e a acumulação interna de capital na Europa: “Conquista, pilhagem, exterminação; esta é a realidade de onde vem o afluxo de metais preciosos para a Europa no século XVI. Através dos tesouros reais da Espanha e de Portugal, das caixas dos mercadores, das contas dos banqueiros, esse ouro estava totalmente ‘lavado’ quando chegava aos cofres dos financistas de Gênova, de Antuérpia ou de Amsterdã”:[xi] Na Europa, “o uso de metais preciosos era essencial. Sem eles, na Europa teria faltado a confiança coletiva para desenvolver um sistema capitalista, no qual o lucro é baseado em vários diferimentos do valor realizado”.[xii]
Outros processos políticos, com consequências geopolíticas, aconteciam na Europa. Assim como os Países Baixos, Inglaterra foi beneficiada pelo fluxo migratório decorrente das perseguições religiosas empreendidas em Espanha e Portugal, além de desenvolver uma grande habilidade para se apropriar de novas tecnologias e aperfeiçoá-las.[xiii] O desenvolvimento amplo do comércio europeu teve obstáculos na intransigência religiosa cristã, que expulsou de grande parte da Europa os judeus: da Inglaterra em 1290, da França em 1306, depois definitivamente em 1394, da Espanha em 1492, de Portugal em 1496. A Inquisição (Tribunal do Santo Ofício) expulsou centenas de milhares de judeus até então concentrados na Península Ibérica (favorecendo seu espalhamento por territórios mais amplos), muitos deles comerciantes de longo percurso, espalhando-os em várias direções, na Europa ou fora dela. Eles foram responsáveis pela criação de algumas das primeiras redes comerciais de alcance mundial. Isso ajudou a deslocar o centro internacional do comércio, situado incialmente nos países ibéricos dominados por dinastias católicas, para outras direções, o que favoreceu a tese, defendida por Werner Sombart, que fez dos judeus os responsáveis pela emergência do capitalismo.
Em Portugal, alguns judeus presos e supliciados pela Inquisição reivindicaram a liberdade de pensamento: Izaque de Castro, em 1646, dizia aos seus juízes do Tribunal do Santo Ofício: “A liberdade de consciência é um direito natural”. Num quadro dominado pela expansão do capital comercial e financeiro, “a diáspora judaica favoreceu as redes de confiança propícias ao desenvolvimento dos bancos e do comércio. A expulsão ocorrida na Espanha (1492) e em Portugal (1496)[xiv] dos judeus que recusaram a conversão criou uma diáspora na Toscana (Livorno), nos Países Baixos (Amsterdã), em Londres, em Hamburgo, em Veneza, no Império Otomano (Tessalônica, Izmir, Istambul, Alexandria, Túnis), em Marrocos. Nos séculos XVI e XVII, os marranos[xv] deixaram Espanha e Portugal, estabelecendo-se em Amsterdã e em Livorno, onde certo número deles se rejudaizou livremente; em Bordeaux, Londres e Hamburgo mantiveram sua dupla identidade – publicamente cristã e, em privado, judaica”.[xvi]
No meio desses acontecimentos, Portugal se desdobrou: em 1500, o português Pedro Álvares Cabral, capitão-mor da armada da primeira expedição portuguesa às Índias depois do retorno de Vasco da Gama, chegou ao Brasil com treze navios e 1.200 homens (compare-se com os menos de cem homens em três navios da primeira expedição colombina, apenas oito anos antes), a maior frota até então organizada em Portugal, com a missão de fundar uma feitoria na “Índia”. Depois de instalada, Cabral seguiu para a África e Calicute, onde capturou barcos árabes e carregou produtos locais e especiarias, retornando a Lisboa em junho de 1501. A “corrida pelo mundo” estava lançada, com vastas consequências. Nos países ibéricos, “o entusiasmo pela descoberta e conquista das Índias deu lugar a que a valorização dos modernos se impusesse à da Antiguidade clássica, transformando profundamente o aspecto do humanismo renascentista” nesses países.[xvii] Em Portugal “os descobrimentos trouxeram um manancial de informações e noções da mais variada ordem”. Através dessas fontes, e da observação das coisas, “sobretudo nos que as viram ou viveram em ação ou pensamento, emergia uma consciência intelectual, intuitiva e prática, que não raro afetava a cultura teórica”.[xviii]
Portugal, sobretudo, teve papel central no surgimento e estabelecimento da escravidão moderna, que assumiu dimensões de hecatombe demográfica na África. A captura portuguesa de escravos africanos começara em 1441, quando Afetam Gonçalves sequestrou um casal na costa ocidental do Saara para presentear o rei de Portugal, que o recebeu com visão comercial da potencialidade do feito. Em 1443, Nuno Tristão trouxe o primeiro contingente importante de escravos africanos, vendendo-o com lucro em Portugal: “No comando do assalto das comunidades do litoral atlântico africano e da procura de caminho para as Índias, a Coroa lusitana recebeu de Roma o monopólio sobre aqueles mares e o direito de escravizar os habitantes do litoral, em paga pelos gastos e esforço com a extensão do cristianismo. Em 1444, o cronista real Eanes de Zurara descreveu em Crônica de Guiné, o primeiro desembarque significativo no Algarve, no sul de Portugal, de cativos berberes e negro-africanos capturados na costa atlântica setentrional da África. Lembrou que, apesar de desesperados, os cativos eram favorecidos pela nova situação, pois obteriam, em troca da prisão dos corpos, a libertação eterna das almas. Os lusitanos justificaram sobretudo a escravidão dos negro-africanos por sua proposta inferioridade física e cultural, expressa no corpo negro e no baixo nível cultural dos aprisionados, chegados do litoral africano. Explicação não funcional à escravidão dos mouros, de nível cultural igual ou superior aos lusitanos. Os negro-africanos foram denominados de ‘mouros pretos’ e, ao superaram os muçulmanos em número, simplesmente de ‘pretos’ e ‘negros’. Por primeira vez na história, uma comunidade tornou-se a sementeira dominante de cativos”.[xix]
Em 1444, seis caravelas portuguesas foram enviadas em busca de escravos e, em 1445, 26 expedições se dirigiram com esse e outros fins para as costas africanas ocidentais. Em meados do século XV começou, assim, o tráfico negreiro em grande escala com centro europeu. Inicialmente produto de iniciativas individuais, que se limitavam ao filhamento (adoção forçada) de mulheres e crianças isoladas, ou a captura da população de pequenas aldeias costeiras, na segunda metade do século XV a escravidão africana impulsionada pelos portugueses começou a ganhar novos contornos: “Incitavam os caciques e reis negros a entabular guerras entre si; ao vencedor compravam os prisioneiros de guerra, com o que financiavam os gastos para novos combates. A escravidão já não mais era fenômeno secundário ou consequência de guerras, mas o objetivo das mesmas. Os portugueses se aliavam com maometanos contra maometanos, com pagãos contra pagãos; o botim de prisioneiros de guerra lhes era repassado como escravos, por contrato prévio. Essa mercadoria era enviada, acorrentada, aos postos de distribuição em Portugal. Pendiam deles longas correntes amarradas ao pescoço”.[xx] A partir de 1450, mas de mil escravos começaram a chegar anualmente a Portugal. No período 1469-1474, os portugueses chegaram ao Golfo de Biafra, encontrando um tráfico local de escravos maior e melhor organizado, além de outras riquezas tentadoras: pimenta malagueta, marfim e ouro, que abriram novas oportunidades comerciais e permitiram aos portugueses penetrar em mercados europeus, inclusive bem longe de seu país, onde antes eram desconhecidos. Em 1479, Castela reconheceu que a África ocidental era esfera de ação exclusivamente portuguesa. No século seguinte, Portugal se consolidou como grande potência marítima, comercial e escravista, possuindo um quase monopólio de tráfico africano.
O traslado dos escravos era realizado nos porões de barcos superlotados (onde os africanos viajavam acorrentados), que provocaram uma mortandade imensa. A média de escravos mortos durante a travessia atlântica nos navios negreiros foi estimada, para o período 1630-1803, em quase 15%, existindo estimativas maiores. Mesmo com essas perdas, oito vezes mais africanos do que portugueses compuseram o futuro Brasil, chamado em Portugal de “a colônia que deu certo” (et pour cause), principal destino americano do tráfico negreiro. A partir de 1600, os portugueses sofreram a concorrência de ingleses e holandeses, não só em matéria de escravidão: “Foram precisamente as nações do Noroeste de Europa as que desenvolveram mais plenamente (e também de forma mais cruel) o sistema escravista afro-americano. Ou seja, aqueles ‘povos’ que supostamente mais odeiam a própria ideia de escravidão foram aqueles que mais sistematicamente a praticaram com seus ‘outros’. E este está longe de ser o único fenômeno paradoxal da modernidade, se lembramos que, por exemplo — e ao contrário do que costuma pensar um senso muito comum encarnado – as piores perseguições e execuções da Inquisição e as mais sistemáticas ‘caça às bruxas’ não ocorreram na Idade Média, mas a partir do século XVI e XVII, e suas formas mais concentradas não ocorreram tanto na Espanha quanto no Norte da Europa (na Alemanha, na Suíça, na Holanda e parcialmente na França)”.[xxi]
As cifras totais da escravidão americana são imprecisas: Katia de Queirós Mattoso apontou mais de 9,5 milhões de africanos transportados para as Américas entre 1502 e 1860, com o Brasil português na condição de maior importador (em torno de 40% do total do tráfico). O tráfico de escravos atingiu seu ápice no século XVIII, já bem avançada a “era do capital”. Segundo estimativas que contabilizaram todas as formas de tráfico, entre finais do século XV e a segunda metade do século XIX a escravidão africana implicou na captura, venda e traslado de aproximadamente treze milhões de indivíduos (Eric Williams chegou a estimar uma cifra superior a 14 milhões).[xxii] Só a título de comparação, a emigração “branca europeia” para as Américas, entre o descobrimento inicial e 1776, mal superou um milhão de indivíduos. Durante o século XVI o tráfico negreiro foi monopólio português. Só bem depois de Portugal, Inglaterra fundou, a partir de 1660, entrepostos africanos de captação de escravos para as plantações americanas. Os holandeses, por sua vez, importaram escravos da Ásia para sua colônia na África do Sul. No Brasil, o cultivo de cana de açúcar em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro gerou a necessidade de cada vez mais escravos, só depois a exploração aurífera tomou o lugar mais importante, não cessando, porém, a importação de africanos destinados à agricultura.
Entre 1500 e meados do século XVIII, o Brasil colonial foi a região americana que mais importou escravos, mais de dois milhões de pessoas, seguido, de longe, pelas Antilhas britânicas, com pouco mais de 1,2 milhão. Segundo Mário Maestri “Talvez cinco milhões de cativos e cativas chegaram ao Brasil [até a segunda metade do século XIX], arrancados de múltiplas regiões da África Negra, com destaque para o Golfo da Guiné e os atuais litorais angolano e moçambicano. Para além de concentrações esporádicas de cativos de mesma origem em algumas regiões e épocas do Brasil colonial e imperial, dominou uma miríada de africanos de línguas, culturas, tradições diversas”. Os lucros desse tráfico escravista foram parte substancial da acumulação de capital por vários séculos: “A viagem de um tumbeiro entre Bahia e Serra Leoa nos anos 1810 podia gerar retorno de mais de 200% sobre o capital investido… O segundo Banco do Brasil nasceu com capital do tráfico e viveu de empréstimos a escravistas… Os grandes proprietários escravistas tinham lucros polpudos porque exerciam poder de monopólio. Detinham as melhores terras, pois obtinham o seu crédito sob a forma de estoques de escravizados. Assim inundavam os mercados mundiais de artigos tropicais. No caso dos traficantes, algumas famílias controlavam mais da metade do mercado negreiro no Rio de Janeiro”.[xxiii] Aexploração econômica do Novo Mundo teria sido impossível sem a maciça escravidão africana. Ela foi sacralizada já em seus estágios iniciais pela Igreja cristã: já na bula Dum Diversas, de 1452, o papa Nicolau V concedera ao rei de Portugal, D. Afonso V, e a seus sucessores, a faculdade de conquistar e subjugar as terras dos “infiéis” e de reduzi-los à escravatura.
A mão de obra escrava foi usada, em primeiro lugar, na mineração do Novo Mundo. A necessidade de metais preciosos por parte de Europa estava determinada pela sua baixa produtividade, especialmente agrícola, em relação ao Oriente, produtividade cujo aumento era o primeiro passo necessário para garantir a alimentação de todos os membros da sociedade e, em seguida, para propiciar a existência de muitas pessoas alimentadas pelos excedentes agrícolas e empregadas em atividades administrativas, militares, sacerdotais, comerciais, artesanais e industriais. Foi sobre essas necessidades, por vezes prementes, que se desenvolveu inicialmente a impulsão da economia do sistema colonial ibero-americano. No caso português, sua política permitiu que uma “Coroa pobre, mas ambiciosa em seus empreendimentos (e que) procurava apoio nos vassalos, vinculando-os às malhas das estruturas de poder e à burocracia do Estado patrimonial”,[xxiv] construísse um império colonial. Esses vassalos foram os colonos, que assumiram, por sua conta, os riscos do empreendimento colonial, recebendo vantagens e privilégios in situ.
O sistema escravista esteve também, desde os primórdios da colonização da América, vinculado à grande lavoura: “Escravidão e grande lavoura constituíram em muitas áreas a base sobre a qual se ergueu o sistema colonial, que vigorou por mais de três séculos”.[xxv] Na verdade, quase quatro séculos. No caso do futuro Brasil, as terras americanas recebidas e ocupadas por Portugal pareciam carecer de metais preciosos e de culturas indígenas desenvolvidas o suficiente para fornecer suficiente mão de obra, como sim acontecia em algumas zonas importantes na América espanhola. O problema para a Coroa portuguesa consistiu em encontrar o tipo de exploração que contribuísse para financiar os gastos resultantes da posse de terras tão extensas e distantes. Fatores especiais ensejaram o estabelecimento à base da produção de açúcar: domínio da sua técnica de produção, aprendida dos italianos e que já havia sido usada nas ilhas Açores; ruptura do monopólio comercial europeu do açúcar, detido até então por Veneza em colaboração com os holandeses, o que abria aos portugueses os mercados do Atlântico Norte. A escravização do indígena permitiu o estabelecimento dos primeiros engenhos. O “senhor do engenho”, autoridade acima de todas no Brasil português, não aceitava ordens, nem mesmo dos representantes de Deus. Foi, por isso, identificado com o senhor feudal. Nas aldeias e locais de trabalho, o cruzamento da língua portuguesa com o tupi, etnia indígena majoritária, deu lugar à “língua geral”, a partir da evolução histórica do tupi antigo, usada no cotidiano da colônia até bem entrado o século XVIII.
Adquirida maior rentabilidade pelas explorações agrícolas e mineiras, a mão de obra indígena foi sendo substituída pelo trabalho do negro africano. A plantação açucareira, utilizando o trabalho escravo, constituiu a base da colonização do Nordeste do Brasil, chegando ao seu auge em fins do século XVI e começos do seguinte. O açúcar destacou-se como o produto mais importante e regulador dos outros cultivos agrícolas coloniais; o trabalho do escravo negro foi a base dessa expansão econômica. O colono era aquele que promovia “a devastação mercantil e o desejo de retornar ao reino, para exibir as glórias da opulência”.[xxvi] E não haveria limites para sua atuação. Os espaços destinados à lavoura de subsistência dos escravos reduziam-se à medida que aumentava a procura do açúcar nos mercados europeus. O espaço produtivo era regulado de acordo com as necessidades econômicas do momento, tendo como a menor preocupação a garantia de condições de sobrevivência ao índio ou ao negro escravo. Na formulação simples e contundente de Alberto Passos Guimarães: “Sob o signo da violência contra as populações nativas, cujo direito congênito à propriedade da terra nunca foi respeitado, e muito menos exercido, nasceu e se desenvolveu o latifúndio no Brasil. Desse estigma de ilegitimidade, que é seu pecado original, jamais ele se redimiria”.[xxvii]
Com a colonização baseada na produção ou extração de bens primários para exportação ficaram postas as bases do latifúndio brasileiro. Quando Dom João III, rei de Portugal, dividiu sistematicamente o território colonial português na América em latifúndios denominados capitanias, já existiam capitães-mores nomeados para elas. O que se fez então foi demarcar o solo, atribuir-lhes ou declarar-lhes os respectivos direitos, e estabelecer os deveres que tinham os colonos que pagar ao rei ou aos donatários, com a suma dos poderes conferidos pela Coroa portuguesa autorizando-os a expedir forais, uma espécie de contrato em virtude do qual os sesmeiros ou colonos se constituíam em perpétuos tributários da Coroa e dos seus donatários ou capitães-mores. A terra dividida em senhorios, dentro do senhorio do Estado, esse foi o esboço geral do sistema administrativo na primeira fase da história colonial do Brasil. As esferas do público e do privado estavam imbricadas: havia uma relação confusa entre o Estado e os particulares. A Coroa repassava as tarefas públicas aos particulares: a administração de territórios e cobrança de impostos e, por outro lado, as pessoas que exerciam tarefas administrativas, direta ou indiretamente ligadas ao Estado, delas se utilizavam para benefício próprio. Um alto funcionário que pretendia voltar enriquecido para a metrópole portuguesa só teria problemas se mexesse no dinheiro da Coroa ou se entrasse em choque com as frações de colonos mais importantes.[xxviii] A Coroa portuguesa fez uso da iniciativa particular, e nela se apoiou para desenvolver seu projeto colonial, mas sempre sob seu controle: usava recursos humanos e financeiros particulares para atingir seus projetos de colonização, sem lhe caber nenhum ônus, embora cedendo, em troca desse apoio, terras, cargos, rendas e títulos nobiliárquicos.[xxix]
A Coroa portuguesa só atuava diretamente quando a situação o exigia ou quando os benefícios eram claros de antemão. No início do processo de colonização americana, a Coroa reservava para si o pau brasil, mesmo que arrendasse sua exploração e que cedesse a exploração e extração de metais, ainda desconhecidos, guardando para si a possibilidade de cobrança do quinto. O governo geral da colônia foi criado no momento em que a resistência indígena ameaçava a continuidade da presença portuguesa de São Vicente a Pernambuco. Dessa forma se estabelecia a relação entre a Coroa, mediada ou não pelos seus representantes na colônia – donatários, governadores gerais – e os colonos. A Coroa utilizava-se da iniciativa e dos recursos particulares, e os colonos procuravam recompensas por seus serviços, as “honras e mercês”, frequentes nos documentos coloniais.[xxx] A Coroa utilizou-se largamente dessa política de concessões em troca de serviços: um projeto particular aprovado pela Coroa sempre continha promessas de honras e mercês. O próprio rei incentivava tal política solicitando informações sobre os colonos e, ainda, orientando os governadores para informar os colonos do contentamento ou não da Coroa com os serviços prestados.[xxxi]
O objetivo principal do espanhol ou do português que empreendia a conquista era extrair um excedente que pudesse ser transferido para a Europa. O caráter parasitário do sistema colonial carecia das características que deram base de sustentação histórica ao feudalismo ou ao capitalismo na Europa. O trabalho escravo nas Américas esteve diretamente relacionado à consolidação da infraestrutura comercial necessária para a exportação. Haveria, portanto, separação rígida entre senhores e escravos, que implicava em regras de conduta e respeito, sob pena de castigo: o negro era propriedade de seu senhor, e este fazia o que quisesse dele. O negro tornou-se o elemento produtivo e trabalhador principal da América portuguesa porque o colono não tinha interesse em trabalhar (ele queria ostentar riqueza e títulos de nobreza) e também porque os índios, bons caçadores, pescadores e extrativistas, não se adaptaram ou resistiram o trabalho metódico que exigia a grande lavoura. O escravo africano constituiu, assim, uma necessidade produtiva na colônia, do ponto de vista dos colonizadores.
Para as potências colonialistas, as posses de além-mar deviam, antes do mais, fornecer à metrópole um mercado para seus produtos; dar ocupação aos seus produtores desempregados, artesãos e marinheiros; fornecer-lhe certa quantidade dos artigos (exóticos ou essenciais) de que precisava, assim como produtos de exportação para outros países. As colônias deviam ser, e foram durante um longo período, fatores do enriquecimento econômico da metrópole. Nas diversas etapas do sistema colonial, só na última o colonialismo se configurou definitivamente como alicerce orgânico do capitalismo metropolitano: “As diversas etapas da acumulação originária têm seu centro, por ordem cronológica, na Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. É aí, na Inglaterra, onde em finais do século XVII se resumem e sintetizam sistematicamente, no sistema colonial, o sistema da dívida pública, o moderno sistema tributário e o sistema protecionista”.[xxxii]
Embora as Américas fossem as “joias da Coroa”, a expansão colonial portuguesa também chegou à Ásia. Em 1513 os portugueses chegaram à China e em 1543, usando a rota aberta no final do século precedente por Bartolomeu Dias, navios portugueses, em viagem comercial à China, chegaram, graças a um desvio provocado por uma tempestade, ao Japão, onde encontraram “o melhor dos povos descobertos até o presente, e certamente não acharemos melhor entre os infiéis. São de comércio agradável; geralmente bons, carecem de malícia e se sentem orgulhosos de sua honra, que estimam mais do que qualquer outra coisa”. O missionário jesuíta Francisco Xavier chegou ao grande arquipélago do Extremo Oriente em 1549, abrindo um importante contato comercial. No esteio dele, centenas de milhares de súditos japoneses se converteram ao cristianismo. Os portugueses (chamados pelas autoridades japonesas de “bárbaros do Sul”) descobriram a oportunidade agir como intermediários principais da Europa no comércio asiático.[xxxiii]
A instalação dos portugueses em Nagasaki se realizou em 1570, ao mesmo tempo em que o espanhol Miguel López de Legazpi iniciava a colonização espanhola das Ilhas Filipinas, seguida logo depois pela fundação de Manila. No Japão, os portugueses “tiraram a sorte grande em relação ao comércio de especiarias; em 1571, o Estado (português) estabeleceu instalações permanentes no porto de Nagasaki, administrado pelos jesuítas, para explorá-lo. No início, a Coroa concedeu, por mérito no serviço, licenças para viagens da Índia não só ao Japão, mas também a Macau, como presente para funcionários portugueses ou oficiais. Portugal apreciou rápido o potencial do comércio Japão-China em prata e seda, e lutou para extrair o máximo de vantagem… Estimava-se em 200 mil ducados o retorno de uma única viagem de ida e volta, mais da metade do que Portugal pagara à Espanha para renunciar em caráter permanente a suas reivindicações pelas Ilhas da Especiarias”.[xxxiv] A Coroa portuguesa começou a regular o comércio com o Japão vendendo para o maior lance a “capitania” anual para o Japão, conferindo direitos de comércio exclusivos para uma única nau realizar a atividade.
Esse comércio continuou com algumas interrupções até 1638, quando foi proibido pelo fato de os navios portugueses estarem contrabandeando padres católicos para dentro do Japão. O comércio português já encarava cada vez mais a concorrência de contrabandistas chineses, navios espanhóis de Manila, os holandeses a partir de 1609, e os ingleses a partir de 1613. Os holandeses chegaram pela primeira vez no Japão em 1600, se dedicaram à pirataria e ao combate naval para enfraquecer os portugueses e espanhóis, tornando-se os únicos ocidentais a terem acesso ao Japão a partir do pequeno enclave de Dejima após 1638 e pelos próximos dois séculos. Em 1614, o decreto anticristão do Xogum de Tokugawa fechou o país às influências e contatos europeus, o que se prolongou ao longo de dois séculos e meio: “A comparação entre o escasso papel obtido pelos portugueses na China e no Japão, em relação aos sucessos obtidos no Oceano Índico, nos revela um dos motivos desse sucesso. Tanto na Índia como mais ao Ocidente, os portugueses aproveitaram a multiplicidade dos sistemas políticos ali existentes, que interatuavam entre eles, e usaram os espaços deixados vazios pelos adversários locais empenhados em contínuos conflitos”.[xxxv]
O comércio português com os japoneses, que incluiu até a troca de palavras (o arigatô japonês ou o sha, ou xá, português) se estendeu até o fim do século XVI, e foi acompanhado da evangelização cristã, que adquiriu tons agressivos, criticando ao budismo japonês sua não crença na vida após a morte, e sua permissividade para com “o vício de Sodoma”. Em 1590 já havia, segundo os jesuítas (já constituídos em guardiões mundiais do papado), 300 mil cristãos no Japão, recrutados tanto na casta dos grandes senhores quanto no povo. No final do século as relações comerciais luso-japonesas entraram em declínio, graças, primeiro, à chegada dos holandeses, comerciantes “modernos” que não faziam questão de misturar comércio com proselitismo religioso, e depois à unificação do país sob a égide do xogun Tokugawa, que pôs fim ao “século cristão” do Japão. Além de suas incursões asiáticas, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, criada em 1621,[xxxvi] obteve o monopólio de um quarto de século sobre comércio e navegação na costa ocidental da África, região parcialmente ocupada por portugueses, de quem os holandeses tentaram também subtrair as regiões açucareiras do outro lado do Atlântico. A presença portuguesa no Extremo Oriente continuou na ilha de Macau, concedida para uso comercial pelo imperador chinês. Os comerciantes portugueses se estabeleceram em uma ilha no sudoeste do Japão, introduzindo as armas de fogo no país. Nas suas expedições de ultramar, os portugueses raramente avançavam muito além das costas, mas passaram a controlar vinte mil quilômetros de costas em três continentes.
Parecia que as potências ibéricas, donas do mundo, iriam se chocar pelo poder mundial no teatro asiático. A “União Ibérica” evitou isso: ela regeu a Península Ibérica de 1580 a 1640, como resultado da união dinástica entre as monarquias de Portugal e da Espanha após a guerra da sucessão portuguesa, iniciada em 1578, quando o Império Português estava no seu auge. A predação das feitorias portuguesas no Oriente por holandeses, ingleses e franceses, e a intrusão destes no comércio atlântico de escravos, minou o lucrativo monopólio português no comércio oceânico de especiarias e no tráfico de escravos, iniciando um longo declínio do império luso. Durante a união com a Espanha, no entanto, Portugal se beneficiou do poderio militar espanhol para manter o Brasil sob o seu domínio e impedir o comércio holandês, mas os acontecimentos levaram a metrópole lusa a um estado de dependência econômica crescente das suas colónias, da Índia e depois do Brasil. A União Ibérica resultou no controle pelos reinos peninsulares unificados de uma extensão de amplitude mundial: Portugal dominava as costas africanas e asiáticas em torno do Oceano Índico; Castela, o Oceano Pacífico e as costas da América Central e do Sul, enquanto ambos compartilhavam o espaço do Atlântico.
A junção das duas coroas, no entanto, privou Portugal de uma política externa independente, e levou o país a conflitos contra os inimigos da Espanha. A guerra de portugueses contra holandeses levou a invasões destes no Ceilão e, na América do Sul, em Salvador, em 1624, e em Olinda e Recife em 1630. Sem autonomia nem força para defender suas posses ultramarinas face à ofensiva holandesa, o reino português perdeu boa parte de sua antiga vantagem estratégica. Na metrópole, a nova situação, que afetava também a situação interna do Reino, culminou numa revolução encabeçada pela nobreza e a alta burguesia portuguesa em dezembro de 1640. A subsequente “Guerra da Restauração Portuguesa” contra Filipe IV da Espanha concluiu com o fim da União Ibérica e no início de uma nova dinastia portuguesa, depois de uma guerra marcada pelo esgotamento do erário público, das tropas, e o descontentamento das populações depois de um longo conflito.[xxxvii] A velha posição internacional de Portugal não foi recuperada, embora fosse restaurada a independência do país sob a dinastia dos Bragança.[xxxviii] O declínio do “primeiro império global” marcou o fim de uma primeira fase da acumulação primitiva de capital nas metrópoles europeias. Outras viriam, superando-a, mas mantendo sua base escravocrata.
As novas relações mundiais condicionaram a nova ordem europeia, consagrando o retrocesso da potência ibérica. No final do século XVI se evidenciou o início de uma reviravolta do equilíbrio do poder e a mudança do eixo econômico para o Mar do Norte; o ensejo do declínio da Espanha, de Portugal e da Itália e a emergência dos “Países Baixos do Norte” (a Holanda) e da Inglaterra. Os confrontos entre potências europeias nos séculos XVI e XVII foram de tal alcance que Charles R. Boxer não vacilou em qualifica-los como “primeira guerra de alcance mundial”. Em O Capital, Marx se referiu à “guerra comercial entre as nações europeias, tendo o globo terrestre como palco. Ela é inaugurada pelo levante dos Países Baixos contra a dominação espanhola (e) assume proporções gigantescas na guerra antijacobina inglesa”. Por diversas razões, vinculadas com sua estrutura econômica interna, “a área do Mediterrâneo (Portugal, Espanha, Itália, o Império Otomano), em ascensão econômica no século XVI, sofreu um declínio que, sob muitos aspectos, foi absoluto, e envolveu também o Noroeste da Europa”.[xxxix]
A partir da segunda metade do século XVI, “o fato mais sobressalente foi o progresso das potências marítimas do Oeste e do Noroeste de Europa, ocupando o lugar de Espanha e Portugal. França tinha um papel de importância secundária, embora honorável. Seu comercio exterior se desenvolvia principalmente com Espanha, que tinha necessidade de seus produtos e só podia pagar com numerário, e com Inglaterra, onde os produtos agrícolas da França eram bastante solicitados… Foi também na segunda metade do século XVI quando os ingleses começaram a tomar parte no grande comercio marítimo, impulsionados pelos Tudor que, tendo grandes necessidades de dinheiro, se esforçaram em desenvolver as forças econômicas da nação e inauguraram, sob o reinado de Elizabeth, uma intensa política nacionalista”.[xl] Enquanto Inglaterra resolvia seus problemas de unificação interna e segurança externa, Holanda reconstruiu a rede das finanças e do comércio mundiais, chegando até a Índia. A marinha militar holandesa havia sido concebida e organizada para defender suas rotas marítimas comerciais orientais e atlânticas, onde Holanda enfrentou a concorrência da França, Inglaterra, Portugal e Espanha, além da guerra corsária.
Portugal começou a ser ameaçado nas suas posses mais extensas e prezadas. A partir de 1626, os franceses se estabeleceram em definitivo ao Norte da América do Sul, no território da Guiana, gerando mais tarde conflitos de fronteira com Portugal. A nova conjuntura internacional do século XVII, com o surgimento de novas potências marítimas e a contestação do domínio ibérico, e a crise das relações entre metrópoles e colônias, foi o pano de fundo das “guerras do açúcar”, iniciadas com a invasão holandesa do Nordeste brasileiro em 1630. A luta entre luso-brasileiros e holandeses teve um fator de propulsão: o açúcar. Os dois lados buscavam monopolizar a produção e o comércio do produto, visto que ele continuava com intensa procura na Europa. A ocupação holandesa do Nordeste brasileiro no século XVII teve esse intuito: com a Companhia das Índias Ocidentais (WIC) Holanda reforçou seu poder naval, podendo assim invadir o litoral nordestino, tomar Olinda e Recife, sustentar uma guerra e dominar as principais regiões produtoras de açúcar. A defesa dos luso-brasileiros foi financiada principalmente por impostos advindos da comercialização clandestina de açúcar, que faziam nas áreas não controladas pelos holandeses, visando expulsar os invasores para retomar seu acesso às principais áreas produtoras de açúcar.
O objetivo holandês era o domínio da agricultura monocultora e de seu comércio: recuperar tais posições tornou-se questão de sobrevivência para os luso-brasileiros. No início, a política holandesa foi de combater a escravidão, mas assim que percebeu a vantagem econômica desta, passou a adotá-la, inclusive estabelecendo seu monopólio por parte da WIC. Inicialmente, as condições dentro dos navios negreiros holandeses eram piores do que as dos navios portugueses. Somente depois é que passaram a usar melhores condições, que permitiram melhores lucros com menor mortandade dos negros transportados. A preferência dos exportadores holandeses de mão de obra era pelos angolanos, que eram “melhor adaptados ao trabalho escravo”. Apesar disso, o tratamento dado aos escravos pelos holandeses era melhor do que o oferecido pelos portugueses. A maior tolerância holandesa em relação aos indígenas foi motivada pelas revoltas índias no Maranhão e no Ceará, que os levou a promover, em abril de 1645, um acontecimento único na história do Brasil colonial: a convocatória de uma assembleia democrática de todos os povos indígenas que se encontravam dentro do seu território, realizada em Tapisserica (Goiânia), com representantes de vinte aldeias indígenas e de dois representantes oficiais da Holanda. A assembleia reivindicou, pela primeira vez nas Américas colonizadas, o fim da escravidão dos índios e a liberdade dos seus povos.[xli]
Os anos de 1630 a 1654 no Nordeste brasileiro foram caracterizados pela dominação holandesa em Pernambuco e por duas guerras, a de Resistência (na qual os proprietários de engenhos perderam o domínio sobre a área) e a de Restauração (quando os luso-brasileiros recuperaram o comando e, principalmente, os principais engenhos açucareiros da localidade).[xlii] A primeira guerra, “de resistência”, durou de 1630 até 1639, ocasionando a derrota dos principais proprietários e aristocratas luso-brasileiros da região e a conquista holandesa de um território que englobava Pernambuco, Paraíba, Itamaracá, Rio Grande do Norte e Sergipe. Com isso, os holandeses, por meio da Companhia das Índias Ocidentais, obtiveram o monopólio de produção, distribuição e comércio do açúcar brasileiro: os engenhos, abandonados por seus antigos donos, foram negociados com novos proprietários; recursos e empréstimos foram investidos para incrementar a produção, pois o produto alcançava altos preços no mercado europeu.
Tal período de glória durou de 1641 a 1645 (fase em que Maurício de Nassau governou o Brasil holandês); nesse último ano, iniciou-se a guerra de Restauração, promovida por senhores de engenhos ligados à coroa portuguesa e antigos proprietários, índios e negros, a fim de expulsar os “batavos”. A derrota final destes esteve condicionada por diversos fatores, dentre os quais um parece ter sido decisivo: “A maioria dos soldados da WIC não era holandesa, mas tinha origem geográfica variada, com numerosa presença de homens vindos dos Estados alemães, seguidos por aqueles dos Países Baixos espanhóis, Inglaterra, França, Escandinávia e Escócia… (Houve) um papel fundamental da condição de vida desses soldados na derrocada dos holandeses no Brasil. As tropas eram, via de regra, mal alimentadas, doentes, mal pagas e em geral maltratadas tanto por seus superiores no Brasil quanto pelas autoridades da WIC na Holanda, que não respondiam às sus demandas com a rapidez e a eficiência necessárias”.[xliii] Não era, a holandesa, uma “colonização progressista”, se comparada com a portuguesa.
O declínio do poder internacional português incidiu fortemente no seu (escasso) desenvolvimento econômico interno. Portugal (incluído seu sistema colonial) não foi só cliente importante para as manufaturas inglesas, cujo crescimento estimulou na época em que o mercado europeu tendia ainda a recusá-las, mas apoiaram também seu desenvolvimento. O ouro brasileiro, além de lubrificar as engrenagens da riqueza britânica durante o período que precedeu a Revolução Industrial, financiou largas parcelas do renascimento britânico no comércio do Oriente, através do qual o país importou tecidos de algodão mais leves para reexportá-los para os climas mais quentes da Europa, África, as Américas, e para os quais não tinha outros meios de pagamento a não ser o ouro brasileiro. A descoberta do ouro, em fins do século XVII, inaugurou um novo ciclo da economia colonial brasileira, o da colonização mineira (a exportação de açúcar estava em crise pela concorrência das Antilhas anglo-francesas). Diferentemente da colonização hispânica do Alto Peru (o Potosí, na atual Bolívia), no Brasil não se exploraram minas através de técnica complexa e abundante mão de obra. Tratava-se de um trabalho artesanal: retirar o metal de aluvião, depositado no fundo dos rios, e se utilizavam poucos escravos (no entanto, chegaram muitos colonos brancos, cuja população pela primeira vez ultrapassou a africana). Este novo ciclo colonizador ampliou a área colonizada ao penetrar pelo interior brasileiro à cata de rios auríferos.
Certamente, desde o início da colonização portuguesa na América, o governo colonial sempre esteve preocupado com o descobrimento de minas de metais preciosos. Mas somente depois das “entradas e bandeiras” foram descobertas as primeiras grandes jazidas de ouro na América portuguesa. Entrando continente adentro, buscavam principalmente índios que eram absorvidos pelo crescente mercado consumidor. Porém, havia também sempre o interesse por metais e pedras preciosas. Em 1696, finalmente foram localizadas as primeiras jazidas consideráveis de ouro. A notícia se espalhou pela colônia e pelo Reino e grandes ondas migratórias surgiram desde Portugal, das ilhas atlânticas, de outras partes da colônia e de países estrangeiros. De 1700 a 1760, calcula-se que por volta de 700.000 pessoas tenham migrado para o Brasil tendo como destino as Minas Gerais, fora os escravos africanos. Um número enorme, visto que a população total do Reino de Portugal não passava dos dois milhões de habitantes. No início, o governo português viu com bons olhos a imigração para a zona mineradora, visto que havia um excedente populacional em determinadas áreas, como as ilhas atlânticas, e desejava-se o quanto antes o crescimento da mineração. Logo se observou que era necessário que se freasse o fluxo populacional, que gerava o abandono dos campos em Portugal.[xliv] O produto das minas estava submetido ao quinto real, ou seja, um quinto [1/5] da produção era considerado automaticamente propriedade da Coroa. Esta condição fazia parte do “Pacto Colonial”.
O “exclusivo metropolitano” significava que a Coroa reservava para as companhias privadas por ela designadas o monopólio do comércio colonial, tanto das manufaturas e produtos que a Colônia comprava (importação), quanto das matérias primas que esta fornecia à Europa (exportação). A imposição de outras condições (a proibição do comércio das colônias entre si, ainda que dependessem da mesma metrópole) completava o Pacto, que se resumia em: – Imposição pela Coroa de pesados tributos e impostos a todas as atividades econômicas das colônias, chegando até à proibição das indústrias coloniais; – Monopólio privado do comércio colonial, tanto interno quanto externo, impondo altos preços aos produtos de importação, e baixos aos de exportação. Dessa maneira, as coroas europeias conseguiam sua parte do “bolo colonial”. Para garanti-la, as potências coloniais se reservaram o direito de nomeação das máximas autoridades dos territórios colonizados (Vice-Reinados ou Capitanias Gerais na América espanhola, Capitanias na América portuguesa, Colônias Régias na América inglesa).
A partir da segunda metade do século XVII, a hegemonia naval deu aos ingleses o controle dos mares. Inglaterra, por outro lado, possuía o monopólio do tráfico negreiro a partir do Tratado de Utrecht. O país levou adiante uma política econômica internacional: o Tratado de Methuen, em 1703, deu taxas preferenciais para seus produtos no mercado português; Portugal ampliou ainda mais suas dívidas com a Inglaterra. Para pagar seu débito, Portugal viu-se forçado a utilizar os metais preciosos retirados de suas colônias (sobretudo o ouro brasileiro). Os metais preciosos de origem americana encheram as arcas dos bancos ingleses. O “Tratado de Utrecht” compreendia dois documentos, que puseram fim à guerra de sucessão espanhola e mudaram o mapa da Europa e das Américas, em proveito, principalmente, da Inglaterra. No primeiro Tratado, em 1713, a Grã-Bretanha reconhecia como rei da Espanha o francês Felipe de Anjou. Por sua parte, a Espanha cedia Menorca e Gibraltar à Grã-Bretanha.
Como lembrou Marx, “na paz de Utrecht, a Inglaterra arrancou aos espanhóis, pelo Tratado de Asiento, o privilégio de explorar também entre a África e a América espanhola o tráfico de negros, que até então ela só explorava entre a África e as Índias Ocidentais inglesas… Isso proporcionava, ao mesmo tempo, uma cobertura oficial para o contrabando britânico”. O acordo também estabeleceu as fronteiras entre o Brasil português e a Guiana francesa, assim como os limites do Amapá, extremo norte da colônia portuguesa na América do Sul. O segundo Tratado de Utrecht, assinado em 1715, desta vez entre Portugal e Espanha, restabeleceu a posse da Colônia do Sacramento para Portugal. Os holandeses asseguraram, junto ao governo austríaco, o direito de guarnecerem fortalezas nos Países Baixos do Sul. A Inglaterra obteve conquistas navais, comerciais e coloniais significativas, como o monopólio do tráfico de escravos.[xlv]
A ascensão inglesa e holandesa, assim como a francesa, sinalizou o declínio ibérico, português especialmente, na luta pela supremacia política e econômica mundial. Os sistemas coloniais ibéricos, no entanto, sobreviveram (no caso português, até a segunda metade do século XX), cada vez mais como produtores de gêneros dos quais suas metrópoles se usavam como intermediárias junto às potências europeias emergentes, das quais se transformaram, progressivamente, em economias comercialmente tributárias. Antes disso, a singularidade portuguesa consistiu em ter sido a primeira unidade política europeia com fronteiras delimitadas e características “nacionais”, a vanguarda da expansão mundial de Europa, a pioneira nas viagens oceânicas europeias de longo percurso, a iniciadora da caça e do comércio interoceânico em grande escala de escravos africanos, a protagonista das maiores migrações populacionais europeias, em relação percentual com seu número total de habitantes, da primeira modernidade, e outras peculiaridades semelhantes.
Essas peculiaridades, no entanto, só se compreendem e ganham pleno sentido num contexto mundial, marcado pela gestação e ascensão mundial do capitalismo, involucrando toda a Europa, seu sistema colonial e sua área de expansão comercial. A singularidades portuguesas não a afastam, ao contrário, imbricam-na nesses processos maiores. No percurso moderno de Portugal, por outro lado, sua ascensão e posterior declínio mundiais delineiam, cada vez mais, contornos e lutas de classes internas, que atingem toda sua força na era dita contemporânea, redefinindo também tanto o perfil econômico de Portugal quanto seu lugar na política e na economia mundiais. É do percurso contemporâneo dessa nação cheia de peculiaridades extraordinárias que se ocupa, de modo exemplar, o magnífico texto a seguir, produto da pena fecunda de dois historiadores que honram sua profissão, oriunda uma, Raquel Varela, da metrópole portuguesa, e outro, Roberto Della Santa, da (ex) “colônia que deu certo”, mas também militantes, ambos, da nossa verdadeira pátria em comum, o movimento socialista internacional dos trabalhadores.
*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de Teoria econômica marxista: uma introdução (Boitempo). [https://amzn.to/3tkGFRo]
Referência
Raquel Varela; Roberto dela Santa. Breve História de Portugal – A Era Contemporânea (1807-2020). Bertrand Editora, 536 págs. [https://amzn.to/4cv5Liz]
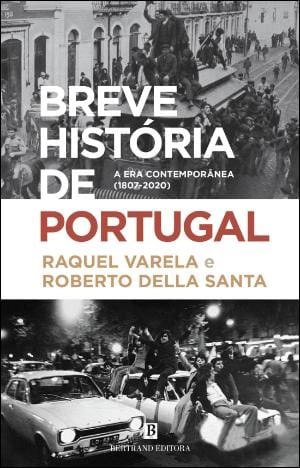
Notas
[i] Martin Page. The First Global Village. How Portugal changed the world. Lisboa, Casa das Letras, 2002. Embora os britânicos incorporassem a Austrália aos seus domínios coloniais só na década de 1770 (depois das viagens pelo Oceano Índico comandadas por James Cook, iniciadas em 1766), os portugueses já a conheciam graças à primeira viagem de circum-navegação do globo, realizada sob o comando de Fernão de Magalhães, que atingiu Austrália em 1522. Segundo alguns autores, antes de Magalhães quatro caravelas comandadas pelo português Cristóvão de Mendonça atingiram as costas australianas e neozelandesas, a caminho de Goa, na Índia (Peter Trickett. Beyond Capricorn. How Portuguese adventurers secretly discovered and mapped Australia and New Zealand 250 years before Captain Cook. Sidney, East Street Publications, 2007). Em qualquer hipótese, outros portugueses exploraram logo depois a região; em 1525, Gomes de Sequeira descobriu as Ilhas Carolinas, e no ano seguinte Jorge de Meneses chegou à Nova Guiné. Os holandeses chegaram bem depois à região; Abel Tasman passou pelo litoral da Austrália em 1642 e descobriu o que hoje se chama Tasmânia.
[ii] Vela de formato triangular, desenhada para permitir a navegação a contravento, possibilitando a navegação próxima da linha do vento. Foi inicialmente introduzida no Mediterrâneo pelos árabes, tendo surgido originalmente na Índia. No século XV, essa vela foi adaptada à caravela portuguesa, possibilitando as grandes expedições interoceânicas: Vasco da Gama foi um dos primeiros a usá-la em viagens de longo percurso (Lionel Casson. Ships and Seamanship in the Ancient World. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1995).
[iii] Fábio Pestana Ramos. Os apuros dos navegantes. História Viva nº 68, São Paulo, junho 2009.
[iv] Jaime Rodrigues. Um sepulcro grande, amplo e fundo: saúde alimentar no Atlântico, séculos XVI ao XVIII. Revista de História nº 168, São Paulo, Departamento de História, FFLCH-USP, janeiro/junho de 2013.
[v] Com seus supostos domínios situados alternativamente nas Índias Orientais ou no chifre da África, “obsessão, sonho e esperança do Ocidente durante vários séculos”, nas palavras de Jacques Heers, Preste João era um rei imaginário em quem se pensava como um potencial e poderoso aliado contra os reinos “infiéis” do Oriente. O mito de Prestes (ou Preste) João tinha sido amplificado, no século XII, pelo bispo alemão Oto Babenberger, apoiado pelo imperador Frederico I, “que necessitava de um apoio espiritual superior ao papa, um suporte mental que desse legitimidade às suas pretensões de um grande império contra o poder papal”. Ao mitológico rei eram atribuídos 562 anos de idade, a posse de enormes exércitos que combatiam o Islã e de maravilhas como a fonte da eterna juventude, além de uma ascendência que remontava aos Três Rei Magos, ou seja, ao nascimento do Cristo (Ricardo Costa. Por uma geografia mitológica: a lenda medieval de Preste João. História nº 9, Vitória, Departamento de História da UFES, 2001).
[vi] Francisco Roque de Oliveira. Os portugueses e a Ásia marítima, c. 1500-1640. Scripta Nova, vol. VII, nº 151, Universidad de Barcelona, outubro 2003.
[vii] Blair B. King e Michael N. Pearson. The Age of Partnership. Europeans in Asia before domination. Honolulu, University Press of Hawaii, 1979.
[viii] Simon Schama. La Historia de los Judíos. Barcelos, Penguim Random House – Debate, 2018.
[ix] Jairus Banaji. Theory as History. Essays of modes of production and exploitation. Nova York, Haymarket Books, 2011.
[x] Diego Luis Molinari. Descubrimiento y Conquista de América. Buenos Aires, Eudeba, 1964.
[xi] Karl Marx. Miséria da Filosofia. São Paulo, Boitempo, 2017 [1847].
[xii] Immanuel Wallerstein. El Moderno Sistema Mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía mundo europea en el siglo XVI. México, Siglo XXI, 1979.
[xiii] Carlo M. Cipolla. História Econômica da Europa Pré-industrial. Lisboa, Edições 70, 1984.
[xiv] Em dezembro de 1496, Dom Manuel de Portugal assinou o decreto de expulsão dos “hereges”, concedendo-lhes prazo até 31 de outubro de 1497 para que deixassem o país. Aos judeus, o rei português permitiu que optassem pela conversão ou o desterro, esperando que muitos se batizassem no rito cristão. D. Manuel I assinou o édito de expulsão dos judeus devido a uma condição imposta por Espanha para que casasse com Dona Isabel.
[xv] Judeus portugueses e espanhóis convertidos à força para a religião cristã no final do século XV e no século sucessivo.
[xvi] Edgar Morin. O Mundo Moderno e a Questão Judaica. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007.
[xvii] José Antonio Maravall. Antiguos y Modernos. Visión de la historia e idea del progreso hasta el Renacimiento. Madri, Alianza, 1986.
[xviii] José Sebastião da Silva Dias. Os Descobrimentos e a Problemática Cultural do Século XVI. Lisboa, Presença, 1982.
[xix] Mario Maestri. O trabalhador escravizado na historiografia brasileira. A Terra é Redonda, São Paulo, 6 de maio de 2023.
[xx] Georg Friederici. El Carácter del Desubrimiento y Conquista de América. México, Fondo de Cultura Económica, 1987 [1926], vol. II.
[xxi] Eduardo Grüner. La “acumulación originaria”, la crítica de la razón colonial y la esclavitud moderna. Hic Rhodus nº 8, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, junho 2015.
[xxii] Herbert S. Klein e Ben Vinson. African Slavery in Latin America and the Caribbean. Nova York, Oxford University Press, 2007; Marcel Dorigny e Bernard Gainot. Atlas des Esclavages. Traites, sociétés coloniales, abolitions de l’Antiquité à nos jours. Paris, Autrement, 2006.
[xxiii] Alexandre de Freitas Barbosa e Tâmis Parron. A retórica cruel do negacionismo. A Terra é Redonda, São Paulo, 23 de fevereiro de 2023.
[xxiv] Florestan Fernandes. Circuito Fechado. São Paulo, Hucitec, 1977.
[xxv] Emília Viotti da Costa. Da Senzala à Colônia. São Paulo, Difel, 1966.
[xxvi] Raymundo Faoro. Os Donos do Poder. Porto Alegre, Globo, Volume 1, 1976.
[xxvii] Alberto Passos Guimarães. Quatro Séculos de Latifúndio. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989.
[xxviii] Evaldo Cabral de Mello. A Fronda dos Mozambos. São Paulo, Companhia das Letras, 1995.
[xxix] Parte dos bens confiscados dos jesuítas no século XVIII foi utilizada como mercê aos colonos. Ciro F. S. Cardoso. Economia e Sociedade em Áreas Coloniais Periféricas. Guiana Francesa e Pará (1750-1817). Rio de Janeiro, Graal, 1984.
[xxx] Rodrigo Ricupero. “Honras e mercês”: as relações entre colonos e a coroa e seus representantes (1530-1630). In: Osvaldo Coggiola (org.). História e Economia: Questões. São Paulo, Humanitas, 2002.
[xxxi] Roberto Simonsen. História Econômica do Brasil. São Paulo, Companhia. Editora Nacional, 1978.
[xxxii] Karl Marx. O Capital, Livro I, Volume I, capítulo XXIV.
[xxxiii] Xavier de Castro. La Découverte du Japon par les Européens (1543-1551). Paris, Chandeigne, 2013.
[xxxiv] William J. Benstein. Uma Mudança Extraordinária. Como o comércio revolucionou o mundo. Rio de Janeiro, Elsevier, 2009.
[xxxv] Wolfgang Reinhard. Storia dell’Espansione Europea. Nápoles, Guida Editori, 1987.
[xxxvi] A West-Indische Compagnie ou WIC, foi fundada por iniciativa de calvinistas flamengos que buscavam escapar à perseguição religiosa. A Companhia recebeu um alvará que lhe concedia o monopólio do comércio com as colônias ocidentais das “Sete Províncias”, o Caribe, bem como do tráfico de escravos, no Brasil, Caribe e América do Norte. A companhia podia operar também na África Ocidental e nas Américas, incluindo o Oceano Pacífico. Seu objetivo era eliminar a competição espanhola e portuguesa nos postos de comércio ultramarinos estabelecidos pelos mercadores holandeses. Espanhóis e portugueses acusaram os cristãos-novos de Amsterdã de serem a alavanca da empresa, mas, do total de três milhões de florins subscritos na companhia, apenas 36 mil foram contribuição dos sefarditas (Roberto Chocon de Albuquerque. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais: uma sociedade anônima? Revista da Faculdade de Direito, vol. 105, Universidade de São Paulo, 2010).
[xxxvii] David Martín Marcos. Península de Recelos. Portugal y España, 1668-1715. Madri, Marcial Pons, 2014.
[xxxviii] John H. Elliot. Imperial Spain 1469-1716. Nova York, Penguin Books, 2002; António Henrique R. de Oliveira Marques. History of Portugal. From empire to corporate state. Nova York, Columbia University Press, 1972.
[xxxix] André Gunder Frank. Acumulação Mundial 1492-1789. Rio de Janeiro, Zahar, 1977.
[xl] Henri Sée. Origen y Evolución del Capitalismo Moderno. México, Fondo de Cultura Económica, 1952.
[xli] John Hemming. Red Gold. The conquest of the Brazilian indians. Londres, Macmillan, 1978.
[xlii] Evaldo Cabral de Mello. Olinda Restaurada. Guerra e açúcar no Nordeste 1630-1654. Rio de Janeiro/São Paulo, Forense Universitária/Edusp, 1975; Wolfgang Lenk. Guerra e Pacto Colonial. A Bahia contra o Brasil holandês (1624-1654). São Paulo, Alameda/Fapesp, 2013.
[xliii] Mariana Françozo. Gente de guerra: novas perspectivas sobre o Brasil holandês. Revista de História nº 174, São Paulo, Universidade de São Paulo – Departamento de História (FFLCH), janeiro-junho de 2016.
[xliv] Virgilio Noya Pinto. O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1979.
[xlv] James Watson Gerard. The Peace of Utrecht. Londres, The Classics, 2013.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA
























