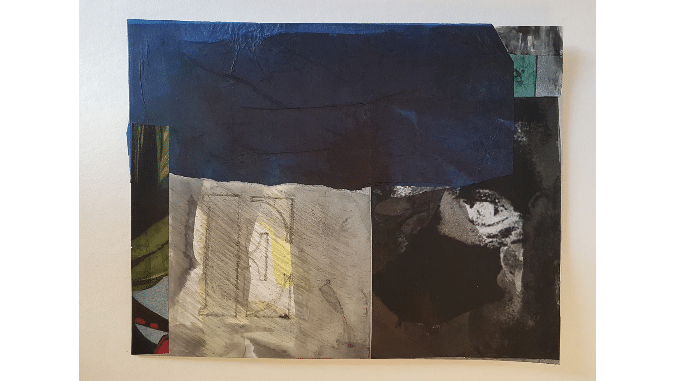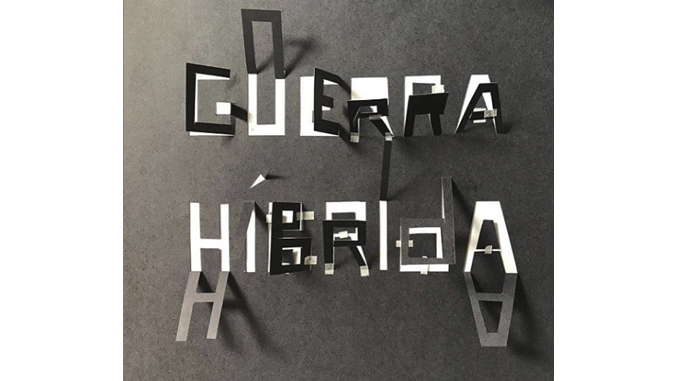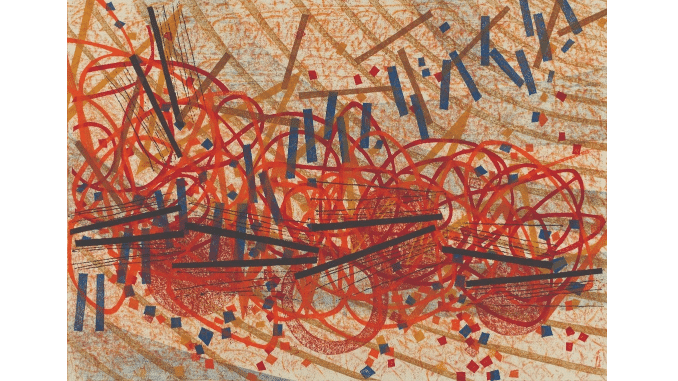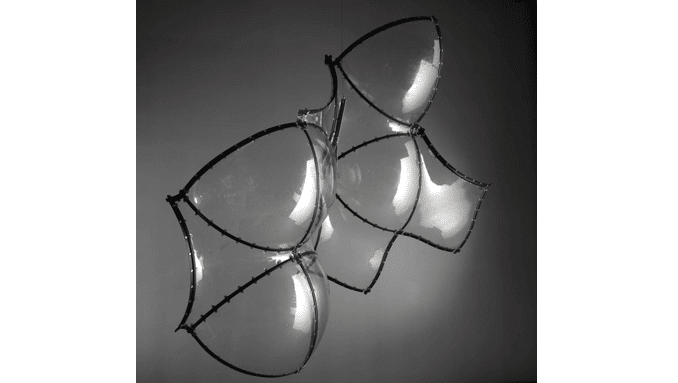Por RONALDO TADEU DE SOUZA*
As reflexões de Arendt são relidas por um espectro de grupos políticos amplo; progressistas, liberais de toda estirpe, acadêmicos e pesquisadores da sua obra e setores da esquerda
“ir além do conceito por meio do conceito” (Theodor Adorno, Dialética Negativa).
A filósofa política germano-americana Hannah Arendt, nos últimos anos, ganhou as páginas da imprensa em geral, do jornalismo cultural em particular e da academia. É claro que sua “retomada” no debate intelectual e público atual, ocorre no registro político ao qual o Brasil e outros países, Estados Unidos, por exemplo, enfrentam um momento de crise de suas instituições democráticas com a ascensão e presença dos governos de direita – e as novas modalidades que empreendem na gestão do Estado e de instâncias da sociedade civil.
Hannah Arendt, e as reflexões que escreveu ao longo de sua atividade teórica após sair da Alemanha nazista, são relidas por um espectro de grupos políticos e suas ideias, relativamente, amplo; progressistas, liberais de toda estirpe, acadêmicos e pesquisadores da sua obra e setores da esquerda (esses criticamente por vezes) se apropriam dos seus escritos para tentar compreender e buscar resoluções para problemas políticos e sociais correntes. A autora de As Origens do Totalitarismo, Sobre a Revolução, Entre o Passado e o Presente e Eichmann em Jerusalém, para elencarmos alguns dos seus títulos mais conhecidos, por ter vivido e presenciado um dos momentos históricos e existenciais de maior conturbação política e social – e ter escrito uma grande teoria política que adquiriu prestígio ao longo do século justamente em consonância com tais acontecimentos tem muito a dizer para refletirmos acerca de problemas que se assemelham.
Os governos totalitários; a relação entre o pensamento e a prática; a revolução; a liberdade; o dever moral e a relação que estabelece com o juízo reflexivo; a violência e a ação política foram questões que a erudição de Arendt procurou compreender. Não há nenhuma dúvida que a interpretação desenvolvida por ela sobre a ação política (ou simplesmente ação), junto com o tema do totalitarismo, é parte significativa, a mais importante, por assim dizer, do pensamento que forjou nos anos em que viveu no pós-guerra.
É no monumental A Condição Humana que Hannah Arendt constrói o núcleo de sentidos daquele termo e/ou noção. Particularmente no capítulo V – Ação. Nas pouco mais de 60 páginas contidas ali (na edição da Forense Universitária) encontramos um dos belos textos da filosofia política contemporânea: e não é fortuito que arendtianos, e mesmo os não arendtianos como quem escreve essas linhas, admirem tais passagens – que exalam um conhecimento enorme da tradição grega antiga, da história das revoluções, da literatura ocidental, da teoria social moderna e da filosofia política. Entretanto, por vezes algo escapa aos leitores da Arendt de A Condição Humana. Seu sutil, porém, presente, conservadorismo. Aonde podemos averiguá-lo? De onde ele emerge? O que ele implica? Vejamos.
Não tratarei de outros textos de Hannah Arendt, nem dos outros capítulos da referida obra (Labor e Trabalho); bem entendida as coisas, a leitura que proponho será dedicada, precisamente, à estrutura interna do capítulo V – Ação. O que significa dizer que: não estou sustentando que o conjunto do pensamento arendtiano seja conservador. Ainda que haja alguns poucos elementos para tal afirmação (que não é o caso aqui); e ainda que alguns intérpretes mais abalizados leiam trechos da teoria política de Hannah Arendt como explicitação de certo conservadorismo, é o caso de Margaret Canovan que compara algumas ideias da filósofa com as do teórico inglês Michael Oakeshott, este não é meu intuito.
Faço apenas uma crítica pontual e relativamente arbitrária. (Modestamente, que é o que me cabe aqui: nos termos do historiador marxista Perry Anderson, “qualquer seleção de figuras [ou obras e textos] extraídas de cada um dos segmentos do hemisfério político [e de ideias] está, naturalmente, fadada a ser um tanto arbitrária, respondendo aos acidentes do interesse pessoal”[1] e do momento sócio-histórico imediato). Assim; ação, e ação política, somente podem existir sob a condição da “pluralidade humana” (p. 188); de imediato Arendt exclui aspectos das circunstâncias mesmas de sobrevivência dos homens de toda a possibilidade do horizonte de qualquer feixe de vida plural: “a sede, fome, afeto, hostilidade ou medo” (p. 189) não possuem elementos que eventualmente possam se desdobrar em impulso para a ação e a fala.
Mas ela segue na interpretação. Não se trata de uma exclusão tour court daqueles fatos materiais da imanência viva dos seres humanos; Arendt argumenta de maneira mais sinuosa, pois “a sede, fome, afeto, hostilidade ou medo” (Ibid.) não são passíveis de comunicação. Isso implica, no âmbito interno da teoria política contida em tal capítulo, em que constelações decisivas de relações humanas essenciais não estão referenciadas para se comunicarem; não estão no horizonte das formas pelas quais se expressam imediatamente os homens (políticos) enquanto tais. Mais do que isso: eles não possuem iniciativa, visto que só comunicam “alguma coisa” (Ibid.) aquém da própria disposição para a ação e o discurso. Inciativa aqui se articula, de modo precípuo, à ideia teórica de ação em Arendt.
É como se as várias constelações da vivência aos quais homens e mulheres estivessem lançados na sua cotidianidade não possuíssem – a condição mesma de atividade. No argumento de Arendt o “iniciar […] começar […] imprimir movimento a alguma coisa (que é o significado original do termo latino agere)” (p. 190) é próprio do homem que tem por natureza mesma a ação e o discurso. Assim, ação, discurso, pluralidade e agere são estatutos diferenciados que se revelam – e eles têm de se revelar uma vez que a teoria política arendtiana nega veementemente aspectos de interioridade, intimismo, por assim dizer – no momento mesmo em que eles são apreendidos pela luz do mundo público. Ora, “a ação requer, para sua plena manifestação, a luz intensa que outrora tinha o nome de glória e que só é possível na esfera pública” (p. 193). Mas o que dizer dos que estão circunscritos às sombras da existência; qual é o lugar daqueles e daquelas lançadas nas determinidades do tempo (da “sede, fome, afeto [e o] medo”)?
Ocorre que na teoria política de Hannah Arendt “o quem”, ou os quems de toda forma de relação social – de toda atividade humana na história enquanto tal – estava em oposição à ação na esfera pública; a revelação pela luz e pela glória eram “o próprio feito, e este feito […] transcende a mera atividade produtiva […] a modesta fabricação de objetos de uso”. Mais do que ação, discurso, pluralidade e iniciativa – possibilitadas pela revelação da luz e da glória do mundo público – Hannah Arendt estava preocupada com o locus permanente ao qual a condição humana poderia existir. E mesmo tendo proposto uma reflexão sofisticada acerca da filologia da palavra iniciativa, o agere latino, no texto da Ação conforma-se a defesa arendtiana da durabilidade: por outras palavras o fato mesmo da ação, do discurso, da pluralidade e da (própria) iniciativa exigiriam um arranjo, uma moldura duradoura, que conservasse a possibilidade de manifestação transhistórica da ação, do discurso, da pluralidade e da iniciativa.
Não havia nos termos da teoria política de Hannah Arendt outra solução que não fosse a conformação da teia dos negócios humanos. Essa teria de compensar como balizas (institucionais) os aspectos mais deletérios do processo que Hannah Arendt nomeia aqui de “atividades mais solidas e produtivas como a fabricação, a contemplação, a cognição e até mesmo o labor” (p. 194), que estão sempre a buscar o quem. Na medida em que, o quem da atividade produtiva depende de um conjunto de circunstâncias aos quais os quems possam ser “semelhantes” na construção do mundo, a preocupação com o locus atemporal da ação e do discurso não tinha nenhuma importância – a rigor era o próprio empenho e dinâmica no soerguimento do mundo em momentos sucessivos a questão primordial.
O que Hannah Arendt vislumbrou em uma sociedade vivendo com essas disposições era o fim do singular e da capacidade humana de pluralidade discursiva. E mais do que isso; em jogo estava “o caráter da revelação, sem o qual a ação e o discurso perderiam toda relevância humana” (p. 195). Com efeito, dirá a teórica germano-americana – “[…] descrever um tipo ou personagem [ou um conjunto delas]” em uma atividade historicamente momentânea qualquer “elimina […] [a] revelação […] [e] significaria transformar os homens em algo que eles não são” (p. 196). Trata-se de conservar o que caracteriza a “esfera dos negócios humanos”; trata-se de interpretar para Arendt a permanência da “teia de relações humanas” e de como ela vai figurar no âmbito da teoria.
A Condição Humana é uma obra que está nos seus momentos mais ambíguos e contraditórios em busca, definitivamente, da durabilidade e da estabilidade da natureza dos homens. Qual a implicação imanente desse aspecto da obra de Hannah Arendt? Um dos temores da teórica alemã-americana era que a ação, o discurso e pluralidade dos homens que aparecem ali onde a luz pública os faz revelar fosse que mediante aos processos constitutivos da modernidade se tornassem em vias de perecimento. Lembremos – e aqui Arendt delineia com clareza suas preocupações e problemas que quer enfrentar – que “sede, fome, afeto, hostilidade ou medo” eram tanto formas de não-ação política como eram circunstâncias que envolvendo-se na e com a ação política poderia levá-la ao desaparecimento.
Ora, toda forma, portanto, de irrupção de sujeitos políticos, de subjetividades que se lança na contingência e de anseios humanos por transformação mesma (acabar com a sede; eliminar a fome; assistir ao afeto e atenuar o medo) trariam para a ação fardos, eventualmente, incomensuráveis. De modo que para A Condição Humana haveria que “remediar a futilidade da ação e do discurso” (p. 209). Neste aspecto a leitura que Hannah Arendt efetua da polis é plena de significados concernente ao seu sutil conservadorismo: se a experiência grega foi interpretada em certos momentos da história das ideias e da filosofia política como explicitação de uma modalidade de democracia que se contrapunha às formas mais elitistas e da representação política (na sociedade moderna), para a autora do As Origens do Totalitarismo a polis garantia “a imperecibilidade das mais fúteis atividades humanas – a ação e o discurso” (p. 210).
Enquanto (um) lugar de conservação da ação, do discurso e da pluralidade a polis, como encarnação que emoldura a narrativa do espaço público, foi teorizada por Arendt como “a memória organizada […] o muro […] [e] proteção estabilizadora” daqueles aspectos da vivência humana. E quanto mais às ações e discursos no âmbito da polis (a cercadura pública de preservação) são extraordinárias e grandes, mais elas têm de ser blindadas “das verdades da vida cotidiana” (p. 217); nessas elas “perdem a validade”.
Com efeito – o cotidiano, “a vida cotidiana”, para Arendt espelha a fabricação, e mais do que isso, um e outro se opõem à ação. Conquanto o agere signifique, mesmo nos termos de A Condição Humana, modos e formas de praticidade no mundo público, o que quer dizer a possibilidade de os homens saírem de seu solipsismo puro e ingênuo, no texto mesmo arendtiano a ação emerge enquanto o lugar que deve ser circundado “[dos] produtos tangíveis […] [d]a regularidade de funcionamento e [d]a sociabilidade” (p. 232). Pois, nenhum aspecto, nenhum elemento, nenhuma modalidade, nenhuma característica das relações ordinárias entre os homens poderia levar à ação – e, por conseguinte à pluralidade e à liberdade. Aqui o fabricar supõe em proteção da vida e de si, com os objetos forjados na vida recorrente, das incertezas do agere, da imprevisibilidade da ação, de modo que ao não aceitar essa “condição humana […] condição sine qua non” (p. 233) o que fica comprometido na teoria política de Arendt é a “pluralidade […] [com]o elemento […] essencial […] da política”.
A fabricação, os artefatos que toda a subjetividade da “idade moderna” (p. 232) procurou tornar acessível para a maioria dos indivíduos, classes e grupos, portanto, é a “tentativa de eliminar [a] pluralidade [que] equivale sempre à supressão da própria esfera pública” (p. 233). No trecho analisado, A Substituição da Ação pela Fabricação, presenciamos Arendt a observar que as coisas do governo que “funcionam excessivamente bem” (Ibidem) (com vistas a tornar a sociabilidade mais tangivelmente agradável) são um mal para a própria política. “Tranquilidade e […] ordem” (p. 234) para Hannah Arendt estavam distantes da exuberância eterna da política; novamente a costumeira feição que se repete na vida da maioria dos homens no âmbito das sociedades modernas: sucedia em comprometimento existencial da ação, da pluralidade e do brilho público.
E nessa medida, tranquilidade, ordem, “estabilidade, segurança e produtividade” conduzem à “perda de poder”, que é, na verdade, a capacidade de iniciar algo novo. A conservação de toda essa manifestação da existência, da condição do existir, das circunstâncias humanas enquanto tal era um dos eixos constitutivos do capítulo V – Ação de A Condição Humana. Por outras palavras; ação para Arendt tinha de ser o oposto ontológico-fenomenológico a todas as práticas de organização prosaica da vida de homens e mulheres – aceitar a “fragilidade dos negócios humanos”, a política em si, significa estar disposto a enfrentar a incerteza e a perda sem ressentimento, mas também à retribuição da eterna lembrança dos grandes feitos.
A cotidianidade comum não poderia se conformar como ação – e muito menos como ação política. Daí A Condição Humana asseverar que: o senso de estabilidade necessária para boa sociabilidade dos indivíduos se transfigurou na busca por “sistema[s] político[s] utópico[s]” (p. 239). E esses sempre “ruíram sob o peso da realidade […] das relações humanas” (Ibid.). Entretanto, Hannah Arendt argumenta que a utopia da fundação de sistemas políticos para a vida serena, tranquila, segura e produtiva (cf. p. 234) no âmbito da tradição do pensamento político desempenhava função “meramente instrumental” (p. 240) – meio a fim –; foi na e a partir da era moderna que a violência sobrepujou as especulações acerca de sistemas utópicos: isto é, o governo da saciabilidade do corpo.
Ora, se aquela disposição desaparece na história moderna, a busca racional por um arranjo político que coadune com o horizonte dos que não almejam e “nem podem” almejar a glória do mundo público, do brilho e da luz da eternidade, ainda permanece e faz da violência, a “glorificação da violência em si”, o artifício condicional da fabricação-labor para o corpo. De modo que, “basicamente um homo faber e não um animale rationale trouxe à baila as implicações muito mais antigas da violência em que se baseiam todas as interpretações da esfera dos negócios humanos como a[s] [que se baseiam na] esfera da fabricação”.
Foram as “revoluções, dirá Hannah Arendt, típicas da era moderna […] – com a exceção da revolução americana – [que] revelar[am] a […] combinação do entusiasmo […] pela fundação de um novo corpo político”, delineado para o animal laborans e o homo faber, e à “glorificação da violência como único meio de fazer esse corpo” elemento do corpo. Dessa forma, Arendt sempre temeu, para sermos ponderados na formulação, toda ideia que estava a vislumbrar “uma nova sociedade, ou seja, de toda mudança histórica ou política”. E ela considerou Karl Marx o pensador que sintetizou tais ideais de maneira mais convicta na era moderna – assim “Marx apenas sintetiza a convicção dominante em toda a era moderna e deduz as consequências de sua ideia mais central, ou seja, de que a história é feita pelo homem, tal como a natureza é feita por Deus” (p. 240 e 241).
Na própria formulação arendtiana, bem entendidas as coisas precisamente no capítulo V – Ação como venho demonstrando desde o início dessa análise crítico-imanente, implica a compreensão da política enquanto momento único, singular e pode-se dizer virtuosamente guerreiro, do extraordinário. Não é circunstancial concernente ao estilo de escrita erudita e de argumentação de Arendt que no fim desse texto emerja a pessoa de Jesus figurando a glória eterna do nascimento e da ação – os homens na sua cotidianidade simplória estão sempre na condição de preteridos em Hannah Arendt.
Em uma das mais belas construções da teoria política contemporânea Hannah Arendt articula duas considerações fundamentais para o entendimento que forja acerca da política, qual seja; a irreversibilidade da ação e a capacidade de perdoar-prometer. Entretanto, também aqui, ela não esteve desimplicada do sutil conservadorismo que atravessa, contraditoriamente, seu pensamento no A Condição Humana. Na tradição do pensamento político (ocidental) desde Platão e Aristóteles até a síntese convicta de Marx os corpos políticos foram utopicamente planejados “à maneira da fabricação” (p. 242). Isso, Arendt argumenta, se deve ao fato de que os homens buscam na existência a durabilidade de si mesmos e dos próprios negócios humanos.
Ora, por não aceitar o enfretamento grandioso da fortuidade de todo “processo da ação” (p. 245) os homens que tendem à exigência por segurança – fabricada pelos instrumentos da sociedade moderna e do governo – não são “capazes de suportar o ônus da irreversibilidade e da imprevisibilidade das quais se origina” toda manifestação humana que inicia algo novo. Desse modo; os que se “propõem” à ação, à “capacidade humana de liberdade”, e que aceitam com glória e fausto as vicissitudes da pluralidade dos homens – tem de estar além do “labor, [da sujeição] às necessidades da vida, [da] fabricação [e das] matérias-primas”.
Mas Hannah Arendt caminha sobre um fio tênue. Pois, a imprevisibilidade não correspondia em sua teoria política à não-permanência (do imprevisível) e nem mesmo estava associada a qualquer noção que desprezasse molduras a propiciar, ainda que existencialmente, um espaço para a vida gloriosa do imprevisto. Não é a “mundanidade, mantida pela fabricação”, vale dizer, os braços de homens comuns no cotidiano a constituir a durabilidade que Hannah Arendt estava a buscar para fazer com que a pluralidade-irreversibilidade não se dissipassem (e a própria entrada do homo laborans e do homo faber no mundo público da liberdade, da ação, destrói esses – a autora da teoria da mentalidade alargada jamais aceitou as “categorias de meios e fins” (p. 248), a consequência destrutiva da política expressada pela premência daqueles).
Era a coragem de perdoar (e prometer) “a solução possível para o problema da irreversibilidade” e a manifestação da caoticidade vacilante: “a caótica incerteza do futuro” dos resultados da ação política, da pluralidade humana em concerto. Com isso, evitando a violência da destruição (cf. p. 250), a forma na qual os homens não-gloriosos, de simplicidade rústica envoltos no cotidiano do labor e do fazer desfazem aquilo que deve ser desfeito no decurso da história (e na modernidade eles, os homens, aprenderam “a desfazer o que [fizeram] por meio da destruição, como se destrói uma obra mal sucedida” (p. 250), seja essa a própria política dos governos, os políticos e os Estados soberanos), A Condição Humana, no capítulo Ação encontrou na transcendência de Jesus de Nazaré a figura do perdão.
Foi nele que Hannah Arendt acreditou como símbolo a ser lembrado pelos que enfrentam as sequelas da irreversibilidade, a incerteza da ação – nas palavras de Arendt, “Jesus sustenta, contra a opinião de escribas e fariseus, que […] não é verdade que somente Deus tenha o poder de perdoar […] este poder não deriva de Deus – como se Deus, e não os homens, perdoasse através de seres humanos – mas, ao contrário, [o perdão] deve ser mobilizado pelos homens entre si” (p. 251). O núcleo imanente dessa consideração é que aqueles a quem Deus possa ver com a faculdade do perdão ele os imitará; são os homens não presos ao ordinário dos sentimentos de violência como resposta ao não comprido e que em sua percepção são factíveis de serem destruídos com a força das irrupções históricas que transcenderão o comezinho e que “Deus [ao repeti-los] fará o mesmo” (Ibid.) no ato de perdoar.
Homens comuns; pessoas ingênuas com a existência; a parte da humanidade que quer redimir-se da fome diária; os que supõem o amor como perdão (conf. p. 254): jamais conseguirão a glória do poder de perdoar, do brilho público no âmbito da pluralidade enquanto evento político. A conservação dessa “faculdade [humana] milagrosa” (p. 258) somente poderia ser mantida, a permanência (oposta aos processos transformativos do labor e do trabalho, a vida das necessidades materiais), pelos homens que não “fossem” homens genéricos; “o milagre que salva o mundo” é a “ação dos que são capazes” (p. 259) da glória distinta de perdoar.
A que se perguntar para Hannah Arendt[2] o que especificamente seu texto Ação, diria para o pai de Nancy, de Randy, de Lonny, do ex-marido de Phoebe, do ex-colega de trabalho, o homem comum, personagem do romance de mesmo nome de Philip Roth.[3] Como muitos iguais a ele esteve preocupado se seu “corpo esguio” (Ver Philip Roth – Homem Comum, Companhia das Letras) teria ao longo da vida a liberdade de “dominar as ondas do Atlântico indomável” (conf. ibid.); faleceu simplesmente de “parada cardíaca” (conf. ibid.), ainda assim seu percurso mereceu ser narrado. Não para Hannah Arendt…
*Ronaldo Tadeu de Souza é pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Ciência Política da USP.
Notas
[1] Ver Perry Anderson. Prefácio. Espectros: da direita á esquerda no mundo das ideias. Boitempo, 2012.
[2] Procurei ao longo da interpretação seguir a implicações teóricas e políticas da constelação (Adorno) interna de argumentos e formulações presentes no capítulo 5 – Ação de A Condição Humana. O leitor interessado nesse tema acerca das ambiguidades conservadoras de Hannah Arendt, que gostaria de insistir é uma das principais teóricas políticas do século XX e que legou uma teoria dos conselhos revolucionários e a noção de enlarged mentality (a ampliação do juízo reflexivo na ação política coletiva) que eventualmente podem ser fundamentais na luta política radical de esquerda para os que buscam a emancipação, deve consultar os seguintes trabalhos: Margaret Canovan – Hannah Arendt as a Conservative Thinker. Larry May and Jeromy Kohn (ed.) Hannah Arendt: Twenty Years Later. Mit Press, 1966; J. Peter Euben – Arendt’s Hellenism; Jacques Taminiax – Athens and Rome; Hauke Brunkhorst – Equality and Elitism in Arendt. Todos esses em Dana Villa (ed.) The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge University Press, 2006.
[3] Como metáfora (e/ou retórica política) mobilizo aqui o Homem Comum de Philip Roth. Do ponto de vista da composição do personagem ele é um homem de classe media nova-iorquino e com traços fortes de machismo. O típico americano branco médio.