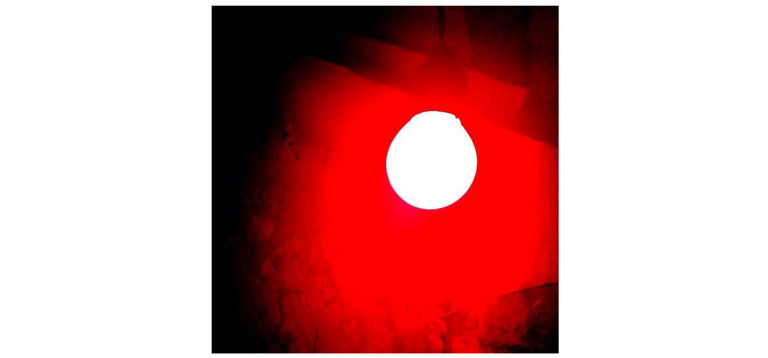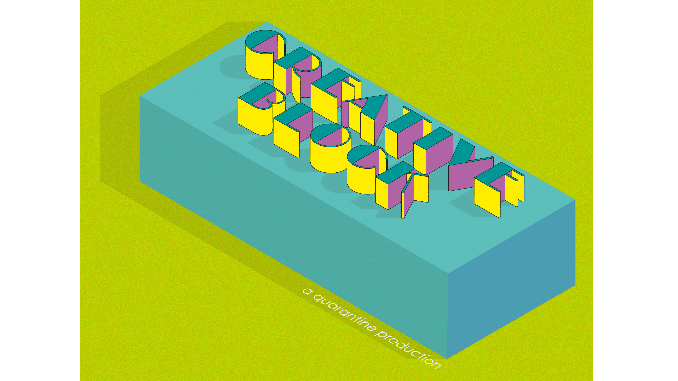Por LUCIANO NASCIMENTO*
Vivemos num país racista, sexista, homofóbico e elitista: poucos de nós escapam ilesos a todos esses crivos, e isso nos torna muito mais parecidos com nossos alunos
A condição de vulnerabilidade sociocultural é um fator complicador para a aprendizagem escolar de um grande número de brasileiros, desde muito antes do surgimento do novo coronavírus. Ainda assim, tal fator não tem recebido a devida atenção nas nossas escolas de Educação Básica. Agora, em meio à crise de saúde que tem tudo para hipertrofiar nossas piores mazelas, não é mais possível fechar os olhos para algo tão decisivo para a vida de milhões de pessoas.
Parte da relativa negligência em relação ao problema talvez resida na aparente autoevidência do significado da expressão. Assumindo essa hipótese e afirmando seu teor enganoso, proponho aqui primeiro uma reflexão sobre os reais contornos dessa condição de constante exposição dos sujeitos ao risco iminente de extermínio físico (decorrente da necropolítica) e/ou simbólico (efeito do semiocídio). Depois dessa reflexão inicial, avento o que tenho chamado de psicopedagogia da empatia e penso ser o grau zero da solução do problema. Em virtude da limitação de espaço, por ora centro a análise na cidade do Rio de Janeiro, mas, ao fim dela, espero deixar pelo menos insinuada sua aplicabilidade ao Brasil como um todo, feitos os devidos ajustes.
Um espinho: a necropolítica
A necropolítica, conceituada pelo filósofo e cientista político Achille Mbembe, é a descrição mais adequada do que se vive em relação à segurança pública no Rio de Janeiro há pelo menos dez anos – triste marco: foi em 2000 que Anthony Garotinho demitiu diante das câmeras de TV seu Secretário de Segurança Pública, o antropólogo Luiz Eduardo Soares. Hoje, se o pesquisador camaronês vivesse no Rio, ele decerto incorporaria a sua análise outras nuances que a política de gestão morte pode assumir. Explico.
“A forma mais bem-sucedida de necropoder é a ocupação colonial contemporânea da Palestina”, disse Mbembe em 2003 (ano da primeira publicação de seu ensaio). Nunca estive no Oriente Médio, mas cabe observar que todos os traços do necropoder apontados na tensão entre judeus e palestinos podem ser encontrados nas grandes comunidades favelizadas cariocas: elas são o principal território em que se trava a chamada “guerra contra o tráfico”; nelas a lei maior não é a Constituição, mas a circunstância; lá o estado de exceção é a regra, e o de sítio pode ser decretado a qualquer momento, pelo poder público ou pelo paralelo – que, por sua vez, pode emanar do tráfico ou da milícia, conforme a ocasião. A semelhança é tamanha que, infelizmente, um trecho da Av. Leopoldo Bulhões, na Zona Norte da cidade, recebeu o apelido de Faixa de Gaza.
Há, entretanto, no plano da topografia, a que Mbembe também se dedica, um elemento peculiar que diferencia um pouco a necropolítica em vigor nos assentamentos judeus desta que medra nos morros do Rio de Janeiro: por aqui quem está no alto do panóptico é a marginalidade, não o Estado. Ainda que decerto os palestinos não considerem Israel seu Estado – e tampouco os moradores das comunidades confiram à marginalidade esse estatuto – essa diferença de ordem espacial coloca a esmagadora maioria das pessoas que vivem nos morros favelizados cariocas literalmente no meio do fogo cruzado, entre marginais atirando para baixo, e Estado atirando para cima. Num cenário assim, é sádico as autoridades falarem em “balas perdidas”.
É exatamente no meio desse fogo cruzado que muitos alunos de escolas públicas se veem. Um terço das unidades da rede municipal de Educação estão em áreas ditas “críticas”, de frequentes confrontos; falamos de “168.139 estudantes” e “14.139 servidores”, cf. o Jornal Extra em 29/09/2019[i]). E esses são números relativos apenas às escolas municipais; há ainda as estaduais e as federais. Há também os espaços além das comunidades mas cercados por elas, espaços por onde estudantes (e trabalhadores e desempregados… enfim, todos) passam todos os dias, exercendo com coragem quase suicida o direito de ir e vir. Quem só já ouviu falar em Piaget e Vygotsky não pode negar que a aprendizagem formal desses alunos seja impactada negativamente por condições socioambientais tão adversas.
Mas essa não é a face mais impensável da necropolítica fluminense. A mais impensável é a que vem estatisticamente comprovada: a falta de instrução formal, a alienação ao discurso do ódio e o medo da violência são tamanhos que moradores dessas regiões mais afligidas pela política da morte têm elegido políticos cuja plataforma é justamente recrudescer ainda mais a opressão do Estado sobre tais áreas e, por consequência, causar mais violência, mais ódio e mais ignorância. Foi o que aconteceu no Complexo do Alemão que, em 2018[ii], votou em peso em Wilson Witzel (o governador que comemora quando policiais “atiram na cabecinha”) e Jair Bolsonaro (o atual residente do Palácio da Alvorada, que dispensa apresentações). Foi lá, no Complexo do Alemão, p.e., que o disparo de um fuzil da PM matou a menina Ágatha, de 10 anos de idade, no colo de sua mãe, em 2019; foi lá também que, em maio último, pelo menos 10 pessoas foram mortas durante outra operação policial que levou terror à comunidade, em plena pandemia.
Não restam dúvidas: no RJ a árvore tem amolado o machado, e a morte, conduzido a vida, sem metafísica. E chamo a atenção do leitor para o fato de que, até aqui, falei apenas no aspecto socioeconômico e geográfico (estudantes de escola pública, moradores de regiões favelizadas). Voltando a análise para categorias como raça, p.e., sou pessoal e empiricamente levado a crer que o quadro de violência se agrave um pouco mais em relação a nós, negros, e às populações indígenas; se o recorte se der sobre o aspecto sexo/gênero, mulheres e comunidade LGBTQI+ são as maiores vítimas. O paradoxo “mutabilidade das categorias observadas” versus “imutabilidade (ou pouca mutabilidade) dos resultados da análise” indicia que a necropolítica talvez seja uma constante, e mais: um mau sortilégio não só contemporâneo carioca, mas histórico nacional, quiçá até um aspecto fundante de nossa polêmica “identidade nacional”.
Outro espinho: o semiocídio
O semiocídio é, segundo Muniz Sodré (em Reinventando a educação), a tentativa de extinção dos sentidos do Outro, a negação de atribuição de valor às interpretações que esse Outro faz do mundo. Tal fenômeno, em que pese sua pujança em tempos como o nosso, não é tão perceptível à primeira vista, sobretudo por muitas vezes se misturar com as formas mais gerais do necropoder. No entanto, com um pouco de atenção se pode distingui-los.
Consideremos, p.e., a perseguição ao samba e às religiões de matriz africana entre o final dos oitocentos e o começo do século passado. O tema perpassa obras importantes da nossa literatura, como Triste fim de Policarpo Quaresma (de Lima Barreto) e Tenda dos milagres (de Jorge Amado). Hoje o alvo das perseguições da polícia não é mais o sambista, mas o MC; por outro lado, após certa calmaria nos últimos trinta ou quarenta anos, agora umbanda e candomblé voltaram a sofrer ataques sérios, e a intolerância religiosa voltou à carga no Rio de Janeiro[iii]. Essas são claras tentativas de semiocídio.
Também cheira a semiocídio o tratamento que sobretudo a Prefeitura da cidade – desde 2017 conduzida por um bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus – vem dispensando a várias expressões artístico-culturais malvistas no sistema de crenças adotado pelo prefeito. Houve censura a uma exposição de Artes na Casa França-Brasil e a uma revista em quadrinhos na Bienal do Livro de 2019; o Jongo da Serrinha foi obrigada a desocupar o próprio municipal que lhe servia de sede há anos; o Museu da Escravidão não saiu do papel… Nem o desfile dos blocos de carnaval e o espetáculo das escolas de samba da Marquês de Sapucaí escaparam do corte de verbas orientado pelas novas prioridades do bispo-prefeito, que parece não considerar nem o prejuízo financeiro que tais medidas causam à sua gestão.
É possível argumentar, claro, que essas intempéries não tenham potência suficiente para abalar o poder de tais manifestações culturais. Mas não é isso que os fatos têm mostrado. Em 2016, em meio a dificuldades financeiras, o Império Serrano, uma das agremiações mais tradicionais e vitoriosas do carnaval carioca, passou a contar com um novo patrocinador. Boa nova? Nem tanto: o suposto novo “bem feitor” da escola é evangélico e se declarou indisposto a apoiar enredos “espíritas”. Ora, dada a relação íntima, de origem, entre o samba e o candomblé, essa já seria uma incoerência de nascença. Só que, em se tratando do Império Serrano (da mesma Serrinha de onde veio a Casa do Jongo, despejada pela prefeitura “laica”), essa incoerência assume contornos absurdos: o Império é tipo um grande terreiro. Coincidência ou não, três anos depois da declaração do “bem feitor”, a ala das baianas – justamente elas, elo visível do samba com o candomblé – desfilou sem a saia, e a agremiação quase foi rebaixada de grupo de novo. Foi um dos momentos mais tristes da escola[iv].
É justamente em casos assim que se pode flagrar uma das faces mais cruéis do semiocídio: o efeito cascata que ele acaba gerando nesse tipo de instituição em que a transmissão de saber é atividade fim – trata-se uma escola, não se pode esquecer. Imagine o sofrimento da velha baiana imperiana, a “tia” que não pode girar sua saia rodada no desfile; agora imagine os efeitos psicológicos da justa revolta que esse sofrimento fez surgir nos “sobrinhos” dela (os filhos, netos, vizinhos, conhecidos… nós, amantes do samba) diante da frustração da tia querida. Vale a pena continuar com essa tradição? Vale a pena lutar contras forças políticas (de um Estado neopentecostal) e econômicas (de patronos e patrões evangélicos) que dizem de toda forma que tal tradição é um erro, é retrógrada, ou, pior, “é coisa do Diabo”? Quantos responderam (respondem e responderão) “sim”? Frantz Fanon, no quinto capítulo de Peles negras, máscaras brancas, fala do peso de se ver assim, refém do olhar do Outro. Centenas de crianças e adolescentes de famílias ligadas ao samba vivem ameaçadas por esse olhar.
Porém, por mais complexo que o quadro de semiocídio já pareça ser, tudo sempre pode se complicar um pouco mais por aqui. Porque no Rio há também os “traficantes de Jesus”: grupos de respeitáveis mercadores de entorpecentes ilícitos que atualizaram o software seiscentista de conversão jesuítica e, em pleno séc. XXI, nas áreas sob seu domínio, coíbem cultos de umbanda e candomblé e buscam, a exemplo do prefeito da cidade, disseminar a fé cristã[v].
Resumo do imenso painel do semiocídio a que todos (mas, para este texto, sobretudo as crianças, adolescentes e jovens em idade escolar) estão expostos pelo poder público (da cidade) do Rio de Janeiro em 2020: repressão aos bailes funk, menosprezo ao jongo, desprezo pela alegria do carnaval e pela dura mas necessária memória das pessoas escravizadas, repressão à umbanda, ao candomblé e a manifestações artísticas sobre a temática LGBTQI+ ou sobre o período de ditadura militar no Brasil. Com a pandemia, estão ainda proibidos o baile charme do viaduto de Madureira e o samba da Pedra do Sal! Mas essas foram só cerejas do bolo. Bem antes da COVID-19, na abertura da Copa de 2014, no Maracanã, o Rio e o Brasil misóginos xingaram em coro a presidenta Dilma. Ali foi a gota d’água: já éramos um pote até aqui de mágoa travestida de intolerância e monismo cultural.
A flor: a psicopedagogia da empatia
A pandemia de COVID-19 é uma tragédia e tragédias não criam oportunidades: elas demandam respostas positivas e céleres. Assim é em relação à educação pública brasileira. É desrespeitoso com os mortos, irresponsável com os vivos e pedagogicamente inócuo para estudantes (da Educação Básica) pensar em retomar a normalidade de um cotidiano escolar que, antes do coronavírus, de tão excludente e – muitas vezes – ineficaz, já não deveria ser tido por normal. Pensando com seriedade sobre o que é educação de qualidade, o fato é: o ano letivo de 2020 está perdido, mais ainda do que vários outros também o foram para milhões de brasileiros. A demanda posta, então, a nós, professores, e, em igual intensidade, aos gestores, é a que Muniz Sodré já sinalizou – reinventar a educação – e ouso tensionar: reinventá-la substituindo o paradigma da violência (causadora da vulnerabilidade sociocultural) pelo do lirismo psicopedagógico e empático. Como? Não fui eu que fiz, mas eu vi e mostro.
É necessário carinho no trato e disponibilidade (cf. os grifos, meus): “Brasil, meu nego, deixa eu te contar/ a história que a História não conta/ o avesso do mesmo lugar/ na luta é que a gente se encontra// Brasil, meu dengo,/ a Mangueira chegou/ com versos que o livro apagou/ Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento/ tem sangue retinto pisado/ atrás do herói emoldurado/ Mulheres, tamoios, mulatos/ Eu quero um país que não está no retrato […] Brasil, chegou a vez/ de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês” (…). Os versos gritam, além da cartilha histórico-materialista, um inconfundível tom pedagógico e, ao mesmo tempo, paternal. O mesmo tom que se pode perceber, com outra roupagem, claro, nas palavras do intelectual Leonardo Boff, em seu último artigo, intitulado Reinventar a humanidade, publicado por A terra é redonda.
Boff elenca dez “virtudes para um outro mundo possível”. Dentre elas, destaco (e grifo) as sete primeiras: “cuidado essencial, sentimento de pertença, solidariedade e cooperação, responsabilidade coletiva, hospitalidade como dever e como direito, convivência de todos com todos, justiça social e igualdade fundamental de todos”. É um professor e um pai (um padre, afinal) falando. Mas, mais do que isso: é alguém que pratica e prega a empatia, o colocar-se no lugar do Outro (o leitor, no caso), cuidar dele, de seu bem estar físico e emocional. Atitudes que nos permitirão reinventar a humanidade e a educação.
Boff elenca dez “virtudes para um outro mundo possível”. Dentre elas, destaco (e grifo) as sete primeiras: “cuidado essencial, sentimento de pertença, solidariedade e cooperação, responsabilidade coletiva, hospitalidade como dever e como direito, convivência de todos com todos, justiça social e igualdade fundamental de todos”. É um professor e um pai (um padre, afinal) falando. Mas, mais do que isso: é alguém que pratica e prega a empatia, o colocar-se no lugar do Outro (o leitor, no caso), cuidar dele, de seu bem estar físico e emocional. Atitudes que nos permitirão reinventar a humanidade e a educação.
Só que isso ainda pode parecer muito abstrato. Como levar essa proposta até o chão da sala de aula?
O primeiro passo é nós, professores, estarmos despertos para o fato de que, no Brasil, por um motivo ou outro, uns mais outros menos, a absoluta maioria de nós também está vulnerável do ponto de vista sociocultural. Vivemos num país racista, sexista, homofóbico e elitista: poucos de nós escapam ilesos a todos esses crivos, e isso nos torna muito mais parecidos com nossos alunos do que talvez creiamos cotidianamente. Assim, p.e., se qualquer colega professora, de qualquer disciplina, olhar para suas alunas e vir nelas outras vítimas potenciais do machismo ou do feminicídio, como ela própria, professora, também infelizmente é, essa colega terá motivos justos para falar sobre violência contra a mulher em suas aulas, pois todas as meninas e todos os meninos brasileiros precisam ouvir e falar mais sobre isso do que sobre análise sintática ou sobre Bhaskara, p.e.. Coisas semelhantes se podem dizer, feitos os devidos ajustes, em relação a colegas negros, indígenas, pobres… ou deficientes, ou velhos. Sim, porque essas são as pessoas mais afetadas pela vulnerabilidade sociocultural no Brasil: negros, mulheres, indígenas, pobres, idosos e deficientes. Como se pode ver, sobra muito pouca gente que pode se dar ao luxo de pensar no sujeito (simples!) da primeira oração do hino nacional, ou na raiz nula de uma equação do 2º grau incompleta.
Para terminar, a reinvenção da educação e da humanidade pós-pandemia, no Brasil, só acontecerá se enfim, professores e alunos, formos capazes de i) reconhecer nossas próprias fraquezas e ii) aprender a nos articular e fortalecer horizontalmente, com empatia. Mais ou menos como fazem as plantas que buscam sobreviver em solo árido: criando estruturas rizomáticas…
Mas essa já é outra conversa.
*Luciano Nascimento, professor da educação básica, é doutor em Literaturas pela UFSC.
Notas
[i] Disponível em <https://extra.globo.com/casos-de-policia/levantamento-mostra-que-um-terco-das-escolas-municipais-do-rio-fica-em-areas-de-confrontos-23975258.html>. Acesso em 22jun2020.
[ii] Disponível em <https://www.vozdascomunidades.com.br/geral/veja-como-foi-votacao-nas-zonas-eleitorais-que-cercam-os-complexos-do-alemao-penha-e-adjacencias/>. Acesso em 22jun2020.
[iii] Disponível em <https://mareonline.com.br/direitos-humanos/rio-de-janeiro-e-campeao-de-intolerancia-religiosa/>. Acesso em 22jun2020.
[iv] Disponível em <https://www.uol.com.br/carnaval/2020/noticias/redacao/2020/02/22/o-drama-de-um-multicampeao-imperio-serrano-tem-problemas-e-comove-a-web.htm>. Acesso em 22jun2020.
[v] Disponível em <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/06/15/traficantes-de-jesus-policia-e-mpf-miram-intolerancia-religiosa-no-rio.htm>. Acesso em 22jun2020.