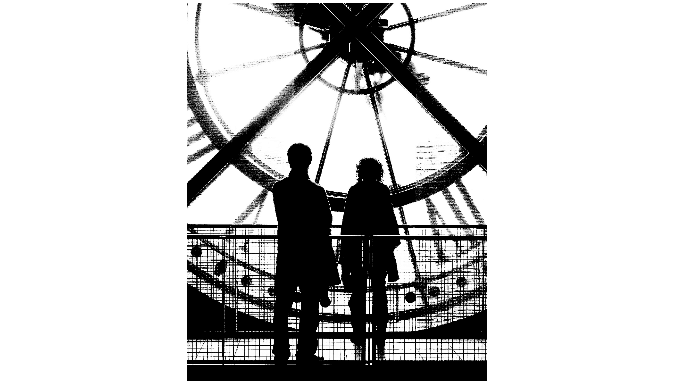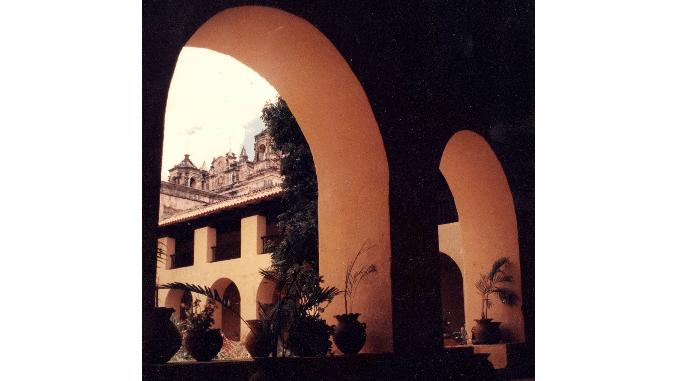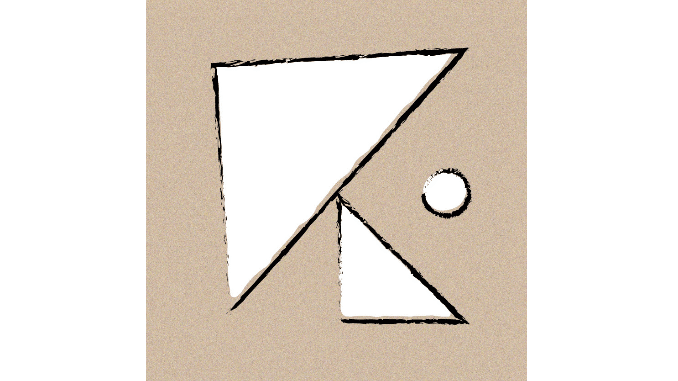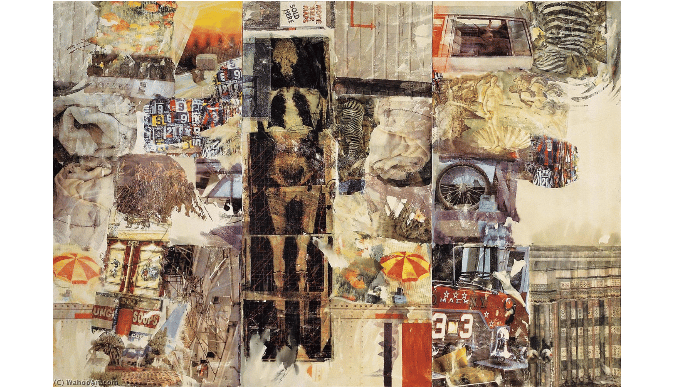Por Flávio Aguiar*
Mesmo sem concordar com os preconceitos e com o conservadorismo reacionário de Plínio Salgado convém não ignorá-lo. Sobretudo num momento em que sua religiosidade conservadora, transposta para o século XXI, faz parte dos impulsos que inspiram tantos brasileiros.
Em memória de Antonio Candido, que me convenceu da importância de se analisar os romances de Plínio Salgado.
Nihil humani a me alienum puto. (máxima preferida de Karl Marx, citando, no álbum de poesia de sua filha Jenny, uma frase de Terêncio).
Plínio Salgado foi o principal líder da Ação Integralista Brasileira (AIB), expressão organizada do movimento de extrema direita que empolgou parte da juventude e da intelectualidade durante a década de 1930. Foi jornalista, era considerado um orador brilhante, e além de publicar dezenas de livros políticos e religiosos, foi também escritor literário de sucesso. Publicou quatro romances e alguns livros de poemas, contos e crônicas. A fama do político, no entanto, sufocou, ao longo do tempo, o renome do escritor. Estigmatizado o autor como de “extrema direita” e como “fascista”, a obra literária mergulhou num injustificado ostracismo de público e crítica (com raras exceções). Entretanto, deve-se assinalar que seu livro Vida de Jesus, publicado em 1942, alcançou até hoje mais de vinte reedições ou reimpressões e, se não é um best-seller, tem lugar de destaque nas seções de Religião em algumas das maiores livrarias do país.
Plínio Salgado nasceu em 22 de janeiro de 1895, na cidade de São Bento do Sapucaí, estado de São Paulo, na região brasileira hoje conhecida como “Sudeste”, então simplesmente “Sul”. Morreu na cidade de São Paulo, em 8 de dezembro de 1975, depois de ter sido deputado federal de 1963 a 1974, primeiro pelo estado do Paraná, e depois, a partir de 1963, por seu estado natal, São Paulo. Quando nasceu, o Brasil abolira a escravidão havia menos de sete anos e era uma república havia menos de seis. Era um país predominantemente agroexportador, sobretudo de café; mais de 70% da população habitava regiões rurais.
A integração do território nacional, sob a hegemonia do governo central, no Rio de Janeiro, era ainda débil. No extremo sul do Brasil, rebeldes federalistas contestavam o governo central, numa sangrenta revolta que, em três anos (1893-1895), provocou mais de dez mil mortes, mil pela degola de prisioneiros, de parte a parte. Os rebeldes chegaram a constituir um governo provisório na cidade de Nossa Senhora do Desterro, capital do Estado de Santa Catarina. Reconquistada pelas tropas legalistas em meio a uma sangrenta repressão, com execuções por fuzilamento ou na forca, na fortaleza de Anhatomirim, ela foi rebatizada em seguida cidade de Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro.
Nos sertões do Nordeste, massas de camponeses empobrecidos, de ex-escravos expulsos das terras dos senhores, de bandoleiros em busca de refúgio, reuniam-se sob a liderança religiosa do beato Antônio Conselheiro no arraial de Canudos, rebatizado como Belo Monte, em terras do estado da Bahia. Revoltados, esses camponeses, depois de uma tenaz resistência, foram praticamente exterminados por forças do Exército Nacional e de milícias estaduais, em 1897.
Em 1975, quando Plínio Salgado morreu, a maioria da população brasileira (cerca de 70%) vivia em regiões urbanas. Embora extensas regiões fossem ainda relativamente pouco habitadas, o Brasil era um país industrializado, sobretudo no Sudeste e no Sul. Seus mais distantes rincões já eram atingidos por redes nacionais de televisão e de rádio. Um governo autoritário – como o do Marechal de Ferro– de forte base nos quartéis, mas com apoio expressivo entre civis de direita, entre eles Plínio Salgado – dominava o país desde o golpe militar de 1964, que derrubara o presidente eleito João Goulart e promovera violentas perseguições contra militantes de esquerda, opositores liberais, estudantes, operários, camponeses, intelectuais, artistas e jornais dissidentes.
Deve-se dizer que, no ano de 1975, o cerne do regime militar – o “sistema”, como então se dizia – já dava os primeiros sinais de isolamento e de dificuldades para conter as oposições. O alcance político destas cresceria até a queda, ou melhor, o esfacelamento da “Ditadura”, dez anos mais tarde, em 1985, com sua substituição por um governo civil, ainda que eleito indiretamente.
Nas décadas de 1920 e 1930, ao mesmo tempo em que se firmava o direito da arte à experimentação, todo o campo da cultura passou por um grande processo de politização. O Brasil, antes frequentemente definido como um país pitoresco, pobre, porém afortunado, passou muitas vezes a ser apresentado como um país atrasado e subdesenvolvido. E os romances de Plínio Salgado também participaram dessa redefinição do perfil nacional.
Pelo lado materno, Plínio Salgado descendia de Pero Dias, um dos fundadores da cidade de São Paulo, no século XVI. O ambiente familiar era católico, nacionalista, letrado e conservador. Seu pai era farmacêutico – mas era na verdade o chefe político da cidade; admirava o Marechal de Ferro. A mãe era professora, e deu aulas na Escola Normal da cidade, o que na época era uma distinção.
A morte prematura do pai forçou-o a trabalhar a partir dos 18 anos. Foi professor, agrimensor, jornalista e desenvolveu atividades de liderança nas iniciativas culturais em sua cidade natal. Em 1918, casou-se com d. Maria Amália Pereira. Pouco depois nasceu uma filha do casal, mas em seguida d. Maria Amália morreu, quando a menina ainda não completara um mês. Plínio Salgado mergulhou numa profunda crise existencial. Melhorou através do mergulho na religião católica – fato que seria marcante tanto em sua vida política como na de escritor.
Na década de 1920, Salgado mudou-se para a capital do estado, onde desenvolveu principalmente atividades literárias. A cidade era o palco privilegiado das atividades dos grupos de vanguarda no Brasil, ao mesmo tempo em que cresciam as atividades industriais e os bairros operários, com a imigração europeia, sobretudo os italianos, que trouxeram os movimentos anarquistas.
Plínio Salgado via as propostas da vanguarda artística com alguma desconfiança, assinalando que em países cujos povos que eram frágeis do ponto de vista cultural – e este seria o caso do Brasil, país ainda em formação – os princípios da arte moderna poderiam ser mais danosos do que benéficos. Entretanto, isso não impediu que em seu primeiro romance –O estrangeiro–, publicado em 1926, adotasse um estilo marcado por “vanguardismos”: uma prosa fragmentária, organizada em instantâneos descontínuos, com variações dramáticas de ponto de vista. O romance foi um sucesso: em menos de um mês a primeira edição se esgotou [1].
Ao mesmo tempo, Plínio desenvolvia intensa atividade como jornalista, o que o levou ao terreno da política. Desenvolveu aí também reflexões sobre o sentido da arte e da literatura, vendo-as como vetores da construção da sociedade nacional e de valores nacionalistas. Junto com Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, Cândido Mota Filho e outros, organizou e liderou uma das correntes literárias da época, propondo a “Revolução da Anta”, que deveria revalorizar a cultura indígena no panorama brasileiro. Sua dedicação foi tal que se pôs a estudar a língua tupi.
Quando, em 1930, Vargas chegou ao poder à testa do movimento armado que, diz-se até hoje, inaugurou o “Brasil moderno”, Plínio Salgado era escritor de renome, jornalista reconhecido, e deputado estadual pelo Partido Republicano Paulista. Nessa condição apoiou a candidatura de Júlio Prestes, político paulista e presidente da província, à presidência da República, contra a de Vargas. Prestes venceu as eleições no corrupto sistema eleitoral da República Velha, em que as denúncias de fraude na contagem de votos eram constantes. Dessa vez, no entanto, as denúncias catalisaram o descontentamento popular, as inquietações entre muitos militares e as divisões no seio das próprias elites dirigentes. Em 3 de outubro, rebeldes, sob o comando de Vargas, atacavam, às cinco da tarde, o Quartel General do Exército em Porto Alegre. Começava a derrubada do governo do Presidente Washington Luís e o fim da República Velha.
Enquanto os rebeldes conspiravam, Plínio Salgado estava no exterior, numa viagem que, em parte, decidiria o seu destino. Em abril de 1930, seu amigo e correligionário Sousa Aranha convidou-o a ser o preceptor de seu filho – coisa comum na época em que a formação escolar costumava ser frágil – e para acompanhar ambos numa viagem ao exterior. Plínio aceitou a oportunidade valiosa para um intelectual carente de maiores recursos, e assim conheceu parte do Oriente Médio e da Europa. O fato mais importante da viagem, segundo ele próprio, foi o mês que passou na Itália, vendo de perto a consolidação do regime fascista, e onde teve um encontro pessoal com Benito Mussolini. Quando chegou de volta ao Brasil, em 4 de outubro, um dia, portanto, depois da eclosão do movimento armado liderado por Vargas, estava convencido de que, se o fascismo não era para ser copiado ao pé da letra no Brasil, nosso país precisava de algo muito parecido.
Desde o começo de sua carreira política, Plínio Salgado fora crítico em relação aos postulados comunistas, mas também em relação aos princípios liberais. Via no liberalismo uma das fontes da corrupção e da inércia das elites brasileiras, que abandonavam os mais pobres ao laissez-faire de sua própria sorte. Ao mesmo tempo, esse paradoxal liberalismo oligárquico das elites favorecia a divisão nacional através dos acordos entre os dirigentes regionais, impedindo, na visão dele, a verdadeira integração do país.
Veio disso, de reflexões desse tipo, e também do pensamento de que contra a fragmentação da pessoa humana, promovida para ele tanto pelo liberalismo quanto pelo comunismo, era necessário promover a visão do “homem integral”, a adoção do nome “Ação Integralista Brasileira” para o movimento que fundaria pouco tempo depois, em 1932, e que o levaria ao ponto culminante de sua carreira política – e também à sua queda logo em seguida. O objetivo do movimento seria promover a redenção da pátria, através da construção de um “Estado Integral”, que catalisasse o espírito da nação e organizasse a representação das classes, como no ideal de Mussolini para a Itália.
O movimento integralista cresceu rapidamente no Brasil, em parte devido a sua aliança com movimentos católicos conservadores e com movimentos monarquistas. A ascensão de Hitler na Alemanha deu novo impulso ao movimento. Mas, assinalam historiadores, o integralismo brasileiro tinha, na prática, mais afinidade com o salazarismo português e com o franquismo espanhol, graças ao forte traço católico, do que com os regimes liderados por Hitler e Mussolini.
Setores do regime varguista aproximavam-se claramente desses regimes de direita. Em nome do combate ao comunismo, Salgado aproximou-se mais e mais de Vargas. Não poucas vezes militantes integralistas e comunistas trocaram tiros, ou se envolveram em pancadarias nas ruas, com mortos e feridos. Em 1935, o levante armado organizado pelos comunistas a partir de Natal, no Rio Grande do Norte, e no Rio de Janeiro, aproximou de vez Salgado de Vargas: assim, ele atingiu o ápice de sua influência.
Plínio constituiu o movimento misturando aspectos de milícias paramilitares com aspectos de ordem religiosa. Os adeptos usavam camisas verdes, tinham a letra grega sigma por símbolo, faziam saudações com a mão direita erguida e espalmada, como no fascismo. Sua saudação era um grito em língua tupi: Anauê, um grito de cumprimento e de guerra. Dois integralistas comuns deviam erguer os braços e gritar Anauê uma vez. Os dirigentes, divididos em provinciais e arquiprovinciais, num arremedo de ordem jesuítica, tinham direito a dois Anauês. O dirigente supremo, isto é, o próprio Plínio Salgado, tinha direito a três, e Deus, a quatro, mas só o dirigente supremo podia saudar a divindade em público.
Havia algo de sinistro em tudo isso, mas também, por vezes, de cômico e patético. Um dos jovens adeptos do integralismo contou, certa vez, ao professor Antonio Candido (que por sua vez repassou-me a história algo anedótica) como resolveu, pelo senso do ridículo, abandonar o movimento. Estava viajando de automóvel pelo interior brasileiro, no caminho da província de Goiás, com mais dois militantes, um arquidirigente, e o chofer. Ao passarem por um ribeirão, o líder perguntou ao chofer qual era o nome da corrente. O chofer declarou o nome (que ele não lembrava mais), e acrescentou que aquele pequeno ribeirão era um dos formadores do grande rio Araguaia que, com o Tocantins, vai desaguar praticamente na foz do Amazonas. O arquilíder fez parar o carro, fez os mais jovens formarem em linha junto à margem – “num calor de rachar”, disse o depoente – e gritarem o Anauê, de mão erguida, declarando: “Integralistas, saudemos este pequeno ribeirão que vai formar o grande Araguaia, que é um dos rios da unidade nacional!”. Segundo o depoente, para ele aquilo foi demais. Na volta, ele deixou o movimento. Entretanto, os outros integralistas passaram a persegui-lo como traidor. Numa ocasião, chegaram a trocar tiros com ele. Em outra, conseguiram sequestrá-lo e o espancaram brutalmente pela “traição”, num fato que alcançou grande repercussão política em São Paulo.
Com esses métodos, Plínio Salgado organizou um verdadeiro estado paralelo, pronto para tomar o Estado brasileiro: depois da aproximação, o choque com Vargas foi inevitável. Este veio em 1938, no ano seguinte àquele em que Vargas deu o golpe de estado fundador do Estado Novo, que Plínio, em princípio apoiou, extinguindo formalmente a AIB como movimento político em fins de 1937. Em 1938, Vargas deu sinal verde para que os integralistas começassem a ser perseguidos e neutralizados em diversos pontos do país. Em maio daquele ano, um grupo de integralistas atacou estações de rádio e o próprio palácio presidencial no Rio de Janeiro.
Mas estavam tão desorganizados que Vargas, a família e mais um pequeno grupo de defensores conseguiram resistir até que o comando do Exército enviasse reforços para a defesa. Embora não fosse acusado formalmente de participação nessa tentativa fracassada de golpe, Plínio Salgado foi preso em 1939 e deportado para Portugal, onde permaneceu até a queda de Vargas, em 1945. Ainda que voltasse a ter influência posteriormente, chegando a ser candidato à Presidência da República em 1955, sua golden age terminara. Depois da volta do exílio, sua atividade política revestiu-se mais e mais de um catolicismo conservador. Algo de seus princípios integralistas sobreviveu no regime imposto pelos militares a partir de 1964, que ele, como já disse, apoiou, tornando-se um dos grandes defensores da censura à imprensa e aos meios intelectuais, para “disciplinar” a nação.
Foi no período de sua ascensão política, e como parte dela, que Plínio Salgado escreveu e publicou seus quatro romances: O estrangeiro (1926); O esperado (escrito em 1930, em Paris, e publicado em 1931); O cavaleiro de Itararé (1933); e A voz do Oeste (1934), romance histórico e, de longe, o pior de todos. Os outros três alternam momentos de fragilidade na construção com momentos de excelente prosa – alguns brilhantes –, sobretudo se os virmos como uma composição da mistura fragmentária de pontos de vista, característica dos estilos modernistas, com uma crônica da vida paulista, paulistana e brasileira, num estilo bem tradicional cuja origem remonta às velhas crônicas medievais portuguesas. O estilo de Plínio apresenta também sinais de leituras naturalistas, como a de Eça de Queirós, e de certo gosto por atmosferas melodramáticas e românticas, como as dos romances de Camilo Castelo Branco.
Com esses ingredientes, Plínio Salgado conseguiu traçar retratos muito vívidos e críticos da sociedade brasileira, sobretudo a de São Paulo, e dos processos de transformação por que o país, o estado e a cidade passavam: as levas recentes de imigrantes davam novos perfis ao velho Brasil de raiz lusitana e ao mundo rural caboclo, e, nas cidades, a industrialização mudava a paisagem física e humana. A busca febril de novidades cosmopolitas e de um estilo de vida sofisticado pelas classes ricas e emergentes se contrapunha à crescente pauperização dos bairros periféricos. Tudo isso Plínio Salgado pintou com cores muito expressivas.
Se teve seu forte na pintura dos quadros sociais e na psicologia das relações humanas nesse quadro de transformações, Plínio Salgado encontrou seu Waterloo literário no desenho de protagonistas consistentes e, sobretudo, no desfecho de seus enredos. Tinha ele um afã político de desenhar quadros não apenas expressivos, mas modelares para a sociedade nacional em transformação. Seus personagens, enquanto se mantinham numa visão exterior de seus movimentos num mundo social conturbado, exprimiam de modo convincente as alterações em processo na paisagem social.
Mas quando vistos de modo isolado, nas profundezas de suas almas, começavam a resvalar para estereótipos que deveriam encarnar ideias abstratas sobre o ser humano. Como resultado, na medida em que os enredos avançavam, as opções, as escolhas, os atos dos personagens começavam a assumir certo tom artificial. Plínio Salgado jamais conseguiu dar, por exemplo, um desenlace convincente para os enredos amorosos em que seus personagens se envolviam; um tom moralista de melodrama ou folhetim antigo, que no século XX se tornara um ranço passadista, terminava por recobrir as situações a que chegavam.
Somava-se a isso o desejo evidente por traçar painéis completos da sociedade nacional. Há uma abundância de personagens nos romances de Plínio Salgado: neles há pelo menos uma vintena de protagonistas, dezenas de coadjuvantes e centenas, senão milhares, de figurantes. O que poderia ser um impulso para a análise social segundo o modelo de Balzac, transformava-se numa espécie de ópera grandiloquente que tendia ao exagero e à demasia.
Algo dessas tendências se espelhava nos prefácios que sempre acompanhavam os romances, e nas classificações com que o autor procurava enquadrá-los. O estrangeiro, por exemplo, era apresentado como uma “crônica da vida paulista” e no prefácio se lê: “Este livro procura fixar aspectos da vida paulista nos últimos dez anos. Vida rural, vida provinciana e vida na grande urbs. Ciclo ascendente dos colonos (os Mondolfis); ciclo descendente das raças antigas (os Pantojos). Marcha do caboclo para o sertão e novo bandeirismo (Zé Candinho); deslocamento do imigrante nas suas pegadas e novo período agrícola (Humberto): […][etc.]”. Desse modo o autor vai esboçando cada um de seus personagens ou grupos de personagens como tipos vetoriais da nova paisagem nacional em debuxo.
O segundo romance, O esperado, é o de subtítulo mais lacônico: apresenta-se como um “romance”, simplesmente. Mas, na abertura, diz o autor: “Passam, através deste livro, os Inquietos, os Inadaptados. Passam vítimas e opressores. Chocam-se direções contrárias do Pensamento. É o drama do nosso Espírito. Onde não há culpados. Onde tudo é incompreensão”. Depois, afirma categoricamente: “Este romance não defende nenhuma tese”.
Respeitando o autor quanto à sinceridade de seus propósitos, pode-se dizer que essa afirmação não é verdadeira. O romance defende não uma, mas várias teses: a de que os homens têm um destino pré-traçado em seus caracteres; a de que estes são o resultado do meio em que vivem e da cultura que trazem do berço. Essas duas teses dão ao pensamento de Plínio um ressaibo positivista, comum no naturalismo brasileiro e português. Além dessas duas, o romance, pelo título, deixa antever a tese de que somente o advento de um líder providencial pode tirar a nação de seus impasses, que transparecem, nas páginas finais da narrativa, num grande confronto entre forças políticas antagônicas, mais a polícia, no centro de São Paulo, em meio a uma tempestade.
Esse “Esperado” era um tema presente na sociedade brasileira de então. Paulo Prado, um dos intelectuais mais expressivos daquele momento, termina seu Retrato do Brasil, (Companhia das Letras), de 1928, falando sobre esse líder que deveria libertar o país do marasmo melancólico a que o condenaram as “três raças tristes” de sua formação: os portugueses expatriados, os negros escravizados e os índios exilados em sua própria terra, depois da colonização. O tópos do “Salvador da Pátria” foi e é recorrente na política brasileira. Suas origens remontam ao velho sebastianismo luso.
Quem seria esse “Esperado”? A visão do romance em seu contexto imediato, escrito em 1930 e publicado em 1931, permite supor que, para Plínio, a chegada de Vargas ao proscênio da política brasileira apontava o advento do líder providencial. Mas o tipo de liderança que ele desenvolveu depois, na Ação Integralista Brasileira, permite supor que ele se convenceu de que o “Esperado” seria ele mesmo, Plínio Salgado.
No prefácio desse romance, Plínio já anunciava o próximo, O cavaleiro de Itararé: “Pertence à série de crônicas da vida brasileira contemporânea, que começaram com O Estrangeiro, que se desdobraram diante do panorama mais complexo de O Esperado, e que continuarão [sic], possivelmente, no terceiro marco de nossa marcha, que será O Cavaleiro de Itararé”.
Publicado em 1933, este terceiro romance tinha por motivo de seu título uma lenda do sul do estado de São Paulo, da região montanhosa de Itararé, segundo a qual em certas noites a morte passa a cavalo pelos campos, semeando destruição. Embora planejado antes, não se pode deixar de associar o romance e seu título à decepção de Plínio com Vargas. No prefácio, diz ele que o romance foi escrito “em horas amargas de desilusão”. Em 1932, houvera um levante militar em São Paulo, contra o governo de Vargas. O levante fora provocado por uma mistura da decepção com o novo regime, que não implementara rapidamente as reformas que anunciara, com um esforço restaurador das velhas oligarquias agrárias de São Paulo, que viam seu poder esvaziado e a quem desagradava a nova política trabalhista, esboçada por Lindolfo Collor. O levante foi sufocado em poucos meses de luta. Plínio Salgado manteve-se distante dos rebeldes de 1932, mas não escondia sua insatisfação com o regime de Vargas e sua demora em promover as esperadas reformas que, para ele, deveriam ter um caráter doutrinário exemplar no sentido da salvação e do reerguimento nacionais.
“Itararé” tornou-se um signo de identificação do novo regime e de sua política de compromissos com a velha ordem. Quando as tropas comandadas por Vargas tomaram o rumo do norte, para ocupar o Rio de Janeiro, que então era a capital da República, esperava-se que a grande batalha entre os rebeldes e os legalistas se daria no Passo de Itararé, na divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo, uma região pobre e abandonada. Entretanto, cientes de sua posição fragilizada, os generais do Comando das Forças Armadas depuseram o presidente Washington Luís e entregaram o poder a Vargas. “Itararé” ficou na história brasileira como “a batalha que não houve”. Um célebre escritor cômico brasileiro, de grande sucesso na época, o gaúcho Aparício Torelly, se autonomeou o “Barão de Itararé”, passando a assinar suas obras sempre irônicas e satíricas com esse pseudônimo. Hoje ele é mais conhecido por seu apelido do que por seu nome de batismo.
É inevitável, portanto, que se pense em Vargas como o malfadado cavaleiro a que o terceiro romance se referia. Acresce isso ainda o fato de que Plínio, no prefácio, dizia que o romance era um chamado aos jovens e aos militares do país para que cumprissem o dever de salvar a pátria. E ele terminava com dizeres mais de orador do que de escritor:
Porque, se a juventude, civil e militar, não assume um papel decisivo; se continuamos a assistir, de braços cruzados, a confusão dos espíritos, ao jogo das intrigas, ao desencadear das ambições dos mil grupos que desarticulam a opinião nacional, então nada mais resta a tentar pela salvação do Brasil.
O quarto e último romance, A voz do Oeste, publicado em 1934, apresenta-se como um “romance-poema da época das Bandeiras”. E, no prefácio, diz o autor: “A história que vai ser narrada, nos sucessivos capítulos deste livro, é a história da alma brasileira, no alvorecer dos primeiros impulsos da Nação”. O romance enaltece “a mitologia do selvagem americano”, porque ela explica “a colaboração misteriosa da Terra nos grandes dramas brasileiros que os séculos sepultaram”, o que mistura retórica romântica com determinismo de raiz positivista.
O romance narra as aventuras de uma bandeira que, a partir de São Paulo, mergulha no sertão americano até o sopé dos Andes, animada pelo propósito secreto de encontrar El-Rei d. Sebastião, o monarca português desaparecido na Batalha de Alcácer-Quibir, no Norte da África, em 1578. O rei, por misteriosos caminhos e razões, estaria prisioneiro em algum lugar da Cordilheira dos Andes, próximo às minas de Potosí, na hoje Bolívia.
A ideia geral é a de expor que desde o tempo das antigas “raças” que habitavam a região da futura nação brasileira, ela já estava predestinada a ter destino grandioso. Como se vê, o romance se afasta da visão regular do nazismo, da determinação do destino dos povos pela superioridade ou inferioridade racial, fazendo o elogio de uma raça e de uma cultura que, na escala dos hitleristas, não teria qualquer valor. Do fascismo, ele retém a componente grandiosa, o tom grandiloquente, que, aliás, torna desagradável a sua leitura, e o sentido de determinação histórica, de grandeza da pátria. Mas chama em sua defesa o velho misticismo sebastianista nascido da crise portuguesa nos fins do século XVI.
Esse misticismo fora lembrado por vários intelectuais – entre eles Euclides da Cunha, em Os sertões, de 1902, para explicar as revoltas camponesas brasileiras, entre elas a de Canudos, que já se mencionou aqui. A voz do oeste reúne esse misticismo de raiz lusa e uma visão dos povos indígenas como motivados por um sentido místico de integração numa civilização maior e superior: a brasileira, que Plínio identificava como matriz da “quarta humanidade”. Mas o todo não convence: Plínio não consegue criar personagens históricos convincentes, seus índios parecem mais figurantes de alguma ópera burlesca, e o romance termina literalmente abandonando seus personagens à própria sorte, em troca da visão grandiosa de uma miragem: nas encostas das montanhas alcantiladas resplandece uma cidade descrita como “colossal e imponente”. Essa cidade é ao mesmo tempo do passado e do futuro, pois, diz o narrador, “para o espírito não existe o tempo”. E o autor aproveita a oportunidade para se despedir de seus personagens: “Que importa, de agora em diante, o destino de Martinho e de D. Gonçalo? Que mais interessa El-Rey, o Encoberto? Ou o descobrimento de Violante? Ou o encontro da virgem tupi e das cavernas de ouro?”.
A voz do Oeste dá a impressão de ter sido um romance que, depois de começado, tornou-se um problema para o autor, premido cada vez mais pela cena política complexa em que ele e o Brasil mergulhavam. E ele, então, terminou-o às pressas, podando a vida dos personagens. Os romances anteriores reservam melhores páginas ao leitor.
De todos, o mais inovador do ponto de vista do estilo é O estrangeiro. É escrito numa sucessão de fragmentos, que apreendem momentos, situações, estados de espírito. Vez por outra escorregam para o aforismo, ou a reflexão abstrata. Entretanto, essa inovação não esconde a concepção melodramática do enredo. O estrangeiro do título é um imigrante russo, Ivan. É um refugiado político, que teve seu grande amor negado na terra pátria. Consegue entrar no Brasil, cujo governo fazia uma cuidadosa triagem ideológica entre os imigrantes, em meio a um grupo de imigrantes italianos.
O romance se divide em duas partes bem caracterizadas. Na primeira, Ivan vai para o interior, para as fazendas de café, onde assiste a decadência das famílias tradicionais, constata a miséria dos camponeses (caboclos) brasileiros, abandonados pelos governos, e a prosperidade dos recém-chegados.
Na segunda, ele vem para a cidade grande, a metrópole, São Paulo, onde abre uma fábrica e enriquece. Vive então como industrial de sucesso numa cidade cosmopolita, que perdeu o contato com as antigas raízes culturais do país e da região. Reconhece, apesar de ser bem aceito na sociedade, que, distante do seu país de origem, levando o peso daquele amor insatisfeito, incapaz de desenvolver novas raízes, será sempre um estrangeiro, um apátrida. Para complicar sua situação psicológica, a consolidação dos sovietes em sua pátria, depois da revolução de 1917, traz para o Brasil levas de imigrantes que rejeitam o comunismo. Ivan sonha com a possibilidade de encontrar, entre esses imigrantes, sua amada Ana, descendente de uma família aristocrática.
O final é patético. Ivan pensa reconhecer entre alguns refugiados que vêm pedir emprego em sua fábrica a sua adorada Ana. É Noite de Ano Bom, e haverá uma grande festa na fábrica. Planeja então envenenar todos, colocando uma droga poderosa na cerveja que é servida. Fecha-se com a jovem – que na verdade não é Ana – no terraço, onde ambos morrem. A conclusão que se tira é que a falta de uma pátria enlouquece o homem, e que essa condição ameaça a sociedade brasileira, arriscada de se distanciar de suas raízes tradicionais sem se consolidar com um espírito de “união nacional”. O romance reserva ainda uma surpresa: os capítulos finais revelam que é um dos personagens, Juvêncio, um mestre-escola nacionalista, que está escrevendo a narrativa, enquanto marcha para o sertão em busca das raízes da pátria.
O esperado contém algumas das melhores páginas de Plínio no sentido social. O protagonista é o personagem Edmundo Milhomens que, tentando sobreviver entre a metrópole inovadora e o sertão tradicional, testemunha os novos processos sociais e políticos que ao mesmo tempo arrastam e dividem a nação. Merecem atenção especial, por exemplo, os capítulos XXV (“O êxodo”) e XXIX (“Péo! Péo!”). No primeiro, Plínio relata a situação premente dos caboclos desalojados impiedosamente de suas terras pelas disputas políticas entre líderes de partidos opostos, e forçados a marchar para o oeste.
Nesse processo, desbravam novas terras, que depois serão novamente ocupadas por políticos e proprietários das cidades, num processo doloroso e sem fim. E que foi o processo de ocupação das terras de São Paulo. No segundo, através do jogo entre os personagens, Plínio expõe duas teorias sobre o trato policial dos prisioneiros políticos. Um dos policiais acha melhor convencer os jovens revolucionários da inutilidade de suas ideias através da persuasão, enquanto o outro entende que o melhor é mesmo abalar-lhes o moral pela pancadaria.
Esse romance revela a tendência do autor para complicar seus enredos pela multiplicação dos personagens. E termina com uma visão fantástica, de uma batalha, no escuro, entre forças políticas antagônicas, no centro de São Paulo. Só a chegada do Grande Líder, o Esperado, poderá salvar essa sociedade ameaçada de desagregação.
Finalmente, O cavaleiro de Itararé faz uma crônica muito interessante do mundo das classes dirigentes de São Paulo, do começo do século XX até o começo da década de 1930. Tem de tudo: troca de bebês, revelações de identidade, conspirações, comédia e tragédia social, melodrama e drama amoroso. Dois dos protagonistas (pois são vários) são Urbano e Teodorico, as crianças trocadas. O primeiro, filho de uma família rica, cresce entre pobres – e adquire um caráter exemplar. O segundo, filho da família pobre, cresce entre os ricos, e carece de melhores qualidades morais. No final, depois de voltas e reviravoltas, Urbano impede que Teodorico e seu irmão Pedrinho (que era filho da família que criara Urbano, sendo, na verdade, irmão de Teodorico) se matem a tiros por causa da jovem Elisa, que ambos desejam. Mas Urbano, ferido, morre. O resultado é previsível: a jovem se deixa conquistar pela memória do herói morto, não casando com nenhum dos pretendentes, o que na verdade apenas ratifica o moralismo do autor.
Esses enredos melodramáticos não impedem a percepção de que Plínio traçou painéis muito interessantes das transformações por que passava a sociedade brasileira. Dois aspectos ainda merecem comentários. Em O cavaleiro de Itararé há um personagem judeu – Gruber – no primeiro plano. É um revolucionário e anarquista, mas sem caráter. Age dessa forma menos por convicção do que por compulsão. Plínio esboça a tese de que os judeus, privados de uma pátria e destituídos de uma nação, não podem ter caráter coletivo que dê consistência ao caráter individual. Pesa, portanto, em seu julgamento negativo sobre esse personagem, menos a questão racial e mais a cultural, embora também carregada de preconceito inaceitável.
O segundo aspecto é uma curiosidade de hoje. Fiz uma experiência, apresentando páginas de Plínio Salgado – sobretudo aqueles capítulos de O esperado em que a questão social avulta – a colegas meus, professores de Letras, pedindo-lhes que identificassem o autor. Responderam-me todos os consultados que deveria ser um autor dos anos 1920 ou 1930, de esquerda. A surpresa, ao tomarem conhecimento de quem se tratava, confirma o fato de que, se Plínio não conseguiu ser O esperado na política brasileira, ele é ainda hoje um escritor surpreendente, inesperado.
Não precisamos – não devemos – concordar com seus preconceitos e com seu conservadorismo reacionário. Mas, na esteira da citação de Marx/Terêncio que nos serviu de epígrafe, não podemos – não devemos – ignorá-lo. Sobretudo num momento em que sua religiosidade conservadora, transposta para o século XXI, faz parte dos impulsos que inspiram tantos brasileiros, ainda que sem o talento literário que ele manifestou nas melhores passagens de sua escrita.
*Flávio Aguiar é professor aposentado de literatura brasileira na USP.
Publicado originalmente na revista Margem esquerda. [2]
Notas
[1] Plínio Salgado escreveu quatro romances: O estrangeiro (São Paulo, Helios Editorial, 1926), O esperado (São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1931), O cavaleiro de Itararé (São Paulo, Gráfica-Editora Unitas Ltda., 1933), A voz do oeste (Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1934). Pude ter acesso a eles graças à generosidade do professor Antonio Candido, que me emprestou os volumes.
[2] Este ensaio foi escrito há mais de vinte anos, para uma edição especial de uma revista acadêmica do Canadá. Deste original em português, traduziu-se uma versão para o francês. A edição focalizava escritores de extrema-direita que caíram no ostracismo devido a suas preferencias ideológicas. Entretanto, submetido ao parecerista da publicação, recebi uma negativa seca, redigida pela diretoria do departamento competente, dizendo que eu falava pouco do texto e demais da biografia do autor. Agradeci à atenção, e disse estar positivamente surpreso por constatar que Plínio Salgado era uma figura tão conhecida nos meios acadêmicos do Canadá a ponto de dispensar apresentações.