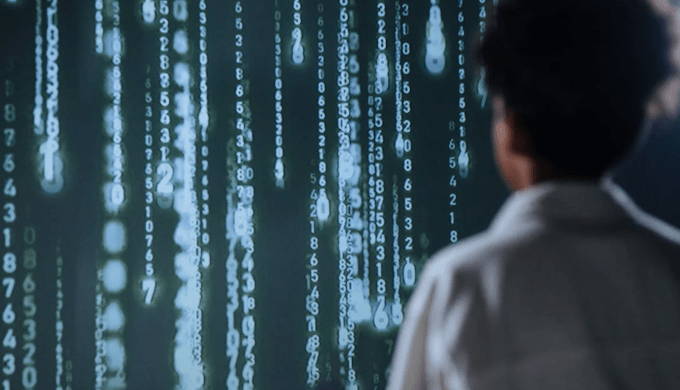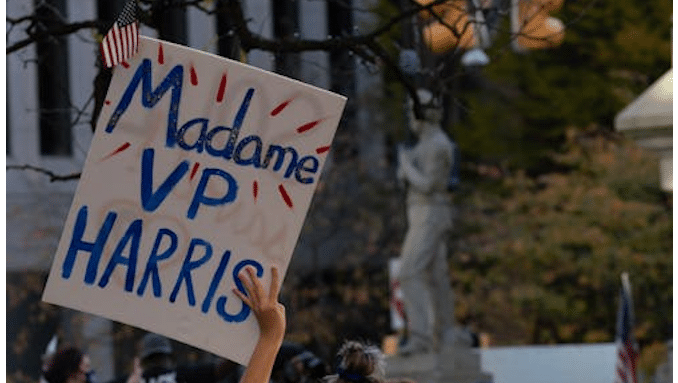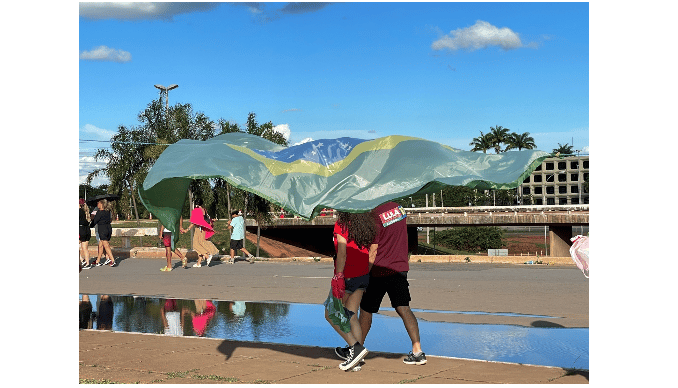Por PAULO CAPEL NARVAI*
Ciência é ciência; genocídio é genocídio.
Candido Portinari voltou da Europa em 1931 e queria dedicar seu tempo a registrar em suas telas as coisas da sua terra. Nelas queria colocar a história, as gentes, a cultura, a natureza brasileira. “Aquela gente com aquela roupa e com aquela cor”, dizia. Os dois anos passados na França o aproximaram ainda mais, e profundamente, do Brasil. O resultado dessa dedicação é hoje amplamente reconhecido, tanto no país quanto externamente. É ainda hoje o artista plástico brasileiro de maior projeção internacional.
Em Paris, Portinari conheceu Maria Martinelli, uma uruguaia com quem passaria o resto da vida – e isso provavelmente o levou, alguns anos depois, a Montevidéu, onde buscava o anonimato e a tranquilidade para trabalhar. Mas a opção cisplatina tinha também a ver com a temporada de caça aos comunistas, muito intensificada no Brasil após 1935. Tranquilidade para trabalhar no Uruguai, porém, o comunista Portinari nunca teve.
Quando lançou “O livro dos abraços”, em 1989, Eduardo Galeano dedicou um dos 191 capítulos a Portinari. Contou que, quando batiam à porta de sua casa procurando-o, ele mesmo atendia e dizia “o Portinari saiu”. Aguardava um instante, batia a porta e sumia. Com essa estratégia, el señor Candido escapou de muita gente – menos dos intelectuais comunistas uruguaios que, buscando entender melhor o que era aquilo de “realismo socialista” que chegara de Moscou, queriam saber o que opinava sobre o tema o prestigiado camarada.
Galeano conta que, em respeito à estratégia de anonimato adotada pelo brasileiro, os uruguaios argumentavam que “sabemos que o senhor saiu, mestre”, mas ainda assim podemos “conversar um pouquinho?”. Em certo dia, Portinari os atendeu. Consta que foi brevíssimo sobre o tal realismo socialista: “Eu não sei não”, disse o paulista de Brodowski, “a única coisa que eu sei é o seguinte: arte é arte, ou é merda”.
Claro como o sol. Mais direto, impossível.
O recado não dava margem à dúvida: se o que se pretende arte não tem qualidade, não serve para nada. (Registre-se, a propósito, que em termos bioquímicos fezes servem para muitas coisas. Mas isto é outro assunto. Portinari não estava preocupado com bioquímica.)
Valho-me do episódio sobre Portinari, contado por Galeano sob o título Definição da arte, para fazer um paralelo entre arte e ciência. Sim, caro leitor(a), sei que arte é arte e ciência é ciência e, decerto, não cometerei o desatino de tentar aqui qualquer coisa parecida com “definição de ciência”, ou algo assim, pois tenho juízo. É que meu problema é a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada no Senado Federal para apurar ações e omissões relacionadas com o descontrole da pandemia de covid-19 no Brasil.
Refiro-me a “problema”, pois a CPI está dando enorme destaque à ciência, na condução dos seus trabalhos. Entre juras de afiliação incondicional “à ciência”, fala-se o tempo todo em “ciência”, em ouvir as “opiniões” (assim, no plural) dos “cientistas” e, a cada menção a esses termos, vem-me à memória o episódio do Portinari em Montevidéu. Foi sobre arte. Mas, penso eu, bem que pode ser sobre ciência. Ciência é ciência, ou é inútil.
No clássico A estrutura das revoluções científicas (Perspectiva), publicado em 1962, Thomas Kuhn, desenvolveu o conceito de ‘paradigma científico’, uma espécie de macroteoria, segundo a qual, sendo a ciência um tipo de conhecimento cumulativo, provisório e perfectível, pois necessariamente aberto ao próprio questionamento, é dotada de historicidade. A ciência evolui, negando-se e preservando-se permanentemente. Fica, permanece, apenas o conhecimento que ainda não pode ser negado. Isto significa que, em cada contexto histórico, ciência corresponde a um conjunto estruturado de formulações teóricas e leis, cuja validade é reconhecida por uma determinada comunidade epistêmica – ou seja, de membros que se reconhecem mutuamente como interlocutores qualificados ao diálogo sob determinadas regras e condições aceitas por todos.
Nessas condições, a ciência é caracterizada por uma dinâmica em que hipóteses, teses e antíteses estão permanentemente postas, sendo o conhecimento científico passível de negação e superação ou reafirmação, nos termos dos paradigmas aceitos em cada comunidade epistêmica. Nada é, portanto, mais estranho ao pensamento científico do que o pensamento dogmático. Porém, que ninguém se equivoque com essa característica da ciência. Ser cumulativo significa que, enquanto não é superado, pois aberto ao próprio questionamento, um saber científico deve ser aceito como tal por todos da comunidade científica. O que faz voar aviões, ou mantém firmes edifícios, é um tipo de conhecimento científico cumulativo e consolidado, cuja utilização rotineira é tão segura quanto necessária aos seus fins.
Embora “tudo possa mudar” (como desfecho do que Kuhn denominou de “crise paradigmática”), como ocorreu quando a teoria geocêntrica (paradigmática durante séculos) foi se revelando incapaz de seguir fundamentando a evolução do conhecimento e cedeu lugar à teoria heliocêntrica, ou quando a teoria da hereditariedade de Jean-Baptiste Lamarck, fundada nas leis do “uso e desuso” de órgãos e na “transmissão dos caracteres adquiridos” cedeu lugar ao paradigma genético proposto por Gregor Mendel, há uma relativa permanência e aprimoramento constante da ciência, no interior de cada paradigma – o que Kuhn caracterizou como “ciência normal”. Assim, quando em 1953 James Watson e Francis Crick propuseram a estrutura de dupla hélice para o DNA, assentaram sua teoria no que havia sido desenvolvido quase um século antes por Mendel, em 1866, e aos pesquisadores que se seguiram.
Não obstante, Kuhn reconhece que a ciência não é objetiva, no sentido de uma suposta neutralidade que lhe seria inerente, pois as escolhas que levam à sua evolução, feitas pelos que produzem conhecimento científico, são subjetivas. Tal reconhecimento, porém, não deve levar ninguém a supor, inadvertidamente, alguma “flexibilidade” do saber científico, notadamente a flexibilidade de tipo partido político ou a motivada por alguma paixão avassaladora por algo ou alguém. Os campos da biologia ou da física, para ficar em apenas dois exemplos, são emblemáticos a esse respeito. Inútil o prefeito Odorico Paraguaçu, imortalizado pelo gênio de Dias Gomes, mandar revogar a lei da gravidade…
Alongo-me nessas considerações sobre ciência para enfatizar que me parece absolutamente fora de lugar, na CPI, a perspectiva adotada por vários senadores, sejam de situação ou de oposição, de buscar aplicar, para temas científicos, a abordagem jornalística de “ouvir os dois lados”. Supõe-se haver, segundo essa abordagem, também para assuntos científicos, diferentes opiniões e que caberia aos ilustres parlamentares, pondo-se a si mesmos em posição de julgamento, “ouvir os dois lados”, arbitrar e, então, do alto de sua estelar sapiência proveniente de votos (e sabe-se lá como muitos foram obtidos…), decidir.
Foi o que se viu quando a CPI convocou para prestar depoimento, prometendo dizer “somente a verdade”, além de autoridades do governo federal, algumas “personalidades” selecionadas do campo da “ciência” que, postas em condições similares à de celebridades, passaram a emitir seus vereditos “científicos”, vaticinando sobre fármacos variados e suas propaladas eficiência, eficácia e efetividade.
Mas não é assim, sob câmeras e holofotes, que se dá o debate científico. Ele se desenvolve rotineiramente por meio de periódicos científicos, com publicações arbitradas por pares, que observam o cumprimento de regras e métodos, quase sem alarde e publicidade. Trata-se de debate muito diferente dos embates parlamentares, pois marcado por efetivo respeito entre pares e motivado pelo compromisso tácito de “fazer avançar o conhecimento”. Quando esses aspectos se rompem, geralmente se trata de violação do compromisso tácito, motivada por fatores extraciência.
No caso da CPI da pandemia, os depoimentos de “cientistas” mostraram, para assombro público, o quanto é possível deformar a linguagem científica e, apropriando-se de um estilo discursivo, falsear a ciência – como vêm fazendo não apenas “cientistas”, mas também alguns altos e baixos dirigentes do governo federal, com responsabilidades sobre os rumos da saúde no país. Motivados por ideologia e razões políticas, flertam irresponsavelmente com a pseudociência e, assim, tornam-se cúmplices do genocídio.
Ouvi de uma amiga que, numa das sessões da CPI, “foi como se tivessem colocado a expressão ‘evidência científica’ num ‘pau-de-arara’, tanto que a torturaram”. Apropriada pelo senso comum, e deformada pela pseudociência, a expressão “evidência científica” vem sendo banalizada e tornada equivalente a “evidência dos meus resultados”, por muitos que a utilizam. “Nós estamos produzindo evidências”, dizem. Parecem crer que resultados de um, ou alguns poucos estudos, bastam para formar evidência científica e que seriam, portanto, suficientes para “comprovar” algo.
Falta, claro, saber o que pensa disso a comunidade epistêmica em que se insere a “evidência” assim produzida. É o caso, por exemplo, do emprego da hidroxicloroquina e de ivermectina, para “tratamento” de covid-19. Ainda que se argumente com o princípio da precaução para a hipótese de que, algum dia, seja possível “provar” algo diferente do que se dispõe atualmente sobre tais fármacos, o fato é que, hoje, não há que falar em “evidência científica” de sua eficácia. Não se pode elevar um medicamento a algo equivalente a “tratamento” (do qual qualquer fármaco é sempre parte, jamais podendo ser tomado como o todo da terapia) e, menos ainda, transformar um medicamento em uma política pública, prescrito para consumo universal.
Não basta também, como fundamento da política pública, o argumento de autoridade, com base na “experiência clínica” de alguém. Aliás, o advento do conceito de “evidência científica” ocorreu, justamente, em aberta contraposição à “opinião do catedrático” e para que decisões sejam tomadas com base em ciência e não apenas na casuística de algum profissional. Não basta, portanto, uma “opinião”. Não é suficiente uma pesquisa. A “evidência científica” se forma a partir de um número razoável de pesquisas (número reconhecido como razoável por uma comunidade epistêmica, não por uma ou duas pessoas) e, como pesquisas são realizadas continuamente, também as evidências científicas vão se modificando continuamente. Por essa razão, há também, presentemente, limitações à “liberdade de prescrição”, que se expressa na suposta “autonomia do médico”, tão alardeada no ambiente da CPI e na opinião pública. A ciência, mais exatamente, a “evidência científica” é o limite para esta liberdade e para a suposta autonomia.
Há algumas semanas, fui solicitado a colaborar com uma entidade da área da saúde sobre esses temas (autonomia profissional e liberdade de prescrição). Argumentei com esse limite, ético-deontológico, imposto pela “evidência científica”, afirmando que ao reivindicá-lo em termos absolutos e sem considerar diferentes contextos, os que o fazem contra a ciência acabam por “deformar esse princípio clínico, uma vez que tal liberdade funda-se em bases científicas e no devido respeito às culturas de cura de povos tradicionais, como indígenas e quilombolas. Egressos de cursos de graduação da área da saúde não gozam do direito irrestrito de prescrever e de fazerem ‘o que quiserem’, pois tais direitos são regulados e, portanto, atualizados pelos códigos deontológicos e os princípios éticos, os quais, como se sabe, incorporam gradativamente as conquistas da ciência e da tecnologia. Se até meados do século XX era compreensível, por exemplo, que alguns pneumologistas seguissem recomendando a prática do tabagismo como algo válido e benéfico para os pulmões, é evidente que, no início do século XXI, tal recomendação é inaceitável. Sua tolerância, em contextos sociais específicos, não corresponde a recomendar essa prática”.
Com efeito, a prevalecer, em nome da autonomia profissional, esse “relativismo de prescrição”, como uma espécie de relativismo cultural, os conselhos de medicina (como o CREMESP) deveriam cogitar a cessação imediata de exames de avaliação para habilitar médicos ao exercício profissional. Afinal, para que realizá-los se “tudo é relativo”, se “sempre há dois lados” e se cada um pode “fazer o que quiser”?
É preciso, portanto, nesse contexto, reafirmar que a “ciência normal” afirma uma verdade, admitida como tal, em dado momento, por pares da comunidade epistêmica. É uma verdade provisória, vale a pena reiterar, e, portanto, mutável. Mas, enquanto admitida como verdade científica, não comporta “opiniões”, nem requer a oitiva do “contraditório”, como querem alguns senadores com vozes de locutor, afirmações grandiloquentes e fazendo poses de santos inocentes e puros, “em busca da verdade”, mas não convencendo nem uma criança. Não há, simplesmente, “outro lado”.
O pressuposto é simples: insatisfeitos com o status quo das evidências científicas devem buscar a transformação dessa realidade. Com boas pesquisas e valorização da ciência, recusando o negacionismo e a mistificação. Não compreender isto, seja por ingenuidade ou má-fé, é não compreender nada sobre o conhecimento científico, sua produção, apropriação e uso.
Permito-me, a propósito, parafrasear parcialmente Portinari e reiterar que o que eu sei é o seguinte: ciência é ciência; genocídio é genocídio.
*Paulo Capel Narvai é professor titular sênior de Saúde Pública na USP.