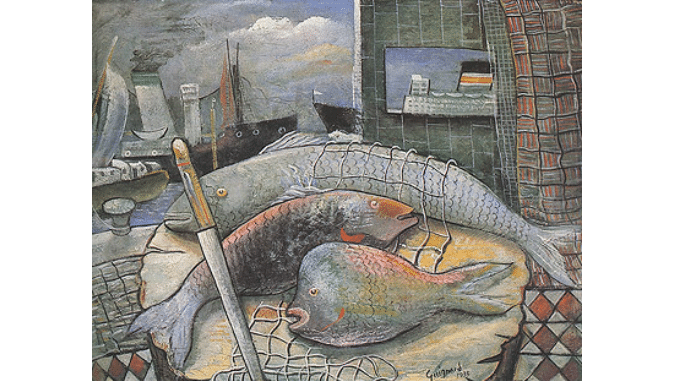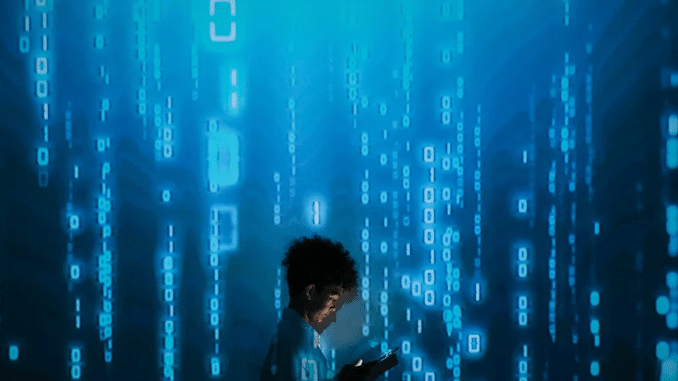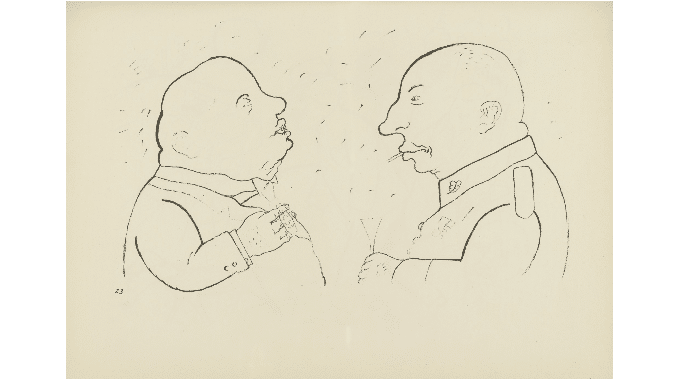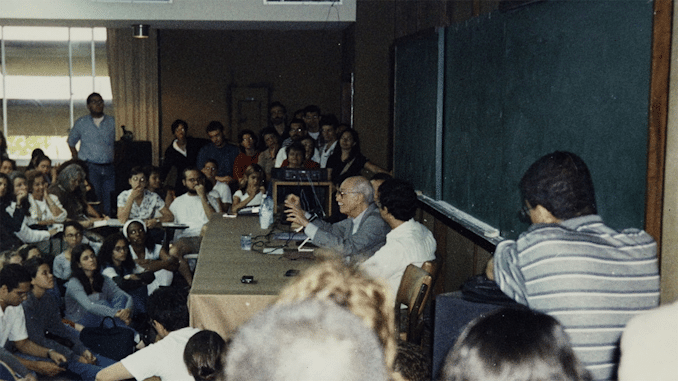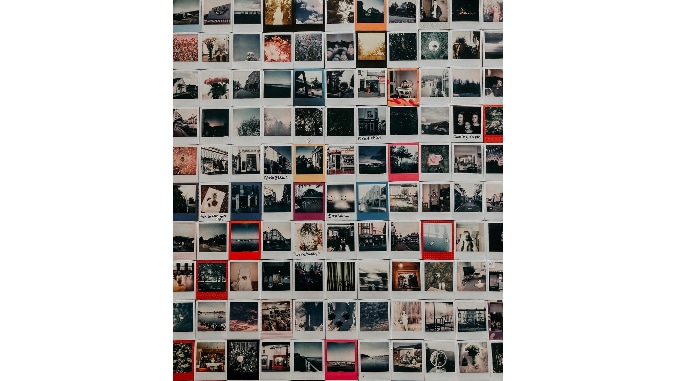Por JACK HALBERSTAM*
Prefácio do livro recém-editado de Fred Moten e Stefano Harney
Termina com amor, troca, camaradagem. Termina como começa, em movimento, entre os vários modos de ser e pertencer, a caminho de novas economias do dar, tomar, ser com e para, e termina com um passeio em um Buick Skylark a um lugar completamente outro. Surpreendente, quem sabe, depois de lidarmos com a despossessão, a dívida, o deslocamento e a violência.
Mas não surpreendente quando se entende que os projetos de “planejamento fugitivo e estudo negro” tratam em sua maioria de fazer contato para encontrar conexões, fazer causa comum com o destroçamento do ser, um destroçamento que, me aventuraria a dizer, também é a negridade que permanece negridade, e que permanecerá, apesar de tudo, destituída, pois este livro não é uma receita para reparação.
Se não tentamos consertar o que foi destroçado, o que acontece? Como nós resolvemos viver com o destroçamento, com o ser destroçado, que é também o que Fred Moten e Stefano Harney chamam de “dívida”? Bem, visto que às vezes dívida é uma história do dado, outras vezes uma história do tomado, mas sempre uma história do capitalismo, e visto que dívida significa também uma promessa de propriedade, mas que ela nunca cumpre essa promessa, entendemos que dívida é algo que não pode ser pago.
Dívida, como diz Stefano Harney, pressupõe um tipo de relação individualizada com uma economia naturalizada que se baseia na exploração. Há, pergunta ele, outro sentido para o que é devido que não pressuponha um nexo de atividades tais como reconhecimento e aceitação, pagamento e gratidão? Dívida pode “se tornar um princípio de elaboração”?
Na entrevista com Stevphen Shukaitis, Fred Moten relaciona a dívida econômica ao despedaçamento do ser; reconhece que algumas dívidas podem ser pagas e que muito é devido pelas pessoas brancas, especialmente às pessoas negras. Ele ainda diz: “Mas também sei que aquilo que deve ser reparado é irreparável. Não há reparação. A única coisa que podemos fazer é destruir completamente essa merda e começar do zero” [pp. 180–81]. Os sobcomuns não vêm para pagar suas dívidas, para reparar o que foi quebrado, para consertar o que foi desfeito.
Se o leitor quer saber o que querem os sobcomuns, o que querem Fred Moten e Stefano Harney, o que querem as pessoas negras, indígenas, queers e pobres, o que queremos nós (o “nós” que coabita o espaço dos sobcomuns), é o seguinte – não podemos nos satisfazer com o reconhecimento e a aceitação gerados pelo mesmo sistema que nega: (a) que alguma coisa tenha se quebrado [broken] e (b) que merecíamos ser a parte quebrada; por isso, nós nos recusamos a pedir reconhecimento – ao contrário, nós queremos desmontar, desmantelar, derrubar a estrutura que, neste momento, limita a nossa capacidade de encontrarmos uns aos outros, de ver além e de ter acesso aos lugares que sabemos que existem fora de suas paredes.
Não podemos prever que novas estruturas substituirão aquelas com as quais ainda vivemos, pois, uma vez que tivermos botado tudo abaixo, inevitavelmente veremos mais, veremos de modo diferente e sentiremos um novo sentido de querer, ser e devir. O que quereremos depois da “quebra” será diferente daquilo que pensamos querer antes da quebra e ambas serão necessariamente diferentes do desejo que surge precisamente do estar na quebra.
Pensemos de outro modo. Na melancólica e visionária versão cinematográfica da obra de Maurice Sendak Onde vivem os monstros (1963), realizada em 2009, o pequeno aventureiro Max deixa seu quarto, sua casa e sua família para explorar um além indomável e encontra um mundo de feras perdidas e solitárias que prontamente fazem dele o seu rei. Max foi o primeiro rei das feras indomáveis que elas não comeram e que, por sua vez, não tentou comê-las; e as feras foram as primeiras criaturas adultas que Max conheceu que se importavam com sua opinião, seu julgamento e suas regras.
O poder de Max vem do fato de ele ser pequeno, enquanto elas são grandes; ele jura às feras que não tem a intenção de comê-las e isso é mais do que qualquer um jamais lhes jurara. Promete encontrar maneiras de atravessar e contornar, “deslizar pelas rachaduras” e voltar a abri-las, caso elas se fechem. Promete manter a tristeza à distância e criar um mundo com as criaturas indomáveis que “rugiram seus rugidos terríveis e rangeram seus dentes terríveis e reviraram seus olhos terríveis e mostraram suas garras terríveis”. O fato de Max fracassar em sua intenção de fazer as feras felizes ou salvá-las ou criar um mundo com elas é menos importante do que o fato de que ele as encontrou e reconheceu nelas o fim de algo e um caminho potencialmente alternativo para o seu próprio mundo.
As feras não eram criaturas utópicas de contos de fadas, eram sujeitos rejeitados e perdidos do mundo que Max deixara para trás e, porque transita entre a terra edipiana governada por sua mãe e o mundo arruinado dos selvagens, ele conhece os parâmetros do real – ele vê o que é incluído e o que é deixado de fora e, por isso, é capaz de zarpar para outro lugar, um lugar que não é nem a casa de onde ele saiu nem a casa para onde quer voltar.
Fred Moten e Stefano Harney querem apontar para um outro lugar, um lugar selvagem que não seja simplesmente o espaço restante que delimita as zonas reais e regulamentadas da sociedade bem-educada; ao contrário, um lugar indomável que produza continuamente sua própria natureza selvagem não regulamentada. A zona na qual entramos por intermédio de Fred Moten e Stefano Harney é contínua e existe no presente e, como diz Harney, “uma demanda que já estava sendo acionada, cumprida no próprio chamado” [p. 157].
Ao descrever os distúrbios de 2011 na Inglaterra, Stefano Harney sugere que distúrbios e insurreições não separam “o pedido, a demanda e o chamado” – ao contrário, eles encenam um no outro: “Mas creio que no caso do chamado – como eu o entendo, o chamado inscrito na dinâmica do chamado e da resposta – a resposta já está lá, antes mesmo de o chamado ser proferido; creio que o chamado é posterior à resposta. Já estamos no meio de algo” [ibid.]. Nós já estamos nela. Para Fred Moten, nós estamos sempre naquela coisa que chamamos e que nos chama.
Além do mais, o chamado é sempre um chamado à des-ordem e essa desordem, ou essa natureza selvagem, manifesta-se em muitas coisas: no jazz, na improvisação, no ruído. Os sons desordenados a que nos referimos como cacofonia serão sempre considerados “extramusicais”, como diz Fred Moten, precisamente porque ouvimos algo neles que nos lembra que o nosso desejo de harmonia é arbitrário e que, em outro mundo, a harmonia soaria incompreensível. Ouvir a cacofonia e o ruído nos diz que há um além indomável das estruturas que habitamos e que nos habitam.
E quando somos chamados a esse outro lugar, o além indomável ou, segundo a apropriada terminologia de Fred Moten e Stefano Harney, “o além do além”, temos de nos entregar a um certo tipo de loucura. Moten lembra que, mesmo quando Frantz Fanon assumiu uma postura anticolonial, ele sabia que “pareceria loucura”, mas, como psiquiatra, também sabia não aceitar essa divisão orgânica entre o racional e o louco; sabia que seria uma loucura para ele não assumir essa postura num mundo que lhe atribuíra o papel do irreal, do primitivo e do selvagem. Frantz Fanon, de acordo com Fred Moten, não quer o fim do colonialismo, mas, sim, o fim do ponto de vista a partir do qual o colonialismo faz sentido.
Portanto, para pôr fim ao colonialismo, não se deve dizer a verdade ao poder, deve-se habitar a louca, absurda e vociferante linguagem do outro, esse outro a quem o colonialismo atribuiu uma não existência. Na verdade, a negridade, para Fred Moten e Stefano Harney, à maneira de Frantz Fanon, é a vontade de estar no espaço que foi abandonado pelo colonialismo, pela lei e pela ordem. Moten nos leva até lá quando diz sobre Fanon: “Finalmente, creio, ele passa a acreditar no mundo, o que significa o outro mundo, o mundo que habitamos e onde talvez até mesmo cultivemos essa ausência, esse lugar que aparece aqui e agora, no espaço e no tempo do soberano, como ausência, escuridão, morte, coisas que não são (como diria John Donne)” [p. 162].
O caminho até o além indomável é pavimentado pela recusa. Em Sobcomuns, se partimos de algum ponto, é do direito de recusar o que nos foi recusado. Citando Gayatri Spivak, Fred Moten e Stefano Harney chamam essa recusa de “primeiro direito” e é um tipo de recusa que muda o jogo, na medida em que assinala a recusa das escolhas tal como são oferecidas. Podemos entender essa recusa nos termos em que Chandan Reddy a coloca em Freedom With Violence (2011). Para Reddy, o casamento gay é uma opção que não pode ser contestada nas urnas. Embora se possa ressaltar uma série de críticas ao casamento gay em termos de institucionalização da intimidade, quando se vai às urnas para votar, com a caneta na mão, só é possível marcar “sim” ou “não” e o “não”, nesse caso, pode ser mais calamitoso que o “sim”. Assim, devemos recusar a escolha que nos é oferecida.
Fred Moten e Stefano Harney também estudam o que significaria recusar o que denominam “chamado à ordem”. E o que significaria, ademais, recusar-se a chamar os outros à ordem, recusar a interpelação e a reinstanciação da lei. Fred Moten e Stefano Harney sugerem que, quando recusamos, criamos dissonância e, mais importante, permitimos que a dissonância continue – quando entramos em uma sala de aula e recusamos chamar à ordem, estamos permitindo que o estudo continue, um estudo dissonante talvez, um estudo desorganizado, porém o estudo que precede nosso chamado e continuará após deixarmos a sala.
Ou, ao ouvir música, devemos recusar a ideia de que a música acontece apenas quando o músico entra e pega o instrumento; música também é o que antecede a execução, os ruídos de apreciação que ela gera e a fala que acontece à sua volta e através dela, produzindo-a e apreciando-a, estando nela enquanto a escuta. Assim, quando nos recusamos a chamar à ordem – o professor pegando o livro, o maestro erguendo a batuta, o orador pedindo silêncio, o carrasco apertando o nó –, recusamos chamar à ordem como distinção entre ruído e música, tagarelice e conhecimento, dor e verdade.
Esses tipos de exemplos chegam ao coração do mundo dos sobcomuns de Fred Moten e Stefano Harney – os sobcomuns não são um domínio onde nos rebelamos e geramos crítica; é um lugar onde podemos “abrir fogo contra o mar de angústias / E, relutante, dar-lhes fim”. Os sobcomuns são um espaço e um tempo que é/está sempre aqui. Nosso objetivo – e aqui o “nós” é sempre o modo correto de expressão – não é pôr um termo aos problemas, mas pôr um termo ao mundo que criou esses problemas particulares como aqueles que devem ser enfrentados.
Fred Moten e Stefano Harney recusam a lógica que encena a recusa como inatividade, como a ausência de um plano e um modo de impedir a política séria. Moten e Harney nos ensinam a ouvir o ruído que produzimos e recusar as ofertas que recebemos para dar ao ruído a forma de “música”.
No ensaio “A universidade e os sobcomuns”, presente nesta edição e já conhecido por muitos leitores, Fred Moten e Stefano Harney chegam perto de explicar sua missão. Recusando-se a ser contra ou a favor da universidade e, na verdade, demarcando o acadêmico crítico como o ator que justamente mantém em vigor a lógica do “contra ou a favor”, Moten e Harney nos conduzem aos “sobcomuns do esclarecimento”, onde os intelectuais subversivos se envolvem igualmente com a universidade e com a fugitividade: “onde o trabalho é levado a cabo, onde o trabalho é subvertido, onde a revolução ainda é negra, ainda é forte” [p. 29].
Aprendemos que intelectuais subversivos são pouco profissionais, não colegiais, são passionais e infiéis. Intelectuais subversivos não estão tentando ampliar nem mudar a universidade, intelectuais subversivos não estão labutando na miséria e, a partir da miséria, articulando um “antagonismo geral”. Em verdade, intelectuais subversivos desfrutam da viagem e querem que ela seja mais rápida e selvagem; não querem um teto todo seu, querem estar no mundo, no mundo com os outros, e fazer o mundo de novo.
Fred Moten insiste: “Como Deleuze, eu acredito no mundo e quero estar nele. Quero estar nele até o fim, porque acredito em um outro mundo no mundo e quero estar nele. E pretendo manter a fé, como Curtis Mayfield. Mas isso está além de mim, e até além de mim e Stefano, está lá fora no mundo, na outra coisa, no outro mundo, no barulho animado dos últimos tempos, disperso, de improviso, na recusa dos sobcomuns à academia da miséria”. [p. 136]
A missão dos habitantes dos sobcomuns, portanto, é reconhecer que, quando procuramos melhorar as coisas, não fazemos isso apenas para o Outro, devemos fazer também para nós mesmos. Embora os homens possam acreditar que estão sendo “sensíveis” tornando-se feministas, embora as pessoas brancas possam achar que estão sendo corretas opondo-se ao racismo, ninguém está pronto para abraçar a missão de “botar abaixo tudo isso” até se dar conta de que as estruturas a que elas se opõem não são nocivas apenas para alguns, elas são nocivas para todos.
As hierarquias de gênero são tão nocivas para os homens quanto para as mulheres e são realmente nocivas para odo o restante. As hierarquias raciais não são racionais ou ordenadas; elas são caóticas e sem sentido e devem ser combatidas precisamente por todos aqueles que de algum modo se beneficiam delas. Ou, como diz Fred Moten: “Veja, o problema da coalizão é que a coalizão não é algo que vem para que você possa me ajudar. É uma manobra que sempre volta para os próprios interesses de vocês. A coalizão vem do seu reconhecimento de que está uma merda para você, da mesma maneira que nós já reconhecemos que está uma merda para nós. Eu não preciso da sua ajuda. Só preciso que você reconheça que essa merda também está matando você, seu otário, ainda que muito mais suavemente, entendeu?”[p. 166].
A coalizão nos une no reconhecimento de que devemos mudar as coisas ou morrer. Todos nós. Devemos mudar tudo que está fodido e essa mudança não pode vir sob a forma daquilo que consideramos “revolucionário” – como uma exasperação masculinista ou um confronto armado. A revolução chegará sob uma forma que não podemos ainda nem imaginar. Fred Moten e Stefano Harney propõem que nos preparemos desde já para aquilo que está por vir entrando em uma dinâmica de estudo. O estudo, um modo de pensar com os outros separado do pensar que a instituição exige de nós, nos prepara para sermos incorporados àquilo que Harney chama de “com e a favor” e nos permite passar menos tempo antagonizando e sendo antagonizados.
Como todos os encontros que constroem o mundo e abalam o mundo, quando você entra neste livro e aprende como ser com e a favor, em coalizão, em direção ao lugar que já estamos construindo, você também sente medo, trepidação, preocupação e desorientação. A desorientação, dirão Fred Moten e Stefano Harney, não é apenas inconveniente: ela é necessária, porque assim você não estará mais em um lugar avançando para outro, mas já será parte do “movimento das coisas” e estará a caminho dessa “proscrita vida social de nada”.
O movimento das coisas pode ser sentido e tocado, existe na linguagem e na fantasia, é fuga, é movimento, é a própria fugitividade. A fugitividade não é apenas escape, “saída”, como poderia dizer Paolo Virno, ou um “êxodo”, nos termos oferecidos por Hardt e Negri. A fugitividade é estar separado do assentamento. É um estar em movimento que aprendeu que “organizações são obstáculos à nossa própria organização” (Comitê Invisível em A insurreição que vem) e que existem espaços e modalidades separados da lógica, da logística, do acolhido e do posicionado. Moten e Harney chamam isso de “estar junto no desamparo”, que não idealiza nem metaforiza o desamparo. O desamparo é o estado de despossessão que almejamos e abraçamos.
“Será que esse estar junto no desamparo, essa interação com a recusa do que foi recusado, essa aposicionalidade sobcomum pode ser um lugar de onde emerge não a consciência própria ou o conhecimento do outro, mas uma improvisação que procede de algum lugar do outro lado de uma pergunta não articulada?” [p. 110].
Penso que é a isso que Jay-Z e Kanye West (outra unidade colaborativa de estudo) se referem quando dizem que “não há igreja na selva” [no church in the wild].
Para Fred Moten e Stefano Harney, devemos fazer causa comum com aqueles desejos e (não) posições que parecem loucas ou inimagináveis: devemos, em nome desse alinhamento, recusar aquilo que inicialmente nos foi recusado e, nessa recusa, remoldar o desejo, reorientar a esperança, reimaginar a possibilidade e fazer isso separadamente das fantasias aninhadas nos direitos e na respeitabilidade.
Ao invés disso, nossas fantasias devem vir daquilo que Fred Moten e Stefano Harney, citando Frank B. Wilderson, chamam de “porão”: “E assim permanecemos no porão, na quebra, como se estivéssemos entrando, várias e várias vezes, no mundo quebrado, para traçarmos a companhia visionária e nos juntarmos a ela.” [p. 107]. Aqui o porão é o porão do navio negreiro, mas é também o domínio que temos sobre a realidade e a fantasia, o domínio que eles têm sobre nós e o domínio de decidirmos renunciar ao outro, preferindo tocar, ser com, amar.
Se não há igreja na selva, se há estudo, em vez de produção de conhecimento, se há um modo de estarmos juntos nos destroços, se há sobcomuns, devemos encontrar o nosso caminho. E não será onde vivem as feras indomáveis. Será um lugar onde o refúgio é desnecessário, e você descobrirá que sempre esteve nele.
*Jack Halberstam, ativista e filósofo, é professor do Departamento de Letras e do Instituto de Pesquisa sobre Mulheres, Gênero e Sexualidade da Columbia University. É autor, entre outros livros, de A arte queer do fracasso (Ed. CEPE).
Referência
Fred Moten e Stefano Harney. Sobcomuns: planejamento fugitivo e estudo negro. Tradução: Mariana Ruggieri, Raquel Parrine, Roger Farias de Melo, Viviane Nogueira. São Paulo, Ubu, 2024, 222 págs. [https://amzn.to/3WpNz47]
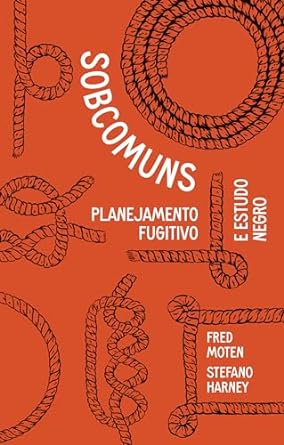
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA