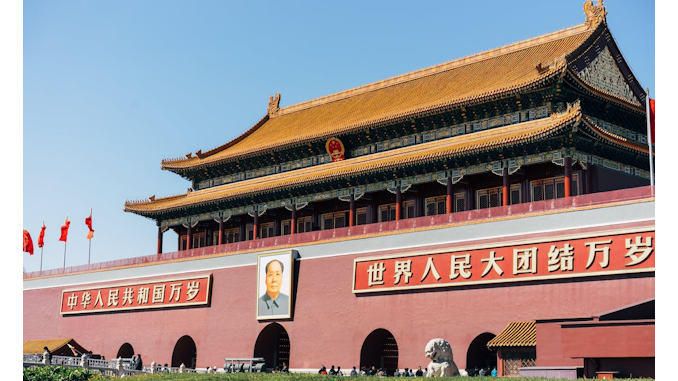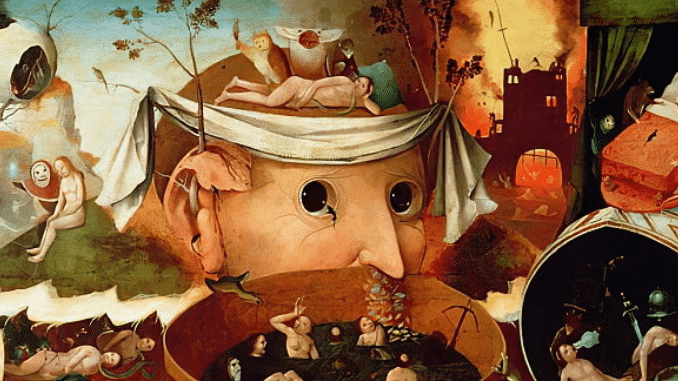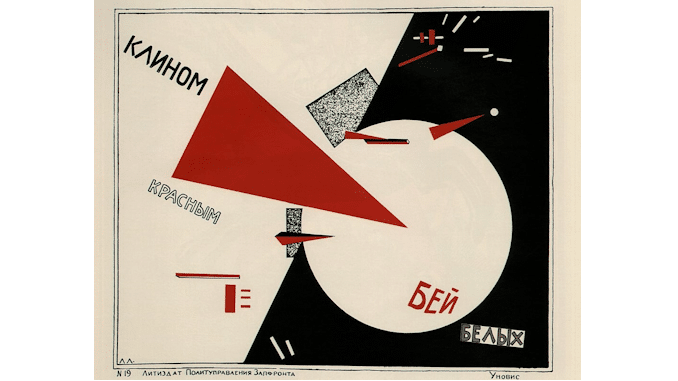Por HANS ULRICH GUMBRECHT*
Trecho do livro recém-editado
O estádio como ritual de torcida
Hoje em dia, os eventos de multidão ocorrem em estádios muito mais frequentemente do que há meio século. Desde o final dos anos 1970 e a ascensão de Freddie Mercury e sua banda Queen à fama mundial, o rock de arena tornou-se não apenas um fato da vida, mas um popular gênero de música em si mesmo. A canção “We Are The Champions” representa isso. Em 23 de junho de 2019, a missa de encerramento do Fórum da Igreja Protestante Alemã se deu no maior estádio da Alemanha, em Dortmund (por mais que o número de 32 mil participantes tenha sido considerado “decepcionante”).
Contudo, uma esperança brevemente renovada na eficácia política das formações espontâneas de multidões desvaneceu-se novamente na medida em que as arrebatadoras cenas da Primavera Árabe e dos dias da Revolução Maidan em Kiev foram arquivadas no fundo de nossas memórias históricas.
Apesar desta configuração de tendências, minha observação de que “as massas chegam a seu fundamento justamente no estádio” pode ter parecido enganosa. Pois insinuar seriamente que poderia haver versões perfeitas ou completamente corretas para qualquer fenômeno seria um pensamento pseudoplatônico e consequentemente pseudofilosófico do pior tipo.
Portanto, eu deveria reformular a frase. Inicialmente, olhar para as multidões no espaço dos estádios e para os espectadores de eventos esportivos nos ajudou a evitar duas formas tradicionais de análise: o tradicional desprezo pelas massas e sua igualmente pouco convincente “heroização” como agentes da história. Ambas as abordagens vinculam as massas ao conceito de “sujeito”, seja positivamente, como sujeito coletivo heroico de status superior, seja negativamente, como um ambiente que supostamente reduziria a inteligência de seus sujeitos individuais.
Em contraste a isso, a perspectiva do estádio tenta jogar luz sobre uma complexidade até então pouco discutida, a dupla complexidade do fenômeno da torcida. A saber, por um lado, a ambivalência entre a conhecida tendência à violência dessas multidões e a possibilidade de acessarmos, enquanto parte das multidões, uma intensidade que de outro modo seria inacessível, um êxtase. Para reformular, podemos, portanto, dizer que as multidões talvez não necessitem do estádio para “chegar a seu fundamento”, mas que é por meio do contexto de estádio que elas se tornam acima de tudo um objeto intelectualmente gratificante.
Entretanto, não quero estender essa análise teórica das torcidas a uma terceira etapa (inclusive porque tais processos de desdobramento conceitual nunca chegam a um fim). Ao contrário, nos dois capítulos conclusivos, meu objetivo é descrever mais uma vez a experiência da torcida no estádio a partir de duas perspectivas concretas. Ambas mostrarão as torcidas como um fenômeno de presença – ou seja, como expliquei em minha definição de presença, à distância de, justamente, uma interpretação de suas funções ou ações como tentativas de mudar o mundo.
Do ponto de vista da presença, funções e ações efetuadas no tempo são substituídas por rituais, ou seja, por formas de autodesdobramento dos fenômenos no espaço (e estou me referindo a rituais no sentido amplo da linguagem contemporânea atual, não a rituais religiosos em específico). Tais rituais são coreografias dentro das quais podemos nos mover sempre novamente sem jamais mudar o mundo por meio delas. Tendo como pano de fundo nossos dois capítulos teóricos, visualizar os eventos em estádio como rituais deve abrir a possibilidade de vivenciá-los e avaliá-los em termos de sua alienação produtiva.
A coreografia particular do ritual do estádio geralmente começa a alguma distância do local. Em casa, no trabalho, na estação de metrô, em dia de jogo nos sentimos atraídos para o estádio – atração que é também física. Nos sábados de outono em que o time de futebol americano de Stanford joga em casa, eu nunca consigo de fato trabalhar na biblioteca até a hora planejada. Torno-me incapaz de me concentrar em outra coisa e a caminhada desde o escritório da biblioteca, passando pelo Encina Hall até o estádio, leva muito menos tempo do que os quinze minutos habituais (minha esposa diz que não quer mais “correr” comigo, de modo que hoje em dia nos encontramos direto no estádio nos assentos de sempre, fileira 11, na altura da linha das quarenta jardas).
Em Dortmund há um corredor amarelo brilhante que leva da estação de trem, na cinzenta zona norte, ao estádio, na verde zona sul da cidade – um corredor, para alguns uma pista de corrida, mas para ninguém um calçadão para socialização. Quem será que teve a ideia de que os torcedores, neste caminho da estação até o estádio, teriam tempo ou disposição para parar no belo Museu do Futebol Alemão? Os estádios, em dias de jogo, são inigualáveis e poderosos ímãs, centro de existência para os torcedores, sem alternativa ou distração.
O pulso pulsa mais forte à medida que chego perto do estádio, seja vendo o vermelho em Stanford ou o amarelo em Dortmund tomando tudo ao meu redor. Em Istambul, antes dos clássicos entre Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş, os policiais já começam a direcionar os respectivos torcedores a quilômetros de distância dos estádios, de modo a separar suas rotas e evitar explosões de violência. Quando o Borussia não está jogando seu clássico contra o Schalke 04, ainda bebo minha única cerveja (amarela!) do ano em Dortmund a caminho do jogo, apressadamente, porque tenho que chegar cedo ao estádio ainda quase vazio, que logo vai se enchendo, cada vez mais rápido, ou, na verdade, ao mesmo tempo muito rápida e muito lentamente para mim – e no processo se torna um espaço outro, um outro mundo real onde me perco da vida cotidiana em uma intensidade concentrada.
Tal distância da vida cotidiana vai se estabelecendo gradualmente: as equipes vêm para se aquecer, desaparecem nos vestiários, retornam ao campo como em um desfile conjunto. Oito minutos antes do pontapé inicial, os alto-falantes em Dortmund tocam You’ll Never Walk Alone, o hino do estádio importado há muitos anos do Liverpool. A Tribuna Sul canta junto e depois tende em direção ao jogo, aproximando-se dele o tanto quanto possível, sem dele se tornar parte.
Mesmo nos estádios cobertos, onde a impressão das formas arquitetônicas pode ser sentida ainda mais intensamente, o gelo do hóquei ou a quadra de basquete permanecem separados, seja por meio das paredes de vidro ou por simplesmente nada – e, ainda assim, fechados de forma impenetrável aos torcedores. No beisebol, às vezes alguns destes podem até sentar-se à altura do gramado, quase dentro do jogo, mas ainda separados. Qualquer que seja nosso lugar, não queremos nada mais que ver movimentos, formas de corpos transfigurados que se elevam contra a resistência de outros corpos e contra todas as probabilidades, apenas para então desaparecer novamente. Formas como acontecimentos, formas que experimentamos sem, contudo, encarná-las nós mesmos.
No começo do jogo, o estádio está carregado com duas tensões: há nosso time e o outro time, nós e a outra torcida (nós e nosso time, a outra torcida e seu time). Conforme o jogo se desenrola, nós e os outros torcedores nos tornamos corpos místicos, ambos dependentes de seus respectivos times, mas não idênticos a eles, enquanto os árbitros, para ambos os lados, sempre parecem pertencer ao outro corpo místico uma vez que eles não são, afinal, nada mais que um obstáculo potencial para o surgimento de jogadas de nosso próprio time.
A substância elementar do estádio se divide em duas zonas e suas energias subsequentes, não há uma terceira. Duas substâncias e duas energias que se formam e se carregam uma contra a outra, sem sobreposição. Em particular os grandes clássicos trazem esta separação absoluta a uma espécie de êxtase que só pode surgir no estádio, porque o estádio torna visível, condensa e comprime as tensões da cidade e todas as suas histórias.
Adriano Celentano, um torcedor roxo (tifoso) da Internazionale de Milão e, portanto, rival do AC Milan, o outro time de sua cidade (e o adversário de quartas-de-final do Borussia Dortmund naquele fevereiro de 1958), cantou a tensão do clássico de 1965 em um dos maiores hits de futebol de todos os tempos, “Eravamo in Centomila” [Éramos cem mil]. Mesmo o título aparentemente simples é interessante, porque a preposição in faz com que o enunciador e a ouvinte da letra (ele e ela, respectivamente) se tornem corpos em uma multidão de cem mil torcedores.
Tudo isso no estádio de Milão, que naquela época ainda era chamado de San Siro, o nome do bairro (o San Siro renovado leva o nome de Giuseppe Meazza, o carismático atacante da seleção italiana campeã do mundo em 1934 e 1938). “Ela do Milan”, ele “da Inter”, ele a viu no clássico no meio dos cem mil torcedores, “de uma ponta a outra [do estádio]” (em italiano, as palavras também podem significar “de um gol a o outro”): “Eu sorri a você/e você disse sim”. Resta-lhe esperar vê-la novamente após o final do jogo – mas ela “vai embora fugida com outro no bonde”. Na vida cotidiana após o jogo, portanto, não há sobreposição entre os corpos místicos formados durante o clássico e aqueles que os compõem.
“Se não me engano, você viu o Inter-Milan comigo”, ele diz no início da canção. “Comigo”, mas depois dos primeiros rápidos momentos de conversa (“Desculpe-me!”, “O que é isso?”, “Onde você vai?”, “Por quê?”) não há mais resposta dela, a bella mora, a bela morena, a torcedora do Milan a quem ele tão saudosamente se dirige. Teria sido “um jogo entre nós dois”, ele canta: “Você fez um gol (un gol)/bem na porta [no gol] (la porta) do meu coração/e eu entendi que só existe você para mim”. Sem resposta. “Io dell’In (Inter!)/ Lei del Mi (Milan!)”, assim termina o canto de um trágico amor de que não pode ser consumado: “Io dell’In/ Lei del Mi – o bella mora”.
Os meados dos anos 1960, com três campeonatos italianos e dois europeus, foram os anos da “Grande Inter”, a squadra nerazzurra de Sandro Mazzola, por quem fui tão influenciado a ponto de deixar meu bigode crescer durante alguns meses em que trabalhei perto de Milão em 1972, ano de uma de suas últimas temporadas. Também seu rival Gianni Rivera ainda jogava para o rossonero Milan com uma elegância casual que deve ter inspirado os sonhos de todas as sogras milanesas.
Mas foi o técnico da Inter, Helenio Herrera, nascido na Argentina e crescido no futebol francês, que inventou, ao redor de Sandro Mazzola, com defensores como Tarcisio Burgnich e Giacinto Facchetti, com os laterais Mario Corso (esquerda) e o brasileiro Jair (direita), a elegância hiper-racional do catenaccio, que permanece até hoje muito praticado, uma estratégia que se fundamentava na aposta em uma defesa perfeita e brilhantes contra-ataques, empilhando vitórias por 1 a 0. “C’è sole!”, gritou um tifoso do Inter na chuva torrencial, abraçando-me, quando, após uma saída de bola de Facchetti para Mazzola à esquerda e, de lá, uma virada de jogo à direita para Jair, Mario Corso empurrou a bola para o fundo das redes com a perna esquerda, o único gol da vitória contra a AS Roma.
Incorporar um estilo de jogar intelectualizado em campo continuou sendo o legado da rivalidade Inter-Milan para o futebol, assim como nenhum outro clássico produziu um hit com tal timbre de lúgubre realidade. Pois a divisão intransponível do “Eravamo in Centomila” é a condição de intensidade dos dois blocos, os dois corpos místicos, as duas torcidas no estádio. Não há alternativa amigável. Terá alguém já experimentado um momento de grande emoção em uma ola (aquela onda que roda pelos espectadores no estádio em um movimento coletivo circular) em que ela teria transformado os dois blocos do estádio em uma grande unicidade de afetos?
A tão aclamada ola nada mais é do que um sintoma de tédio – propícia para o intervalo, para jogos que já foram decididos ou para os que não têm mais nenhum sentido dramático. A ola não faz parte da coreografia de estádio, enquanto que aqueles outros momentos de êxtase, raros, espontâneos e explosivos que de fato arrebatam todos os torcedores (como no final da grande partida de rugby em Sydney) não podem ter qualquer coreografia, qualquer forma fixa, em seu caráter explosivo.
Mas, se é verdade que não pode haver uma experiência real de estádio sem essa invariável estrutura de divisão, antagonismo e potencial agressividade (e é por isso que ninguém se importa com jogos amistosos), cada modalidade esportiva deve ter diferentes regimes de atenção transitiva e transfigurativa sobre os jogadores e as jogadas. Em nenhum lugar, as rivalidades são mais obstinadas e mais profundamente carregadas de história do que no beisebol. Como sou torcedor do San Francisco Giants, tive que aprender a esquecer ativamente que alguns de meus colegas e até mesmo amigos torcem pelos Los Angeles Dodgers.
O beisebol depende menos do surgimento de uma forma a partir do movimento dos corpos de vários jogadores do que do confronto de dois jogadores individuais, a saber, o pitcher em seu pequeno morro (mount), que joga a dura bola branca para o apanhador ajoelhado, e, por outro lado, o rebatedor (at bat) entre pitcher e apanhador, que tenta rebater com seu taco as bolas lançadas para fora do alcance do outro time. Esse confronto tem, para seus torcedores, a tensão psicológica de dois jogadores de xadrez e a energia física potencialmente devastadora de dois pugilistas. Tudo para ambas as equipes e para a atenção dos torcedores depende de tais confrontos, e qualquer outra intervenção só pode ocorrer como sua decorrência.
No basquete, dadas as pontuações particularmente altas, raramente os jogos se resumem a uma última cesta decisiva para a vitória ou derrota, e os torcedores – especialmente nas ligas profissionais, o basquetebol universitário tem uma dinâmica diferente – tendem a se atrair mais pela fluidez dos movimentos das equipes e o valor artístico agregado dos lances individuais que por uma tensão ou rivalidade em particular. Uma grande enterrada vale só dois pontos, mas produz uma sensação irresistível de destreza, assim como os arremessos de insanas distâncias de Steph Curry que caem de chuá criam uma presença de perfeição.
Eu consigo sentir a aceleração de um enorme central no hóquei e sua dor ao mesmo tempo repentina e esperada no impacto com outro corpo, bem como a conexão sem peso com o disco sendo conduzido na lâmina do taco. O tempo entre jogadas (downs) no futebol americano, experimentado pelos fãs de futebol como insuportavelmente longo, é sempre muito curto para os complexos jogos mentais – e, neste caso, também para as compactas conversas dos especialistas que querem antecipar as estratégias de ambas as equipes para a próxima jogada –, até que uma jogada ofensiva se transfigure e se realize em movimentos reais de modo a superar (ou falhar contra) os corpos da defesa.
E, apesar de todas as obsessivas discussões no futebol dos últimos anos sobre tática e condições estatísticas para o sucesso, ele tem se mantido como um esporte coletivo de improvisação. Como acontece também no hóquei sobre o gelo e ao contrário dos jogos que seguram a bola com a mão, a posse de bola no futebol é sempre precária e disputada, tornando o desenvolvimento do jogo apenas vagamente previsível. Mais do que de estratégias sofisticadas ou confrontos dramáticos, o futebol, portanto, vive de intuições, de breves esperanças, decepções e reações às quais as equipes devem se ajustar como enxames, sem esquecer de seus antagonismos mútuos.
Cada esporte coletivo tem sua própria tonalidade e ritmo, que eu, como torcedor, experimento e me adapto quase fisicamente, e que produzem diferentes formas de coerência entre os corpos coletivos de espectadores. Será que os torcedores de beisebol se sentem nas mãos do destino? Será que os torcedores de basquete evocam êxtases de perfeição? Existe um espírito de pensamento militar no futebol americano ou um existencialismo no futebol? Não vou aqui prosseguir com tais perguntas e comparações porque elas podem se tornar banais em sua engenhosa arbitrariedade.
Certamente, parte do ritual dos estádios se dá como reação às diferentes plasticidades de formas e atmosferas de diferentes esportes, que encontram ressonâncias particulares em diferentes corpos de espectadores sem ter de corresponder a eles (por exemplo, os jogos mais agressivos fisicamente não têm de ter os torcedores mais agressivos). Todos eles, beisebol em Osaka, basquete em São Francisco, futebol americano universitário no Alabama, hóquei no gelo em Montreal ou futebol em Dortmund enchem seus estádios com multidões totalmente distintas em sua substância, diferentes substâncias que podem nos ser familiares por conta de nossa vivência sem que tenhamos conceitos definidos para elas.
São sobretudo os desenvolvimentos dramáticos de cada jogo individual que desencadeiam aqueles movimentos de intensidade pelos quais nós torcedores nos deixamos levar, movimentos que vão da abertura à irreversibilidade, movimentos carregados com aquela energia física represada e composta de imagens transfiguradas da nossa percepção. Para um torcedor, nada que acontece no estádio é trivial ou relaxante, todos os seus acontecimentos são de uma seriedade extasiante. E é por isso que, ao final do jogo, a euforia do corpo místico vencedor não poderia ser maior, e o desânimo do perdedor, mais profundo. Mera satisfação com a vitória ou aborrecimento com a derrota seria muito pouco.
Este também é sempre o momento em que – especialmente em Dortmund – a equipe da casa vem até as arquibancadas (mesmo depois de jogos e derrotas decepcionantes) para agradecer à torcida. Ao contrário do que ocorre durante o jogo, agora os corpos dos jogadores estão sincronizados com o corpo místico dos torcedores e disparam nele uma série de movimentos síncronos.
Os jogadores, nesse momento, não se encontram mais separados dos torcedores; este agradecimento pode ser entendido como uma saída mútua da transfiguração, um retorno ao mundo da vida cotidiana de que os membros da multidão queriam (e conseguiram) se afastar por algumas horas, um retorno a uma bastante superficial e não mais extasiante seriedade.
Os rituais de torcida em estádio pressupõem que o foco da atenção é um jogo de equipe, porque hoje associamos muito naturalmente o esporte do espectador – tanto cultural quanto economicamente – ao fascínio pelas equipes. Historicamente, porém, como já mencionado, a ascensão dos esportes de equipe à sua popularidade atual só ocorreu de meados do século XIX a meados do século XX.
A Grécia antiga não conheceu nenhum jogo de equipe – e a cooperação entre os cocheiros das respectivas factiones era mais parecida com os esportes de corrida de automóveis do que com o futebol, o basquete ou o hóquei. Ao mesmo tempo, sabemos que os poucos eventos de atletismo que ocorrem ainda hoje em grande escala e diante de arquibancadas cheias não produzem na multidão aquela intensidade que venho descrevendo.
Os espectadores do atletismo tendem a ser especialistas ou ex-atletas, em vez de torcedores. Quase não há explicações para a emergência historicamente tardia dos esportes coletivos enquanto forma esportiva dominante. Será que devemos assumir que o desenvolvimento progressivo da individualidade como norma existencial da vida nas sociedades ocidentais tem dado à coletividade uma contra-aura cada vez mais atraente? Será que quem vive dia após dia sozinho diante de uma tela anseia por experiências coletivas e suas tensões? Em sua premissa básica, esta especulação converge com nossa explicação para os estádios cheios – o que se torna atraente na periferia da vida cotidiana é justamente o que desaparece de seu centro.
Em todo caso, é plausível relacionar a possibilidade de multidões de espectadores como as que conhecemos ao surgimento de jogos de equipe por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque os jogos de equipe, ao contrário da maioria dos esportes individuais, ocorrem como competições entre apenas dois lados. Ou seja, há sempre apenas um outro time e seus torcedores contra os quais nos opomos na condição de uma outra massa.
Nos esportes individuais, a situação parece mais difusa: corredores, nadadores ou ginastas têm vários oponentes. Em segundo lugar, entretanto, nossa concentração partilhada entre jogadores de nossa própria equipe e a transfiguração de seus movimentos provavelmente também contribuem mais para a formação de grupos de torcedores que podem vir a se tornar multidões do que a concentração em atletas individuais. Acima de tudo porque, no interior de um grupo, a percepção geralmente desencadeia o impulso de se associar a ele, de se juntar a ele – e, assim, de ampliá-lo por meio de nossa própria inclusão.
Após o final do jogo e o agradecimento da equipe (ou seja, a liberação da transfiguração), estamos exaustos. Para o torcedor, a intensidade multidimensional é o equivalente à participação física dos atletas no jogo. Praticamente não sentimos mais resistência ou mesmo melancolia ao deixar o estádio. Sabemos a data do próximo jogo, assim como nos rituais. Caminhamos lentamente, cansados, fora do estádio talvez queiramos meio cigarro em vez de mais uma cerveja, e também nos bares baixa-se a atmosfera de excitação.
A noite que se segue ao jogo não é para uma comida sofisticada ou conversas brilhantes. Talvez não queiramos nem mesmo falar sobre o jogo. As baterias estão vazias, agradavelmente vazias – vem o vazio, e não o relaxamento. Afinal de contas, os torcedores gastam toda a capacidade de concentração, proximidade e energia que eles têm.
O que teríamos a perder em mundo em que não houvesse mais estádios cheios? Essa é uma questão para nós, os torcedores, não para a sociedade em geral. Perderíamos um sentimento físico de euforia sem conteúdo que nos atrai ao estádio e que de outra forma não teríamos. Em troca, por assim dizer, perderíamos o risco de violência com todas as suas consequências. De todo modo, não há nenhum valor educativo e certamente nenhuma melhoria moral que se possa esperar de se fazer parte de uma torcida.
Mas sem elas, sem sua presença lateral e o poder transfigurador de seu olhar, talvez a forma e a estética dos jogos aos quais somos apegados também mudassem. Não porque as massas apoiam suas equipes, como os atletas gostam tão gentilmente de afirmar – mas porque as equipes e suas estrelas jogam para as torcidas ainda mais do que para seus treinadores e para suas contas bancárias, mais do que talvez eles mesmos imaginem.
Hans Ulrich Gumbrecht é professor de literatura na Universidade de Stanford (EUA). Autor, entre outros livros, de Perfis (Unesp).
Referência
Hans Ulrich Gumbrecht. Torcidas: O estádio como ritual de intensidade. Tradução: Nicolau Spadoni. São Paulo, Editora Unesp, 2023, 126 págs. [https://amzn.to/3N8To0B]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA