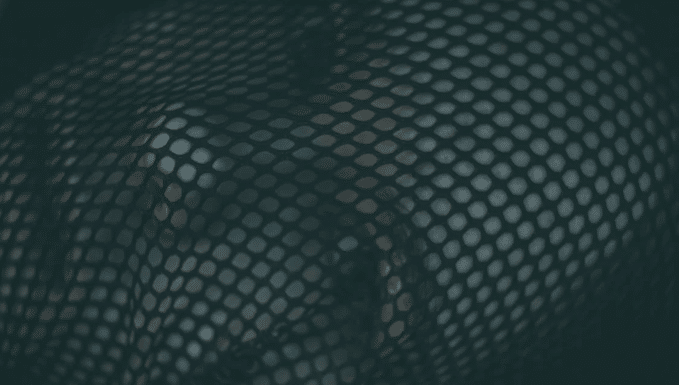Por JOTABÊ MEDEIROS*
Comentário sobre o filme, em exibição nos cinemas, de James Mangold.
Displicente com as próprias emoções, obcecado com a provocação estética, cegamente leal à intuição, viciado em trabalho, levemente mitômano. O Bob Dylan que emerge de Um Completo Desconhecido, ao contrário do verso de Like a Rolling Stone que dá nome ao filme de James Mangold, não é exatamente um esquisitão desconhecido.
Dezenas de biografias e livros, além do culto universal ao cantor, já cuidaram de examinar todas essas facetas de sua personalidade. Mas é na aplicação, digamos, prática dessas qualidades que se desenrola a história do filme, que se ocupa menos em biografar o artista do que em emoldurar a importância de uma canção (e de uma apresentação) para a história da música popular mundial.
Em 25 de julho de 1965, Bob Dylan se apresentou no Newport Folk Festival, em Rhode Island, com uma banda de peso inversamente proporcional ao do gênero que o festival distinguia, o folk. Ele flertava com o barulho e a distorção, tendo ao seu lado Barry Goldberg ao piano e três integrantes da ruidosa Paul Butterfield Blues Band: Mike Bloomfield, guitarrista, Jerome Arnold, baixista, Sam Lay, baterista, e o “penetra” Al Kooper tocando órgão em Like a Rolling Stone (Kooper escalou-se a si mesmo para tocar o instrumento no estúdio).
Antes da apresentação, uma junta de organizadores do festival tentava desesperadamente convencer Bob Dylan a mostrar o repertório antes do show, para terem certeza de que ele privilegiaria seu repertório acústico. Mas Bob Dylan já estava eletrificado e disposto ao enfrentamento, e tinha orientado a equipe técnica para obter uma amplificação nunca antes experimentada naquela cena.
A apresentação no festival de Newport foi um marco por opor tradição e modernidade, artesanato e tecnologia, conservadorismo e provocação em doses cavalares. O espectador só chegará a essa batalha campal ao final do filme, porque é um processo – muitas coisas vão afunilando e empurrando o jovem artista nessa direção.
Antes disso, James Mangold cuidou de mostrar cuidadosamente como se desenvolveu o gênio de Bob Dylan num período muito curto de tempo, entre sua chegada ao Greenwich Village, em Nova York, em 1961, ainda um garoto caipira e idólatra, e a explosão com Like a Rolling Stone, em 1965, já um enfant terrible de Stratocaster e motocicleta Triumph.
Nesse intermezzo, o espectador vai se deliciando com a velocidade com que Bob Dylan transforma a realidade em sua volta em épica poesia. Não é menos do que arrebatador vê-lo cantando Masters of war num porão no momento em que as ruas de toda a Costa Leste dos Estados Unidos estão em pânico pela iminência de uma guerra nuclear. Ou o momento em que ele maravilha o público sacando A hard rain’s a-gonna fall, também sobre o pesadelo da guerra.
Bob Dylan como que constrói paisagens bíblicas em torno de temas candentes do cotidiano, dando ao ordinário uma aspiração de clássico. Essa habilidade não aparece como fruto de uma erudição (não há livros de simbolistas franceses nas estantes), mas de uma dose combinada de talento e renitente sarcasmo. Ele mente para a namorada, Sylvie (Elle Fanning), sobre sua experiência anterior – gostaria de ser um outsider, mas não era exatamente um “beatnik” como o povo do Village.
Sylvie é o personagem que retrata um relacionamento efetivo de Dylan, Suze Rotolo (a garota que está com o artista na capa do disco The Freewheelin’ Bob Dylan, de 1963), único que teve o nome trocado entre as pessoas reais a pedido do próprio Dylan. Só quem encara e desmascara Bob Dylan continuamente é seu antípoda, a liberada Joan Baez (Monica Barbarro), a primeira capaz de reconhecer tanto o brilho quanto as ambiguidades morais de um artista em formação.
Claro, agora é hora de falar sobre quem ficou encarregado de carregar essa história de Dylan nas costas – ou nas perucas desgrenhadas. Timothée Chalamet como Bob Dylan não foi uma escolha aleatória: além de ser capaz de, sozinho, carrear para as salas de cinema de pré-adolescentes a hipsters de barba e um só braço tatuado, de colegiais de saia plissada a fãs LGBTQIA+, ele é o cara. Aplicadíssimo, não apenas aprendeu a mimetizar olhares, gestos e esgares do bardo de Minnesota, mas também conseguiu entrar no espírito de 38 canções do cantor, algo que muitos cover artists não conseguem jamais fazer.
Duas interpretações paralelas impulsionam a força dramatúrgica da produção: Edward Norton está simplesmente fabuloso como Pete Seeger, e Scoot McNairy arregaça como Woody Guthrie – este último não teve à disposição nenhuma fala, apenas murmúrios e um toque de mão, e ainda assim marcou indelevelmente o filme.
Para o fã extremado de Dylan, há que se reconhecer a eficiência do filme em presentear com cenas tão enraizadas na nossa abdução. Como no enfrentamento com o público de Newport, em que um espectador berra a Dylan: “Judas!”. Ao que Bob Dylan responde: “Eu não acredito em você”. A resposta de Bob Dylan é profunda: ele demonstra saber que a rejeição que sofre ali é momentânea, o detrator só tem a convicção de circunstância – no futuro, será um dos fanáticos do som elétrico, assim como hoje é do folk. Naquele momento histórico, recusar-se a cantar o próprio hit, Blowin’ in the wind, era uma façanha hercúlea.
Algumas cenas parecem inventadas, mas aquilo aconteceu de fato, como o quebra-pau entre o lendário folclorista Alan Lomax (Norbert Leo Butz) e o empresário de Bob Dylan, Albert Grossman (Dan Foger) nos bastidores de Newport, e a tentativa de Pete Seeger de cortar com um machado os cabos de energia da apresentação de Bob Dylan – a diferença, pelo que sei, é que Seeger estava indignado com a guitarra cobrindo a voz do cantor, mas isso não era exatamente um problema.
Um Completo Desconhecido poderá enfastiar quem não está familiarizado com a saga artística de Bob Dylan. É um filme sobre música, sobre processos criativos, sobre embates geracionais, a superação de uma geração pela seguinte – embora também seja, aparentemente, a história de um trivial triângulo amoroso.
Há um lance curioso: o epicentro da história, a luta entre a tradição e o avanço tecnológico, parece que se repete também na própria produção, que usa Inteligência Artificial em algumas cenas – diz-se que não é usada nas performances musicais, mas quando Dylan/Chalamet toca a guitarra em Newport, é possível ver que os dedos fazem movimentos pouco naturais.
É um debate que levou Hollywood a exigir que os filmes que usam Inteligência Artificial em suas produções declarem o quanto usaram, para que sejam habilitados ao Oscar. Um Completo Desconhecido foi nomeado a oito prêmios Oscar, e isso certamente nos remete àquele momento em que as plateias descobriram que Britney Spears nunca cantava de fato nos shows, que era tudo tecnológico. A questão agora é que a máquina já está dispensando a própria Britney, e não apenas sua voz.
*Jotabê Medeiros é jornalista, crítico musical e escritor. Autor, entre outros livros, de A culpa é do Lou Reed (Ed. Reformatório).
Referência
Um completo desconhecido (A Complete Unknown).
EUA, 2024, 141 minutos.
Direção: James Mangold.
Roteiro: James Mangold e Jay Cocks.
Elenco: Timothee Chalamet, Monica Barbaro, Ellen Fanning, Edward Norton, Norbert Leo Butz.
Publicado originalmente no site Farofafá [veja aqui]