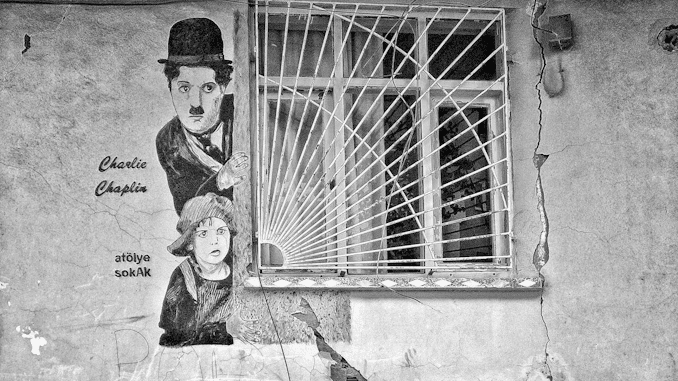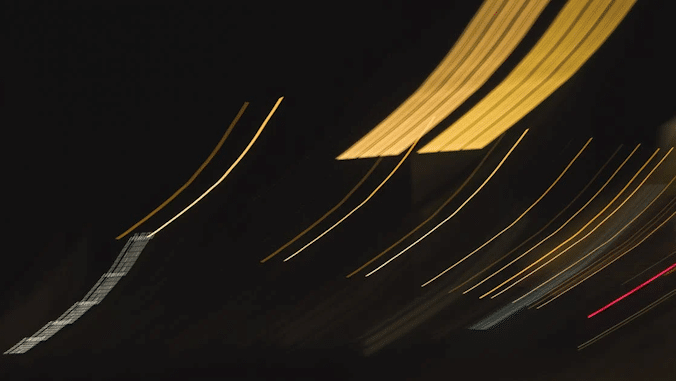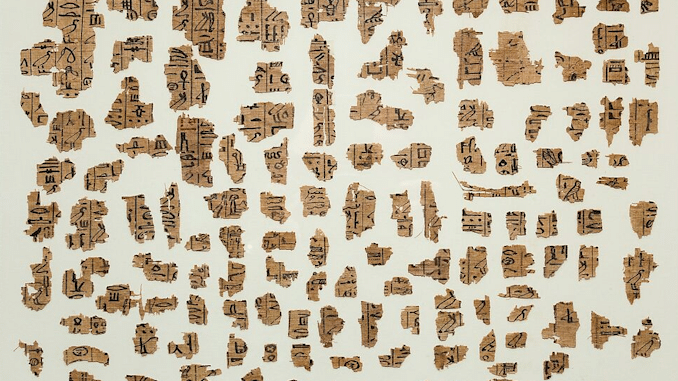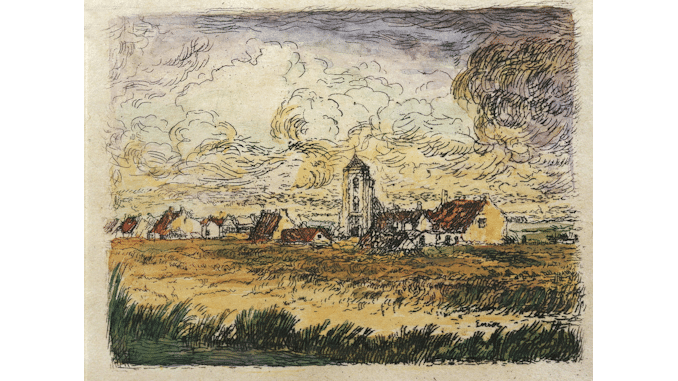Por PEDRO EMMANUEL & CAMIE INTREBARTOLI*
Se o sadomasoquismo de Cullwick desnudava a violência de classe sob o véu do fetiche, o de Carpenter a embala no brilho da mercadoria. Entre a escrava vitoriana e a popstar neoliberal, a dialética do prazer e do poder revela: sem luta de classes, até a transgressão vira espetáculo
No chão, de quatro, em um vestido curto, com seus cabelos loiros puxados por um anônimo homem de terno, e encarando a câmera com um olhar sensual, a estrela do pop e sexsymbol Sabrina Carpenter provocou, como é de costume nas notícias da indústria musical, intensas polêmicas nas redes sociais ao revelar, em junho deste ano, a capa do seu anunciado novo álbum, previsto para o final de agosto de 2025, e irreverentemente intitulado Man’s Best Friend. Entre leituras de críticos, jornalistas, ativistas e internautas que interpretavam a cena como a reprodução idealizada de imagens de violência patriarcal e outras que nela enxergavam o potencial de afirmação empoderada e amoral da sexualidade feminina, a artista e empresária alcançou a repercussão que desejava. Sem recuar diante das críticas ou justificar as escolhas por trás da concepção do álbum, a cantora decidiu lançar uma capa alternativa, novamente capitalizando sobre discussões que propagandeavam sua produção antes mesmo da divulgação de qualquer uma das faixas musicais que irão compô-lo, ao sarcasticamente defini-la como “Approved by God” (“Aprovada por Deus”). Com uma tradução imagética menos literal, Carpenter não aparece mais reduzida à posição de um cachorro: de pé, bailando com um homem também anônimo, retratado apenas de perfil, em uma fotografia preto e branco ao melhor estilo Marlyn Monroe, agora ela parecia ter um olhar vazio e distante, muito diferente daquele com o qual provocava o público na versão anterior, em uma fotografia em cores. A união das duas capas talvez possa sugerir que, enquanto dançava romanticamente agarrada ao seu parceiro, indistinto das demais figuras que apareciam nas sombras daquela realidade em preto em branco, a dama recata desejava as cores quentes de uma fantasia de submissão sexual.
Puritanos machistas e ativistas feministas agora têm a chance de se reconciliar, cada qual com sua capa preferida (o que, curiosamente, pode variar), ou então unir forças para desvendar esse enigma comprando duas vezes o mesmo álbum e dobrando as vendas da produtora Island Records, todos correndo como cães ao chamado irrecusável da cantora, quando divulgou o lançamento em seu Instagram: Eu mal posso esperar para ser sua. As implicações políticas, sociais e psicanalíticas trazidas por essas polêmicas (em breve perdidas no mar do esquecimento da Internet), no entanto, permanecem. Afinal, a despeito das intenções, talvez inescrutáveis, de Sabrina Carpenter e da equipe de empresários, artistas e designers envolvidos na produção do álbum, as relações e reapropriações entre os fetiches sadomasoquistas, a sexualidade feminina, as assimetrias de gênero na sociedade patriarcal e o poder ideológico da indústria cultural são múltiplas, complexas e imprevisíveis, sobretudo na esfera da recepção. Mais que isso, são historicamente condicionadas. Ao prostrar-se no chão como uma cadela, ansiando pela atenção do seu dono, Carpenter, um ícone para muitas jovens garotas e mulheres do mundo todo, estaria reforçando ou quebrando expectativas de gênero e sexualidade no capitalismo contemporâneo? Poderia, em alguma medida, estar fazendo ambas as coisas, conscientemente ou não? Como podemos interpretar o lugar do fetiche na produção e reprodução de imagens de poder e/ou de emancipação?
Para tentar responder a essas questões, propomos um recuo de 170 anos até a sociedade vitoriana oitocentista, perscrutando a vida privada do casal Arthur Munby (1828 – 1910) e Hannah Cullwick (1833 – 1909), que em suas dinâmicas sadomasoquistas, jogaram com as noções de classe, raça, gênero e sexualidade constituídas pelo capitalismo industrial moderno e exportadas através da ação colonial do imperialismo britânico, ora as questionando, ora as reafirmando. Ao analisar comparativamente os mais de dezessete diários deixados pelo casal, nos quais registravam cotidianamente suas experiências e impressões acerca dos rituais fetichistas que executavam, bem como as diversas fotografias eróticas tiradas por Munby, retratando Cullwick como personagens das mais distintas posições sociais, que iam desde uma empregada doméstica até uma dama da alta corte, a historiadora zimbabuense Anne McClintock, no livro Couro Imperial (2010)[i], serviu-se do marxismo, da psicanálise, dos estudos pós-coloniais e da teoria queer para tecer uma interpretação original sobre o lugar dialético da subcultura sadomasoquista nas esferas mais íntimas de constituição e circulação do imaginário burguês europeu.
De origem camponesa e trabalhando como empregada nos mais diversos cantos da cidade para limpar a abjeta sujeira que a ascendente burguesia industrial e a decadente aristocracia vitoriana tentavam esconder, Hannak Cullwick chamou a atenção do advogado da alta classe média Arthur Munby, que ao cruzar com ela em uma das suas expedições urbanas pelas movimentadas ruas de Londres, registrou seu fascínio pela combinação entre a beleza rústica de seu porte grande e mãos calejadas com a delicada nobreza de sua postura e semblante. Os dois se aproximaram e logo desenvolveram uma intensa relação romântica e fetichista, na qual Cullwick, a pedido de Munby, se travestia como empregada doméstica, trabalhadora rural ou mesmo escravo (sim, no masculino), submetia-se a sessões de fotos (algumas quase pornográficas) em figurinos que reconstituíam cenas cotidianas de trabalho e utilizava adereços que reforçavam simbolicamente sua servilidade, como algemas e correntes. Na interpretação de Anne McClintock, a dimensão teatral dessas dinâmicas sadomasoquistas, nas quais os atores, em figurinos exagerados, desempenhavam consensualmente papéis dentro de um roteiro predeterminado que reproduzia cenários cotidianos de trabalho e opressão, configurava uma transgressão, mesmo que inconsciente, das iconografias vitorianas de domesticidade e raça, apropriando-se das categorias sociais, raciais e de gênero criadas pelas demandas da sociedade burguesa, performando de modo dramático suas hierarquias e expondo, na vida privada, a artificialidade de noções que se queriam naturais e universais no mundo público. A própria “parafernália” sadomasoquista seria a aplicação dos instrumentos repressores do Estado moderno – algemas, correntes, cordas e chicotes – dentro de um ambiente controlado que subvertia o objetivo primário dessas técnicas e tecnologias (a dor) em ferramentas de prazer, onde não se havia mais “nada a usar, a não ser os seus grilhões”[ii].
A respeito das relações patriarcais de poder nesse casal vitoriano tão peculiar, a historiadora é hábil ao ver em Hannah Cullwick nem um objeto passivo aos fetiches abusivos de Munby, nem um ícone feminista que conscientemente afirmava a todo momento o poder sobre seu próprio corpo e sexualidade. Havia sim uma clara e inegável hierarquia de classe e gênero entre os dois, que não deixava de se fazer presente a todo momento, dentro e fora das performances fetichistas. No entanto, dentro de circunstâncias extremamente limitadas, Cullwick soube resistir às tentativas de Munby em cerceá-la para além dos jogos sexuais: por mais de uma vez, recusou-se a casar com ele, relutando em sujeitar-se aos padrões rígidos e tediosos de uma esposa de classe média, e permaneceu sem filhos por escolha própria durante sua vida toda. Quando se casou, foi em segredo, e ainda assim demandou de Munby um salário de governanta, que continuou a ser pago mesmo durante os nove anos em que eles permaneceram separados, após terminarem temporariamente em outubro de 1877. Assim, Cullwick, explorando a fetichização que Munby fazia das tarefas domésticas, conseguia imprimir valor – inclusive um valor econômico – ao trabalho reprodutivo feminino comumente invisibilizado pelo capitalismo patriarcal.
A valorização da sujeira, por exemplo, objeto de particular excitação para o advogado, colocava em xeque a racionalidade liberal segundo a qual a riqueza social seria fruto das leis do mercado, e não do trabalho humano: ao exibir sensualmente aquilo que, na prática, era a “contraparte da mercadoria”, “a evidência excedente do trabalho manual, o resíduo visível que teimosamente permanecia depois que o processo da racionalidade industrial tinha feito sua parte”[iii], Cullwick impunha uma crise nos valores burgueses, incorporando a sujeira – e, por conseguinte, o trabalho braçal– no domínio simbólico do fetichismo, que transpassava os limites sociais e morais da época. Além de demonstrar a fluidez das hierarquias e categorias binárias que circulavam pelo império britânico, a partir das dinâmicas de travestismo de gênero, raça e classe, Cullwick também subvertia as marcas de submissão e opressão que circulavam pelo império britânico, ao torná-las sinais secretos de sua autoafirmação: ela preferiu ser demitida por uma das famílias para quem trabalhava, do que atender à exigência de retirar a faixa de couro que havia enrolado em seu braço quando o machucara durante o trabalho, e que desde então passara a usar como “banda de escrava”, juntamente de uma corrente com cadeado no pescoço, símbolos da servidão ao seu “Massa”, título senhorial com o qual se referia a Munby, e que aprendera ao assistir à peça ‘A Morte de Sardanapalus’, de Lord Byron (1821), a respeito do romance entre um rei e uma de suas escravas.
Orgulhosamente afirmando-se como “escrava e serva” de Munby, Cullwick incorporava as imagens de poder das classes dominantes para reivindicar o valor do seu trabalho e a memória da sua família de trabalhadores, relembrando inconvenientemente à burguesia vitoriana de que o capitalismo industrial britânico, que só então passava a prescindir do trabalho escravo, constituiu-se sobre a expropriação e exploração de milhões de homens e mulheres escravizados. No limite, o próprio ato de escrita dos seus diários íntimos era uma estratégia para afirmar sua voz e seu desejo (porque sim, ela obteve muito prazer com esses jogos), revelando facetas da sua relação sadomasoquista que mesmo Munby tentava ocultar, a exemplo dos momentos em que ela assumia a posição dominante, tendo chegado até mesmo a ninar e banhar o respeitado advogado ao assumir um papel adulto e maternal diante do resgate das ternas memórias de uma criança que fora criada por mulheres trabalhadoras. Essa ambiguidade era explicitada sobretudo nos momentos em que a teatralidade performática confrontava a realidade: ao testemunhar Cullwick de fato trabalhando e recebendo ordens de uma das suas empregadoras da alta classe média, Munby sentiu-se frustrado e traído por vê-la fora de um ambiente no qual ela o dava a ilusão do controle e da dominação.
Essa ambiguidade do sadomasoquismo já havia sido notada por Freud em seu artigo Batem numa criança (1919)[iv], que embora ainda opere com as categorias de “anormalidade” e “perversão” próprias da modernidade burguesa industrial, bem como com os binarismos de gênero, demonstra através de um estudo clínico com seis pacientes que as “fantasias de surra” geradas ainda na primeira infância, muitas vezes como derivações do complexo de Édipo em um ambiente familiar de agressão parental (também um elemento histórico da instituição social da família burguesa), passavam por três fases nas quais não apenas mudavam os sujeitos e objetos da violência (que poderiam ir da figura do pai a de uma professora), como também seu gênero (com meninas que fantasiavam que eram meninos apanhando, por exemplo), a depender dos mecanismos de repressão e remodelação do inconsciente; e para o que nos é mais interessante, a própria fronteira entre desejos sádicos e masoquistas, supostamente atribuídos, respectivamente, a impulsos masculinos e femininos, se tornava turva com a identificação de uma base masoquista mesmo nas fantasias sádicas masculinas, uma vez que elas eram um meio da sublimação do desejo pela agressão paterna, quando a realização sexual edipiana já era percebida como impossível, enquanto nas meninas o masoquismo inicial desembocava frequentemente na fantasia de ser homem para exercer a posição sádica, mesmo que como espectadoras da cena de violência imaginada.
Feita essa regressão, fica a pergunta: poderíamos aplicar o método do sadomasoquismo histórico-dialético para reinterpretar a capa de Man’s Best Friend e a polêmica por ele gerada? Como toda dialética, a resposta é sim e não – sobretudo quando se trata da ambiguidade inerente às relações sadomasoquistas. Assim como Hannah Cullwick, Sabrina Carpenter também performa uma relação de submissão que é essencialmente teatral, cenográfica e, sobretudo, ambígua: a fotografia foi, muito provavelmente, montada com todo o suporte técnico de um estúdio de grande porte, com o trabalho de designers, estilistas, fotógrafos e, inclusive, o modelo anônimo que não é nem mesmo creditado. Fora daquele enquadramento artificial muito específico e delimitado, a cantora multimilionária que contratou todos esses profissionais é quem de fato detém o poder e que moldou aquela cena intencionalmente nos seus termos. No entanto, no instante daquele flash, ela deixou-se travestir como uma mulher submissa e até mesmo animalizada, evocando o desejo pela “liberdade de servir” – fetiche muito presente em obras que abordam a temática sadomasoquista, onde membros da high society experimentam jogos de submissão, a exemplo do thriller erótico Babygirl (dir. Halin Rejin, 2025), lançado no início deste ano, e que explora os limites do discurso liberal de empoderamento feminino, sobretudo nos ambientes corporativos, em conflito com os desejos íntimos que escapam às expectativas de gênero e às normas morais, também reproduzidas pelo campo progressista.
Nesse sentido, como apontou a jornalista e crítica cultural Adrian Horton, em seu artigo para o The Guardian (2025), a capa original do álbum desafia discursos rasos e dicotômicos sobre o que deve ser a sexualidade feminina, segundo os quais o “empoderamento” se resume a “estar no topo”, “fazer sexo como um homem”, “foder, não ser fodida”; ao dar vazão a fetiches amorais, Carpenter, mesmo de joelhos, afirmaria de cabeça erguida sua sexualidade e sua autenticidade artística[v]. As semelhanças com o caso de Cullwick, contudo, interrompem-se diante de duas diferenças essenciais, que dizem respeito, em primeiro lugar, à posição social de cada uma dessas personagens na estrutura de classes, e, em segundo, à escala dos impactos culturais e ideológicos de suas respectivas performances sadomasoquistas.
Hannah Cullwick era uma empregada, de origem camponesa, que fetichizava as próprias relações de trabalho “sujas” nas quais ela já estava inserida, como forma de afirmar um projeto autônomo de valorização do trabalho doméstico feminino e, por que não, do controle sobre seu próprio corpo e desejos. Se, para Marx, a ocultação do trabalho na produção social era o truque mágico por trás do “fetiche da mercadoria”, então a criação de um “fetiche do trabalho” (em suas encenações figuradas de empregada e escravo) era a resposta da classe trabalhadora a uma dupla rejeição das classes dominantes na sociedade burguesa: “a negação do valor do trabalho doméstico feminino na metrópole industrial e a desvalorização do trabalho colonizado na cultura que caía sob o violento domínio imperial”[vi]. Já Sabrina Carpenter é um dos mais influentes nomes da burguesia cultural estadunidense, com um patrimônio avaliado em 215 milhões de dólares, que decide performar uma cena de submissão, a qual, a despeito do seu travestismo bestial, ainda assim é dotada de muito glamour. A cantora, portanto, apropria-se de símbolos da violência doméstica e da submissão patriarcal, as quais muitas mulheres – em especial, as mulheres da classe trabalhadora -, são submetidas, para realizar um fetiche sexual que reproduz o fetiche da mercadoria e, portanto, o encobrimento do trabalho. Não à toa, poucos dos comentários realizados na polêmica sobre a capa do álbum, colocaram em questão o debate sobre seus aspectos teatrais e, principalmente, sobre a força de trabalho e os interesses econômicos por trás da sua produção. Era como se a capa do álbum – ao mesmo tempo, mercadoria e imagem espetacularizada, para usar a teoria de Guy Debord[vii] – tivesse valor em si mesma, descolando-se inclusive das músicas não ouvidas que ainda poderão completar o sentido narrativo do lançamento. Para muitos internautas, Carpenter estava de fato comparando-se a uma cadela, fosse por uma ótica conservadora ou subversiva, que dependia muito mais das lentes dos receptores do que das intenções originais da artista.
E isso se conecta ao segundo problema levantado por essa comparação histórica: enquanto os jogos fetichistas de Cullwick e Munby restringiam-se ao domínio da vida privada, sendo registrados em coleções particulares de diários e fotografias que somente viriam a ser acessados pelos historiadores um século mais tarde, a imagem de Sabrina Carpenter circulou por páginas da Internet e perfis de redes sociais do mundo todo no instante em que foi postada, ganhando uma dimensão pública imediata e estando sujeita a reproduções, reapropriações e recepções de infinitas ordens por indivíduos com distintas experiências e pelos mais diversos grupos sociais. Esse fato explica por que a fotografia pôde ser lida por tantos prismas diferentes e gerou polêmicas tão acaloradas nos dias que se seguiram. Dentro desse espectro de interpretações, homens machistas puderam satisfazer suas fantasias de dominação ou terem seu falso moralismo confrontado pela ousadia sensual da fotografia; esposas puderam imaginar-se no corpo de Sabrina, realizando desejos reprimidos, ou sentirem-se ultrajadas com a romantização da violência doméstica que vivem diariamente; feministas puderam aplaudir a libertação sexual sem amarras morais ou repudiar a reiteração de estereótipos sexistas há décadas combatidos.
Na realidade, pessoas que nunca ouviram sequer uma música de Sabrina Carpenter talvez tenham se deparado, por acaso, com essa imagem, imposta aos seus olhos pela tirania do algoritmo. Tudo é possível pois, no fim das contas, aquela imagem existe isolada do seu contexto social de produção, imbuída de atributos mágicos que, onde quer que sejam aplicados, reforçarão o controle de uma dominatrix mais anônima que o modelo de terno na cena, porém certamente muito mais poderosa: a indústria cultural. Se, por um lado, Hannah Cullwick testou, na vida privada, os limites do imperialismo britânico, desnaturalizando suas lógicas binárias, para resistir às normas e expectativas sociais, transformadas em fetiche claramente performático, num espetáculo subversivo em que o próprio sujeito subalterno reencenava a violência para desvelar a ideologia; por outro, Sabrina Carpenter publicizou uma representação de opressão patriarcal que não necessariamente explicita sua condição performática e reproduz-se em larga escala, incorporando até mesmo eventuais voyeurs não intencionais, ao aproveitar-se da penetração dos obscenos tentáculos do imperialismo estadunidense em todos os cantos do globo, a fim de reforçar a primazia da mercadoria, na clássica relação espetacular em que o público (do qual boa parte sofre na carne as violências performadas) não toma parte da cena já previamente montada e roteirizada.
O sadomasoquismo enquanto fenômeno radicalmente histórico, como definiu Anne McClintock, ampliando as lentes da primazia fálica e edipiana do fetiche no paradigma freudiano (e mesmo lacaniano), tem padecido do processo de recalque que suprime sua natureza antinatural de mostrar a artificialidade e reversibilidade da ordem social, ou, no máximo, sublima seus radicais impulsos eróticos e violentos para formas mais socialmente palatáveis. Com suas excitantes contradições harmonizadas pela censura da ideologia burguesa e pelas tediosas tendências vanilla da indústria cultural, a dialética sadomasoquista foi brutalmente despida do seu potencial emancipatório, e fortemente acorrentada às jaulas da sociedade do espetáculo, resultando em nada mais que a broxante reencenação clean de uma fantasia um dia suja, violenta, revolucionária. A primeira vez como gozo, a segunda como farsa. Talvez chegue o dia, quando as estruturas sociais tiverem sido profundamente transformadas, em que os jogos do sadomasoquismo se tornem apenas teatros de fantasmas, performando a memória de violências, instituições, opressões, normas e identidades, inevitavelmente internalizadas, mas que estarão progressivamente deixando de existir.
Afinal, como relembra McClintock, para construir suas reencenações, o sadomasoquismo depende, essencialmente, da memória individual e social da violência, que obviamente se expressa de formas diferentes na burguesia e no proletariado. Nesse futuro vindouro, as perversões criadas no seio da sociedade de classes possivelmente darão lugar a outras relações psicológicas e eróticas, assentadas sobre novas bases materiais. Mas até lá, elas continuarão sendo uma etapa incontornável na terapia de regressão para tratar o sintoma de um profundo “mal estar na civilização”: uma expressão sintética, sarcástica, artística e inteligente do “duplo da violência”, no mais puro sentido fanoniano[viii], como método de libertação psíquica e material dos condenados da Terra, acometidos pela exploração econômica e por uma mentalidade reprimida. Para voltarmos a incorporar a práxis da dialética sadomasoquista no terreno da luta de classes, talvez precisemos expropriar o fetiche das mãos frouxas dos executivos, socialites e popstars que colonizam nosso imaginário político e sexual e protagonizam a maioria das narrativas de grande alcance sobre a temática do sadomasoquismo (das mais pastelonas como Cinquentas Tons de Cinza, às mais críticas como Babygirl, onde o trabalho além dos escritórios dos CEOs desaparece no retrato de uma fábrica completamente automatizada), para então devolvê-lo às mãos calejadas das massas trabalhadoras que, mesmo despidas de máscaras e cordas, ainda estão condenadas a um anonimato não consensual, amarradas à ideologia e impedidas de exprimir seus desejos materiais e sexuais pelas mordaças do capital. Basta libertarmos seus grilhões, para que elas os usem de um jeito muito mais prazeroso, para a tortura dos seus capatazes. Pedimos permissão para parodiar o grande Chico Mendes, mas dizemos, doa a quem doer: sadomasoquismo sem luta de classes é um tapinha manso.
*Camie Intrebartoli é artista plástica e graduanda em Ciências Sociais pela Unicamp.
*Pedro Emmanuel é historiador e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp.
Notas e Referências
[i] McClintock, Anne. Couro Imperial: Raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Capítulo 3. Couro Imperial: Raça, travestismo e o culto da domesticidade.1 ed. Editora da Unicamp. 2010. p.207-271.
[ii] Ibid., p.214.
[iii] Ibid.., p.229.
[iv] FREUD, Sigmund. “Batem numa criança”: contribuição ao conhecimento da gênese das perversões sexuais. 1919. In: Idem, Obras Completas, Volume 14: História de uma neurose infantil [“O Homem dos Lobos”], Além do Princípio do Prazer e outros textos. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
[v] HORTON, Adrian. Is Sabrina Carpenter álbum art really that offensive? The Guardian, 14 jun. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/music/2025/jun/14/sabrina-carpeneter-album-art-offensive>. Acesso em 29 jul. 2025.
[vi] McCLINTOCK, op.cit., p.207.
[vii] DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. 1 ed. São Paulo: Contraponto, 2007.
[viii] Expressão mobilizada pelo psiquiatra e militante da Frente de Libertação Nacional da Argélia para analisar a dialética entre a generalização da violência sobre a realidade colonial, que passa a instaurar, organizar e se manifestar em todos os níveis da vida social, do corpo e da psique do colonizado, e a resposta natural de uma contra-violência anticolonial que apresenta-se como a saída mais pura, objetiva, radical e, inclusive, terapêutica, para que o sujeito colonizado reconstitua sua identidade individual e coletiva. Ver: FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. 1 ed. São Paulo: Zahar, 2022.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA