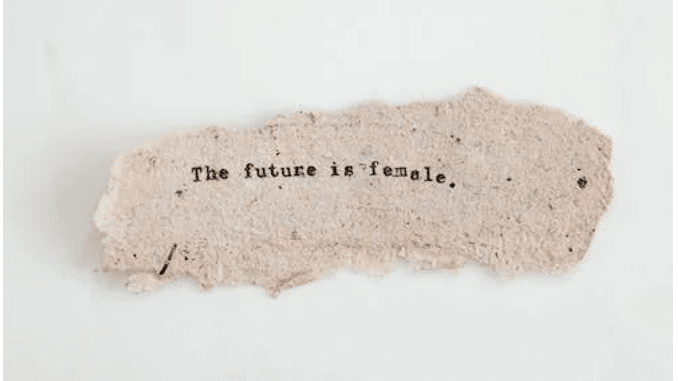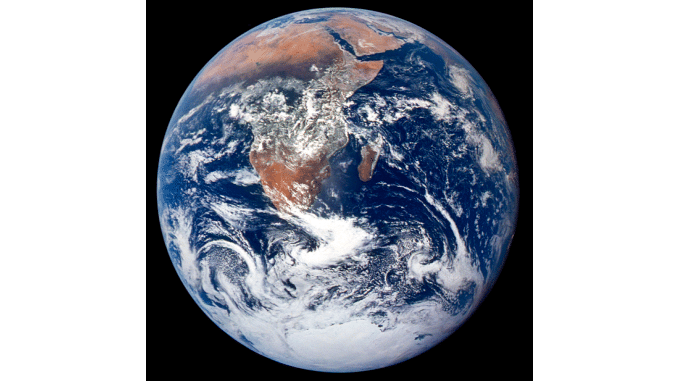Por FRANCISCO TEIXEIRA*
A conversão das ideias liberais em seus opostos revela que a preocupação de Marx, mais do que pensar uma relação de adequabilidade entre base e superestrutura, é desmistificar a ilusão de um mundo que se apresenta como se todos fossem livres, iguais e proprietários
1.
Quanto mais este articulista revisita o ensaio de Roberto Schwarz, As ideias fora do lugar, maior inquietação lhe provoca o texto, a começar pela apropriação, não declarada, da dialética marxista de base e superestrutura como referência analítica para examinar o desencontro entre a economia e a circulação das ideias de liberdade e igualdade no Brasil do século XIX.
Como é amplamente sabido, o autor parte da premissa de que a economia política tem como princípio fundante o trabalho livre. Ora, observa ele, “no Brasil domina o fato impolítico e abominável da escravidão” (Schwarz, 1981, p.13). Por isso, aquelas ideias, cujo berço histórico é a Europa, no Brasil “seriam falsas num sentido diverso, por assim dizer, original” (Schwarz, 1981, p.14), isto é, pelo modo peculiar como se manifestam na realidade nacional.
Por não encontrarem correspondência com a realidade escravista, tais ideias funcionavam de modo deslocado, “fora do lugar”, e seu uso ideológico permitia conciliar, no discurso, princípios universais de liberdade e igualdade com a manutenção da escravidão.
A percepção desse descompasso já se encontrava em Caio Prado Júnior. Para ele, uma economia baseada no trabalho escravo não poderia gerar uma superestrutura cultural e institucional ampla e complexa, como ocorreria na Europa. Em Formação do Brasil Contemporâneo, sustenta que o trabalho escravo não ultrapassa seu ponto de partida e que as relações sociais daí derivadas “não se destacam do terreno puramente material em que se formam; há ausência quase completa de superestrutura […]. O esforço físico constrangido não educará o indivíduo, nem o preparará para um plano de vida humana mais elevado. Não lhe acrescentará elementos morais; pelo contrário, degradá-lo-á […] As relações servis são e permanecerão relações puramente materiais de trabalho e produção, e nada ou quase nada mais acrescentarão ao complexo cultural da colônia” (Prado, 2007, p. 342-43).
Assim, Caio Prado Júnior sustenta que a vida intelectual da colônia não poderia se desenvolver em bases institucionais sólidas, já que a economia escravista não produzia fundamentos para a criação de instituições culturais e educacionais robustas. Nos demais setores da economia – compostos por populações livres pobres, pequenos produtores e camadas socialmente periféricas – predominavam a fragmentação e a falta de coesão estrutural. Entre esses setores, que ele denomina orgânico e inorgânico, não se estabelecia uma relação dialética; havia apenas uma justaposição, que refletia a instabilidade social e política característica da sociedade colonial e imperial brasileira”.
A divisão entre setores orgânico e inorgânico, formulada por Caio Prado Júnior e retomada por Maria Sylvia de Carvalho Franco em Homens livres na ordem escravocrata, permite a esta última analisar como a sociedade brasileira oitocentista se estruturava entre senhores de escravos, de um lado, e homens livres pobres, de outro. Estes, embora formalmente autônomos, dependiam materialmente do favor dos grandes proprietários para acessar trabalho, crédito ou terra. Trata-se, portanto, de uma inserção marcada menos pela organização econômica e mais pela desorganização e pela subordinação pessoal.
Trata-se, portanto, de relações de trabalho e sobrevivência mediadas pelo favor. Este é o mecanismo, segundo Maria Sylvia de Carvalho Franco, pelo qual os homens livres pobres mantinham vínculos com a elite proprietária, assegurando sua subsistência e, ao mesmo tempo, reforçando a ordem social hierárquica. A dependência econômica convertia-se em obrigação de fidelidade e em conformidade moral, naturalizando a subordinação.
Assim, pode-se afirmar que, para Caio Prado Júnior e Maria Sylvia de Carvalho Franco, a sociedade brasileira se organiza em uma bipartição setorial, na qual cada setor segue princípios distintos, gerando dinâmicas sociais e lógicas de funcionamento próprias.
2.
Partindo da confluência analítica com Caio Prado Júnior e Maria Sylvia de Carvalho Franco, Roberto Schwarz investiga a produção da vida ideológica na sociedade brasileira do século XIX. Num registro diferente do de Caio Pardo Júnior, ele argumenta que o nexo da vida ideológica não se encontra no setor escravista, cuja base material nega diretamente as ideias de liberdade e igualdade, mas nas relações entre homens livres pobres e latifundiários. Para tanto, considera a sociedade como um todo, desde a colonização, identificando três grandes classes sociais: latifundiários, escravizados e homens livres pobres, que não eram nem escravizados nem proprietários de escravos.
O foco da análise de Roberto Schwarz recai sobre as relações que mostram que o acesso ao trabalho e aos bens pelos homens pobres dependia do favor dos grandes proprietários. Formalmente livres, mas socialmente subordinados, eles estavam vinculados pessoalmente aos latifundiários. O favor, presente em toda a sociedade – das relações cotidianas às profissões liberais e qualificações operárias –, constituía, segundo Schwarz, “nossa mediação quase universal” (Schwarz, 1981, p. 16). Ainda assim, ironiza o autor, no Brasil ninguém ousaria ser um “Kant do favor” (Schwarz, 1981, p. 17). Num contexto em que a autonomia se traveste de dependência, não se pode falar, em sentido pleno, de liberdade e igualdade.
Conclui-se, portanto, que, se o escravismo nega as ideias liberais, o favor – tão incompatível com elas quanto aquele – as “absorve e desloca, originando um padrão particular” (Schwarz, 1981, p. 16). Embora em desacordo com o liberalismo, o favor não desmente diretamente essas ideias; ao contrário, incorpora-as e as reinterpreta, conferindo-lhes uma forma enviesada. Assim, enquanto o escravismo expõe o conflito de maneira frontal, o favor “acomoda” o liberalismo dentro da lógica da dependência pessoal.
Assim, Roberto Schwarz oferece uma solução para o impasse em que se viam enredados Caio Prado Júnior e Maria Sylvia de Carvalho Franco. No entanto, divide com eles a constatação de que a escravidão era a relação produtiva fundamental da sociedade e dá um passo adiante ao mostrar que o nexo da vida intelectual não estava nela. “A chave desta era diversa”: encontrava-se nas relações entre os grandes proprietários e os homens livres dependentes, ou seja, na prática do favor.
3.
O grande mérito da interpretação de Roberto Schwarz consiste em explicitar o modo peculiar de produção e reprodução da vida ideológica no Brasil oitocentista. A força do argumento é, entretanto, também a origem de sua maior limitação. A premissa adotada para explicar a vida ideológica nacional exclui, desde o início, os sujeitos escravizados – isto é, quase metade da população – do processo de construção intelectual da nação.
Essa exclusão não decorre apenas da incompatibilidade entre escravidão e ideias liberais, mas expressa a permanência de uma herança intelectual que remonta a Caio Prado Júnior e que foi reelaborada, ainda que de forma distinta, por Maria Sylvia de Carvalho Franco. Assim, a chave interpretativa que ilumina aspectos decisivos da produção das ideias é também aquela que mantém invisível grande parte da população brasileira.
Em Caio Prado Júnior, essa exclusão aparece de forma explícita. Para ele, “o trabalho escravo nunca irá além do seu ponto de partida: o esforço físico constrangido; não educará o indivíduo, não o preparará para um plano de vida humana mais elevado” (Prado, 2007, p. 343). A clássica distinção estabelecida por Gilberto Freyre entre o escravo e o negro, fundamental para pensar a contribuição deste último na formação da cultura nacional, é rejeitada por Caio Prado.
Embora reconheça a diferença proposta por Gilberto Freyre, não acredita que ela traga elementos positivos. Caso o negro tenha deixado alguma contribuição, “isto se anulou na maior parte dos casos, deturpou-se em quase tudo mais. O escravo enche o cenário, e permitiu ao negro apenas que apontasse em raras oportunidades”. Reconhece, no entanto, que o africano poderia ter desempenhado um papel positivo “na formação cultural da colônia, se lhe tivessem permitido, se não o pleno, ao menos um mínimo de oportunidade para o desenvolvimento de suas aptidões naturais”.
Infelizmente, acrescenta, “a escravidão, como se praticou na colônia, o esterilizou, e ao mesmo tempo que lhe amputava a maior parte de suas qualidades, aguçou nele o que era portador de elementos corruptores ou que se tornaram tal por efeito dela mesma” (Prado, 2007, p. 343).
Por isso, os escravizados são excluídos do processo de construção da vida ideológica, sendo percebidos como uma massa amorfa, incapaz de agir ou de intervir na vida política da nação, como se sua existência e experiência fossem irrelevantes para a configuração do espaço público e intelectual brasileiro.
4.
A partir do centenário da abolição (1988), uma nova geração de historiadores brasileiros – como Sidney Chalhoub, João José Reis, Hebe Mattos, Silvia Lara, entre outros – aprofundou os estudos sobre violência cotidiana, resistência, família, manumissão, raça e cidadania, tornando os estudos sobre escravidão e abolição um dos subcampos mais dinâmicos da historiografia brasileira. Esse novo campo de investigação derrubou a visão dos escravizados como uma massa passiva.
Nas palavras de Sidney Chalhoub, “a superação da visão dos escravizados como passivos diante da dominação senhorial é substituída por uma perspectiva que enfatiza sua agência, isto é, sua capacidade de ação, iniciativa e construção de comunidades, mesmo dentro da violência e das estruturas de exploração da escravidão” (Chalhoub, 2010, p. 37–38). Para Negreiros, esse novo paradigma impõe aos pesquisadores a “exigência inequívoca de proceder à revisão de conceitos e à formulação de novas hipóteses interpretativas sobre o processo de formação (Negreiros, 2025, p. 80).
De posse dessa exigência, Negreiros parte para enfrentar a questão da exclusão dos escravizados da vida espiritual do país. Valendo-se das investigações produzidas pelas pesquisas históricas a partir dos anos 1980, sua análise gira em torno da questão da alforria, que ele entende como monopólio senhorial “utilizado como estratégia de controle dos escravizados, extorquindo-lhes bom comportamento mediante promessa de liberdade” (Negreiros, 2025, p. 84).
A conquista da alforria não libertava o cativo dos laços que ainda o vinculavam a seu antigo senhor. Por qualquer razão, a alforria poderia ser cancelada. A ameaça de reescravização, “mediante a revogação da alforria por motivo de ingratidão”, era uma possibilidade legal na Colônia e no Império até 1871. “O perigo da reescravização figurava, indubitavelmente, aos olhos dos libertos como um fantasma ameaçador. (Soares, apud Negreiros, 2025, p, 86). Temendo a reescravização, não eram poucos os libertos que “fixavam residência nas imediações das fazendas onde haviam sido escravos e onde, pelo menos, sua condição de forros era conhecida” (Cunha, apud Negreiro, 2025, p, 86). Engrossava-se assim contingente de homens livres dependentes dos favores senhoriais, de que fala Maria Sylvia de Carvalho Franco.
Vê-se, assim, que “Pelo princípio da concessão, tanto se extorquia bom comportamento do escravo, quanto se produzia a dependência do ex-escravo, agora agregado: o favor, tão bem descrito por Franco, nascia do governo econômico dos senhores e atravessava as vidas de escravos, homens livres e libertos. Para dizê-lo em termos pradianos: o orgânico está no inorgânico”. Conclui-se daí que não se pode “compreender a vida ideológica do mundo dos livres sem articulá-la aos mecanismos ideológicos da escravidão” (Negreiros, 2025, p, 86-87).
Cai, portanto, por terra a lógica que mantém invisíveis os escravizados – os chamados “terceiros deslocados” em Roberto Schwarz – na construção da vida ideológica da nação.
5.
Se não há como separar o nexo da vida ideológica do nexo das relações de produção, a escravidão não é, portanto, incompatível com as ideias liberais, como entende Roberto Schwarz. Quem melhor demonstrou a possibilidade de convivência entre trabalho escravo e liberalismo foi Alfredo Bosi, em seu belo texto A escravidão entre dois liberalismos. Nesse ensaio, que integra o livro A Dialética da Colonização, Bosi, diferentemente de Roberto Schwarz – para quem o liberalismo no Brasil se encontra em contradição efetiva com a escravidão, ainda que adaptado pelo mecanismo do favor –, sustenta que a relação entre escravismo e liberalismo era apenas paradoxal, um descompasso verbal, já que o liberalismo não possuía aqui o mesmo conteúdo histórico e material que tivera na Europa.
Acompanhando Gunnar Myrdal em An American Dilemma, Bosi observa que a relação entre liberalismo e escravidão não envolvia conflito real, sendo apenas aparentemente contraditória: a igualdade e a liberdade entre os brancos dependiam da exclusão dos negros de qualquer possibilidade de concorrência.
No plano das ideias, Alfredo Bosi se pergunta se o liberalismo ortodoxo teria “brechas que permitissem algum tipo de contemplação com o trabalho escravo nas colônias (Bosi, 1992, p, 213)?
Evidentemente que ele sabe que a resposta a essa questão cabe aos teóricos do liberalismo, como Smith, Say e Bentham.
Adam Smith é o primeiro autor a quem Alfredo Bosi recorre para responder à questão previamente formulada. Como conhecedor rigoroso da obra de Adam Smith, ele sabe exatamente onde encontrar a resposta. Dirige-se diretamente ao Livro IV, capítulo VII, do tomo II de A riqueza das nações, onde Smith trata das colônias. Ardoroso defensor do sistema colonial, ao analisar como a Inglaterra deveria administrar suas colônias, Adam Smith assume ‘um tom neutro e utilitário’ ao se referir ao trabalho escravo. Não se encontra, nesse ponto, uma crítica explícita à escravidão sob prisma econômico; “há apenas o registro de que a boa administração (good management) do escravo é sempre mais rendosa do que os maus-tratos” (Bosi, 1992, p. 213).
Discípulo declarado de Adam Smith, Jean-Baptiste Say adota o mesmo pensamento de seu mestre. Tal como ele, não nega a superioridade do trabalho assalariado em relação ao trabalho escravo. Ao tratar das colônias, seu estudo, assim como o de Smith, assume um tom pragmático. Alfredo Bosi tem plena consciência disso e explora meticulosamente o capítulo XIX do Livro Primeiro, no qual Say discute a importância do trabalho escravo em comparação com o trabalho livre. Segundo ele, o baixo custo de manutenção do negro tornava seu preço inferior ao do trabalho assalariado. Além dessa vantagem, o escravo suportava melhor do que o trabalhador livre o sol escaldante das colônias.
Esse pragmatismo de Smith e de Say leva Alfredo Bosi a levantar a hipótese de que “o valor atribuído ao trabalho livre, cerne da economia política, não suprimia, de todo, o veio utilitarista nem a capacidade de relatar idoneamente o que estava acontecendo, de fato, nas grandes fazendas do Novo Mundo” (Bosi, 1992, p, 214).
Embora a economia política tivesse como fundamento o trabalho assalariado, não deixava, portanto, de reconhecer a importância da escravidão colonial para o desenvolvimento das metrópoles europeias. Esse pragmatismo de Smith e de Say faz eco na obra clássica de Eric Williams, Capitalismo & escravidão. Neste estudo, Eric Williams mostra que o comércio transatlântico de escravizados e as plantations caribenhas (açúcar, algodão, tabaco) constituíram elementos decisivos para a acumulação primitiva de capital na Inglaterra.
Assim, os lucros oriundos desse sistema não apenas alimentaram bancos, indústrias e companhias de navegação, mas também sustentaram investimentos estatais, configurando-se como um dos alicerces da Revolução Industrial. A título de exemplo, “foi o capital acumulado no comércio com as Índias Ocidentais que financiou James Watt e a máquina a vapor” (Williams, 2012, p. 153).
Essa tensão entre idealidade e realidade empírica não causava nenhum constrangimento a John Locke. Embora seja reconhecido como um dos fundadores do liberalismo, defensor da liberdade individual e da propriedade, ele admitia que essas ideias não eram incompatíveis com a escravidão. Sua teoria do Estado distingue dois tipos de servidão. O primeiro corresponde àqueles que vendem seus serviços por um período determinado; nesse caso, o empregador exerce apenas o poder limitado previsto no contrato.
O segundo, contudo, refere-se aos escravos propriamente ditos: prisioneiros capturados em uma “guerra justa”, que, pelo direito natural, estariam submetidos à dominação absoluta de seus senhores. Esses homens, ao terem suas vidas poupadas, perdem, em contrapartida, suas liberdades e seus bens, sendo privados de qualquer propriedade. Nesse estado, não podem sequer ser considerados membros da sociedade civil, cujo objetivo fundamental é precisamente a preservação da propriedade (Locke, 1978, § 85).
6.
Essa formulação revela uma tensão constitutiva não apenas no pensamento dos epígonos da economia política, mas também na ciência política. Os teóricos que proclamam princípios universais de liberdade e igualdade são, ao mesmo tempo, os que, diante da realidade colonial, legitimam a escravidão. A defesa da propriedade como direito natural, em Adam Smith e John Locke, convive, portanto, com a aceitação da instituição que mais radicalmente nega esse direito: a escravidão. Trata-se de uma contradição estrutural, na qual a universalidade aparente dos ideais liberais se choca com a materialidade histórica das relações escravistas.
Segue-se daí que identificar o trabalho livre como princípio fundante da Economia Política, como faz Roberto Schwarz, sem considerar a tensão entre o empírico e o ideal, é, no mínimo, precipitado. Tampouco parece pertinente, como ele propõe, recorrer à dialética marxiana entre base e superestrutura para sustentar a suposta incompatibilidade entre escravidão e ideias liberais. Para tanto, ele pressupõe que em Marx existiria uma adequação quase automática entre base e superestrutura.
Longe disso, para Marx o desenvolvimento histórico não se dá de forma linear, como se base e superestrutura avançassem em compasso. Referindo-se à sociedade alemã, o autor de O capital observa que: “Onde a produção capitalista se instalou plenamente entre nós – por exemplo, nas fábricas propriamente ditas –, as condições são muito piores que na Inglaterra, pois aqui não há o contrapeso das leis fabris […]. Além das misérias modernas, aflige-nos toda uma série de misérias herdadas, decorrentes da permanência vegetativa de modos de produção arcaicos e antiquados, com o seu séquito de relações sociais e políticas anacrônicas. Padecemos não apenas por causa dos vivos, mas também por causa dos mortos. Le mort saisit le vif” (Marx, 2017, v. I, p. 79).
É evidente que, em O capital, Marx parte, nos três primeiros capítulos do Livro I, da aparência do sistema, isto é, da esfera da circulação ou do intercâmbio de mercadorias, na qual reinam unicamente a liberdade, a igualdade e a propriedade. Ele toma essa esfera — de onde os indivíduos extraem noções, conceitos e parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho assalariado – para demonstrar como a dialética interna do processo de acumulação transforma aquelas ideias em seus contrários diretos: liberdade em não-liberdade, igualdade em não-igualdade e propriedade em não-propriedade.
A conversão das ideias liberais em seus opostos revela que a preocupação de Marx, mais do que pensar uma relação de adequabilidade entre base e superestrutura, como propõe Roberto Schwarz, é desmistificar a ilusão de um mundo que se apresenta como se todos fossem livres, iguais e proprietários. Essa quimera se dissipa quando, nos capítulos XXI e XXII do Livro I de O capital, Marx expõe a dialética que converte a troca entre capital e trabalho em uma não-troca. Nesse ponto, ele retoma a ideia, tão cara à filosofia liberal, segundo a qual, em um passado remoto, a classe capitalista teria adquirido sua propriedade pelo suor do próprio rosto.
Para demonstrar o caráter ilusório dessa narrativa, Marx parte do credo liberal – fundamento de todo o edifício teórico da economia política clássica burguesa – segundo o qual, após muitas gerações de trabalho, a classe capitalista teria acumulado uma riqueza de 1.000 unidades monetárias e, a partir dela, passaria a contratar trabalhadores. Em seguida, supõe que esse capital geraria anualmente um mais-valor de 200 unidades monetárias, destinado ao consumo da classe capitalista.
Mas o que ocorre quando esse capital é continuamente empregado na contratação de trabalhadores (Marx, 2017, I, p. 644)? Simples: se a cada ano é produzido um mais-valor de 200 unidades monetárias, ao fim de cinco anos o total consumido pela classe capitalista será de 1.000 unidades. Mais importante ainda: a classe capitalista continua a dispor das mesmas 1.000 unidades de capital para reiniciar, no ano seguinte, o processo de contratação de novos trabalhadores.
Cai, assim, por terra a ilusão de que é o capitalista quem paga o salário do trabalhador. De fato, a partir do sexto ano, a troca entre capital e trabalho converte-se em uma não-troca. Como escreve Marx, “é com seu trabalho da semana anterior ou do último semestre que será pago seu salário de hoje ou do próximo semestre”.
Para Marx, o que está em jogo, portanto, não é verificar se o mundo da aparência – em que reinam unicamente liberdade, igualdade e propriedade – corresponde ou não à realidade do processo de acumulação de capital, mas, sim, desmistificar o caráter ilusório dessa aparência. Não é, assim, adequado, como propõe Roberto Schwarz, tomar as ideias que habitam essa esfera da aparência para julgar seu uso deslocado em uma realidade distinta de seu berço histórico.
Vê-se, assim, que o essencial, para Marx, não é verificar se o mundo da aparência – no qual vigem formalmente liberdade, igualdade e propriedade – corresponde ou não à realidade do processo de acumulação de capital, mas desvelar o caráter necessário e ilusório dessa aparência. Nesse quadro, torna-se problemático, como faz Roberto Schwarz, tomar as ideias que pertencem a essa esfera da circulação para avaliá-las como “deslocadas” em relação à realidade escravista brasileira.
*Francisco Teixeira é professor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Autor, entre outros livros, de Pensando com Marx (Ensaios) [https://amzn.to/4cGbd26]
Referências
BOSI, Alfredo. A dialética da colonização – São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
CHAlHOUB, Sidney. Precariedade estrutural: o problema da liberdade n Brasil escravista (século XIX) – São Paulo: História Social, n. 19, 2010.
FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens livres na ordem escravocrata – São Paulo: Kairós, 1983.
HOBSBAWM. E. J. Da revolução industrial inglesa ao imperialismo – Rio de Janeiro, 1986.
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo – São Paulo: Abril Cultural, 1978.
MARQUESE, Rafael de Bivar. A dinâmica da escravidão no Brasil: resistência, tráfico, e alforrias, séculos XVII a XIX – São Paul: Novos Estudos, n. 74, 2006.
MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. – São Paulo: Boitempo, 2017.
NEGREIRO, Dario. Escravidão e formação da vida ideológica nacional – São Paulo: Cadernos de Filosofia Alemã, 2025.
PRADO JÙNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo – São Paulo: Brasiliense, 2007.
SAY, Jean-Baptiste. Tratado de economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas Cidades, 1981.
SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA