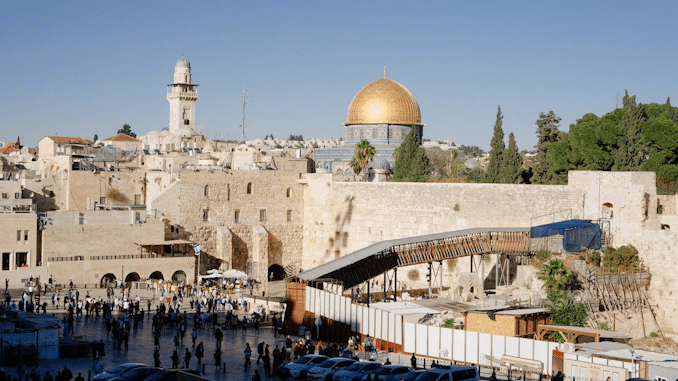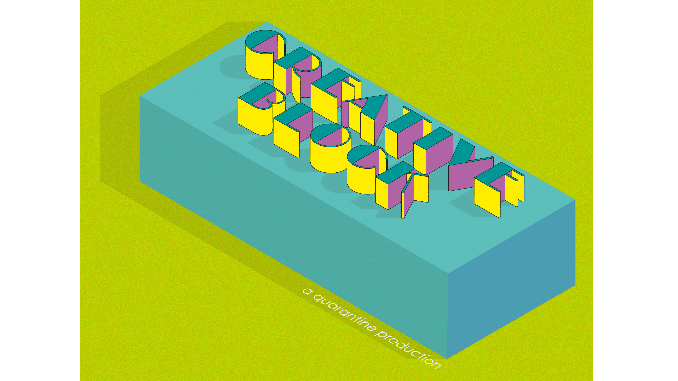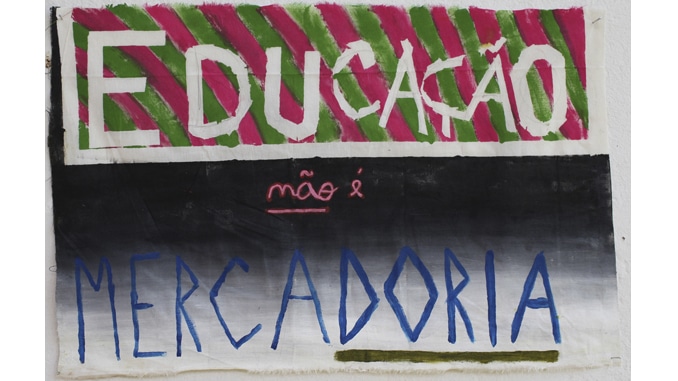Por FLÁVIO R. KOTHE*
A verdadeira busca estética e filosófica exige ir além do moralmente “correto” imposto por qualquer grupo. A obra autêntica, como um ente autônomo, liberta-se dos paradigmas prefixados para desvelar, na sombra e na contradição, lampejos de uma verdade sempre inacabada e em devir
1.
Tem-se observado nos últimos decênios a luta crescente em defesa de minorias raciais, culturais, políticas ou pelo que se chama de opção de gênero. Seja em defesa da mulher, seja em defesa do homossexualismo, dos aborígenes ou algo semelhante, está-se lutando pelo que se considera um princípio moral.
Cada grupo quer expressar a sua “verdade”, ter o direito de exercer a sua “liberdade”. O “identitarismo” tem sido usado em psyops, operações psicológicas, pela CIA americana, para provocar rebeliões em outros países. A pergunta que se impõe é saber se a origem de um texto é garantia de sua qualidade ou se não está, não por acaso, regredindo a uma estética autoritária anterior ao iluminismo.
O que pouco se fez é confrontar a luta das minorias com a propaganda e legitimação de instituições. Embora pareça ser ruptura, e às vezes até seja, tais parâmetros do correto, honrado e piedoso têm servido para impor a vontade de grupos, como se fossem uma revolução. A qualidade de uma obra de arte ou teórica não depende, no entanto, do sexo, da cor da pele, da opção sexual, da religião ou partido de quem a fez, mas o moralismo de gênero exige que certas obras sejam privilegiadas por causação externa. Está-se impondo uma nova deformação.
Essa política identitária de “gênero” é uma forma de pius, honestum et decorum da retórica romana, embora pretenda estar acima disso, até contra tudo isso. Parece revolucionário, para que o mais evolucionário não apareça. Pretende ser vanguarda, quando é antes um retorno a um autoritarismo absolutista.
O debate tem-se tornado partidário entre favoráveis e contrários às “minorias” (que podem ser maiorias, como mulheres, proletários, raça ou “pardos”). O que se propunha como “estilo”, “escola”, “bom gosto”, “arte sacra”, “obra consagrada” e assim por diante nunca se apresentou como postura de um grupo, mas como algo absoluto, como a arte, a moral, a verdade.
Ainda que cada agrupamento creia ser absoluto, o que ele postula pode ser visto na pluralidade democrática como “relativo” a um grupo. Não há mais um “absoluto” a partir do qual o relativo seja relativo. Os conceitos precisam ser reavaliados. Seria preciso relativizar também épocas, estilos do passado.
2.
Na primeira estética moderna, de Alexander G. Baumgarten em 1750, o que ele chamava de veritas aestheticologica era o que, dizia ele, estava de acordo com o pio, o honesto, o decoroso, ou seja, o estético servia para propagar, auratizar o que se entendia estar de acordo com um paradigma moral, apresentando essa “correção” como “veritas”. O paradigma exprimia a vontade de poder da oligarquia. Arte e estética serviam para doutrinar os pobres a obedecer e aceitar sua condição.
O que se subentendia aí como correto varia, porém, de lugar para lugar, de época para época, de grupo para grupo. O belo dependeria da crença, das convenções, dos costumes vigentes. Cada um pretende ser absoluto, sem ser. Parece não haver aí espaço para o correto que valha como universal e atemporal, embora cada versão dele pretenda ser.
Quando um retórico romano como Cícero ou Quintiliano falava em pius, impunha a crença nos deuses romanos. O luterano Baumgarten usou o mesmo termo em sentido bem diverso, sem confrontar os sentidos antitéticos. Desde que se admita que outras visões possam ter validade, há sentidos diferentes para pius, decorum, honestum. Mais importante, porém, é que na grande arte se precisa ir além do correto, do doutrinário, do dogmático.
O artista na obra busca do que lhe parece verdadeiro. É um exercício da liberdade. O artista se vê forçado, no entanto, ao longo da feitura da obra, a fazer o que ela exige dele. A obra se obra usando o artista para se livrar dele e se tornar ente autônomo. Só assim ela pode sobreviver.
Para se aproximar do verdadeiro, é preciso ir além do que cabe na visão estreita do meramente correto, que acaba sendo um discurso que nada novo diz. Se o correto for definido como o piedoso, honrado, decoroso, o que no sistema escravista era ética senhorial deixou de ser correto para os cristãos. O que era piedoso (pius) para Cícero, ou seja, o respeito e a devoção aos deuses romanos, deixou de ser para os cristãos. Um padre católico não podia se casar, mas ao pastor luterano convinha estar casado para ser bem-visto.
Com o iluminismo de Denis Diderot e Voltaire, muito do que pretendia ser decoroso e honesto passou a ser visto como hipocrisia. Um convento pode abrigar pulsões lésbicas e noviças sem vocação para a vida religiosa. Sentimentos que antes eram inconfessos passaram a ser publicados. Tolstói mostrou como uma mulher, ao ser fiel à paixão que sentia, podia ser encarada como prostituta pela alta sociedade; Émile Zola fez de Nana uma prostituta para mostrar o que seria um grande amor. Cultuar a aparência de honestidade pode camuflar desonestidades. A aparência de piedade podia ser hipocrisia. A “kalokagatia” se tornou um problema.
Um usuário de drogas considera “honesto” o traficante que lhe fornece a droga na qualidade e quantidade combinadas, mas este é um delinquente. Cristãos honestos plantam fumo, porque dá dinheiro, mesmo que saibam que prejudica a saúde. Se numa ditadura a polícia bate à porta, o dono da casa é, para Kant, “honesto” se entregar o refugiado à polícia, mesmo sabendo que ele será torturado e talvez morto: o “Estado” representava a virtude. Quando Frederico II faleceu, o sucessor proibiu Kant de escrever sobre religião. Depois que o soberano morreu, o filósofo retomou o tema que lhe havia sido proibido.
3.
Quem arriscou a vida ajudando perseguidos a escapar da ditadura militar pode ser visto como virtuoso. Todo anfitrião assume obrigações com quem ele hospeda e abriga. Houve épocas e lugares em que a mulher tinha de casar virgem para ser considerada “honesta”, como se uma coisa fosse garantia da outra. Houve rapazes que deixaram de se casar com “moças malfaladas”, para se consumirem num casório infeliz.
Decoroso é o que está de acordo com o decoro. Quando as saias das mulheres começaram a subir pelas pernas, o que era moda não estava de acordo como o que havia sido considerado decente anos antes. Baumgarten evitou uma espinhosa discussão ao usar termos da retórica romana como se significassem o mesmo para os luteranos. Escondeu nas palavras o problema.
Para Tomás de Aquino, belo era o resplendor da verdade, mas, para ele, verdade era a sua crença católica, estava em Cristo, na maneira como a Igreja então o via. A crença leva à convicção de que as coisas são como o crente imagina que sejam. Isso é, porém, imaginação. Quando a Igreja tinha poder absoluto, impunha a todos o que entendia ser correto. Isso levou à Inquisição e aos autos da fé. Muitas crianças foram punidas com violência imitando esses procedimentos. Pais brutamontes achavam que estavam dando boa educação.
Para Kant, quem cultiva o belo da natureza tende a ser pessoa melhor do que quem cultiva o belo artístico, pois este quer muitas vezes usar a arte para parecer melhor do que ele é. O mais importante, dizia, é que a pessoa seja boa, tenha bom caráter. O belo da natureza devia servir de modelo para a arte.
A concepção do sive naturam foi interpretada por Kant e Moritz não no sentido habitual de “copiar” as coisas da natureza, fazendo pinturas tão “exatas” quanto possível: seguir a natureza significava, para eles, seguir os procedimentos da natureza, que nunca faz nos filhos meros clones dos pais, sempre os faz diferentes, pratica um experimentalismo permanente. Isso desencadeou o romantismo em Jena por volta de 1790. Depois Charles Darwin propôs que a inovação é necessária para surgirem espécies mais aptas e desenvolvidas.
Quando o idealismo alemão definiu a arte como expressão da ideia, ele havia modificado a concepção de verdade. Para Tomás de Aquino e a escolástica, ela era o que estava de acordo com a mente divina, livre de contradições e fora do tempo. Para Solger e Hegel, verdadeiro era captar o objeto em suas múltiplas contradições (portanto, em suas tensões internas, em mudanças e sombras). Isso bem separa entre o “correto”, que se define pela aplicação de paradigmas prefixados, e aquilo que poderia ser verdadeiro: a prioridade está na coisa concreta. A ideia precisaria captar o antitético da realidade e a contradição entre ideal e real.
4.
Isso levou à concepção romântica de que o ideal é ideal porque a realidade não permite que ele se torne real, ou seja, há sempre um abismo entre a vida como ela deveria ser e como ela é. Isso leva à necessidade de reformas políticas e sociais. Os “românticos brasileiros”, para se afirmarem contra Portugal, fizeram de conta que o Brasil era melhor, preferível (“oh que saudades que eu tenho…!”). Ou seja, o termo tem sentidos diferentes, mas se faz de conta que é sempre o mesmo.
Nietzsche mostrou que o próprio conceito de verdade não era verdadeiro porque supunha que haveria a coincidência entre o que está na mente e aquilo que a coisa é: ora, essa suposta equivalência (de aequum: X = Y) esconde que um vetor nunca é igual ao outro, sempre há diferenças. A escola treina gerações a crerem que 2 + 2 = 4 como verdade absoluta, quando não é nem verdade nem absoluto.
Reduz a realidade à dimensão quantitativa e depois finge que o que parece equivalente já é igual: um ninho com quatro ovos não é, porém, igual a dois ninhos com dois ovos cada. Acha-se aí que qualidade é apenas uma sensação subjetiva do receptor, e não a descrição do modo de ser e do estado em que se encontra o objeto apreciado. Isso vai mais longe que a virada que se acenou em Aristóteles, de que a verdade estaria no discurso, já que sua origem seria divina. A linguagem tem sido entendida dentro da lógica metafísica da representação, que é o que hoje se precisa discernir e, se possível, ultrapassar.
Quando Martin Heidegger examinou a natureza temporal do ser, retirou-o da estratosfera metafísica, da mente divina, portanto da eternidade. Todo ser virou devir. A visão católica saiu pela porta da frente, mas voltou pelos fundos, com o homem como Dasein, o único a ter alma (e discernir a verdade e o ser). Passou a ser destinação do ser humano, como aquele que mais tem condições de buscar o que seja o ser. Viu a verdade como alétheia, como desvelamento, em que o ponto de partida é a sombra, a não evidência da totalidade do objeto. Nunca há totalidade. Ela é apenas uma suposição, uma aposta.
A separação entre o correto, conforme paradigmas prefixados, e a verdade como busca da ideia fluiu do idealismo para os românticos na questão do “ideal” como corporificação da ideia. Daí um líder político ou um mártir religioso representarem certo ideal, ao menos para os seus adeptos e seguidores. Nessa transferência, passam a representar o correto.
A concepção romântica de que o ideal é ideal porque a realidade não permite que ele se torne real contém implícita uma negação do status quo como uma situação que é por si negativa, o que precisa levar à sua negação. Essa negação da negativo leva à afirmação do ideal. Quanto mais quem representa o ideal for destroçado pela força do poder efetivo, mais ele resplandece em sua idealidade. Cristo na cruz foi visto assim, como herói trágico a corporificar o ideal da compaixão, do amor ao próximo.
Ele é o paradoxo de ser visto como salvador dos homens não tendo sequer condições de salvar a si mesmo. O romantismo brasileiro falseou o sentido original ao propor o status quo como ideal, descrevendo a natureza bela e ignorando a escravidão. Na Europa, a negação de uma sociedade negativa levou ao senso crítico e à ação revolucionária.
Ultrapassou-se a redução da verdade à mera união de contrários, para questionar a estrutura que leva a uma polarização que não permite ver além dela. O ser deixou de ser: tornou-se um devir, cujos limites não estão apenas no que ora se apresenta. Há o imprevisível, um novo caminho da libertação. O verdadeiro não é apenas conceitual, mas físico, corpóreo: sensação de transcendência.
5.
A diferenciação entre correto e verdadeiro aponta a necessidade de distinguir entre o estético que apenas obedece a paradigmas do poder, impondo como correto o que é vontade do poderoso, e aquilo que, para ser verdadeiro, precisa de liberdade para sentir, pensar e dizer. São duas vocações diversas do homem: dominar coisas e gentes, desenvolvendo ciência, tecnologia, armamento, política; ou então abrir-se para o existente e tratar de desencobrir sua natureza, ser capaz de pensar.
Quando a arte se torna espaço para o exercício da vontade de poder, está-se defendendo, no Brasil, movimentos como o romantismo e as escolas e vanguardas posteriores: buscavam trazer inovações formais com as novas linguagens, para impor teses antigas da oligarquia.
Na sucessão de escolas, tem aparecido como inovação o que é retorno do mesmo. O cânone, ao se “inovar”, apenas tem adaptado importações formais, cortando conteúdos capazes de questionar o status quo. Isso gerou uma contradição: o cânone formata um parâmetro inconsciente do que é considerado “bom” como obra, desde que esteja dentro de sua correção, então se aplaude o que não é capaz de ir além do horizonte de expectativa estabelecido, assim como a rejeição ou não apreciação daquilo que fica fora dele. Há uma “história” que não faz história.
A questão da verdade não se esgota na dialética da ideia como representação mental de contradições reais. Viu-se que era ficção supor como verdade a correspondência, a equivalência entre coisas e representações mentais. A própria noção de representação conduz ao subjetivismo, impondo a vontade de alguém sobre as coisas. Ela não se supera dizendo que a obra de arte é consciência objetivada ou interioridade exteriorizada: o impasse continua aí, assim como o convite a esquecer a ineludível diferença.
Verdade não é apenas iluminação, revelação, luz. Esse modelo solar continua a tradição monoteísta. O ponto de partida não é apenas o ignoto, o não saber, para daí desvelar aos poucos ou por súbitas iluminações o que as coisas seriam. Como não se conhece o todo nem a totalidade das interações das partes, nunca se tem um saber último e definitivo. O obscuro faz parte da verdade, mas não se chega a ela sem ter uma noção mínima de onde tratar de procurá-la.
Essas novas concepções sobre o que seria verdade tentam ir além do tapa-olhos da correção, que só permite ver o que está dentro de parâmetros considerados certos, do que está nos conformes, do que não se choca com o “aceitável”. A cultura vigente pressupõe a verdade como noção abstrata: Deus seria um ente informado sobre as “ideias” de todos os entes, constituído por elas. Ora, um ente não pode ser o ser, nem o ser se confunde com determinado ente, já dizia Aristóteles.
Não sabemos ao certo como se dá a relação entre algo concreto e a presença do ser nele. A “representação” do ente na mente ou como ideia de algo está replena de questões não resolvidas. Se o cristianismo se baseia numa regressão metafísica e lógica, precisa ser superado para que realmente se pudesse começar a pensar.
Querer ultrapassar os parâmetros do correto pode levar a um engano oposto: considerar arte ou filosofia tudo o que seja apenas ousadia, experimentalismo, choque, como se tais atitudes gerassem por si verdades que não pudessem ser ignoradas. Vanguardas tentaram ampliar os materiais de elaboração de obras de dominante estética. Também foi proposto – Duchamp é um marco – que bastaria colocar um objeto num local de exposição de arte para ele tivesse de ser considerado artístico.
Ora, um urinol continua sendo um urinol mesmo numa galeria ou numa caixa de papelão: continua sendo um utensílio, produzido em série, por mais que se pague por ele. Dentro de um museu de arte, há obras de qualidade desigual, elas não se uniformizam como arte por estarem nele.
*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Alegoria, aura e fetiche (Editora Cajuína). [https://amzn.to/4bw2sGc].
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA