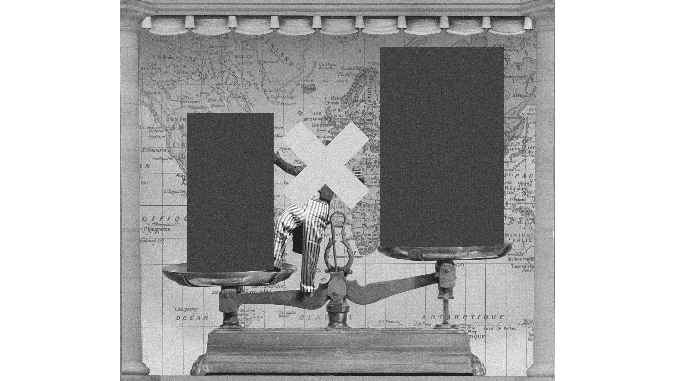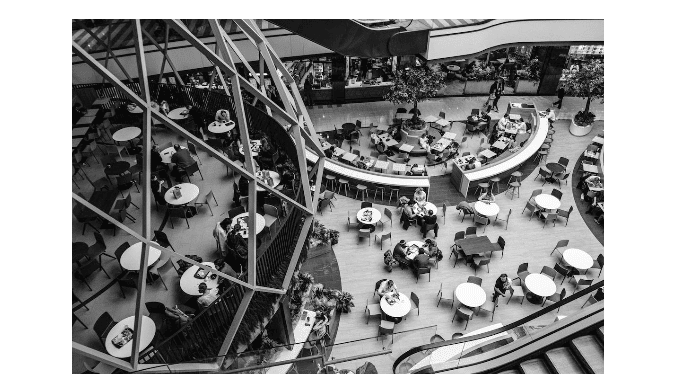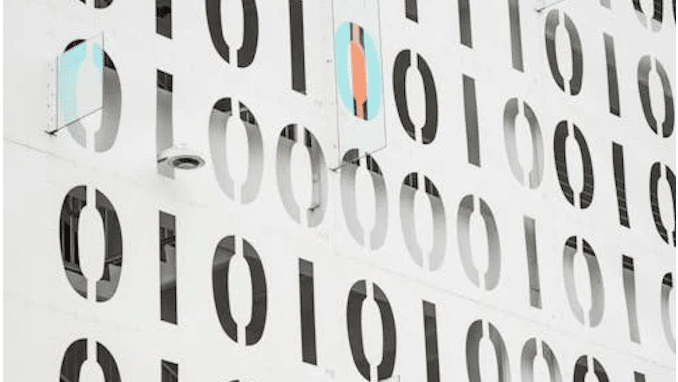Por EMILIO CAFASSI*
O que se vende como paz é a gestão tecnocrática de um cemitério, onde a soberania é trocada por segurança e a dignidade, por um plano de obras públicas
A miragem da paz – anatomia do acordo de Donald Trump
Nada é mais enganoso do que a palavra “paz” proferida por vencedores. Por trás de seu brilho, escondem-se uma ordem que se impõe e um silêncio sobre as ruínas do outro. É assim que funciona o plano de vinte pontos de Donald Trump, celebrado no Knesset com o marketing substituindo a política. Não era o som da reconciliação, mas o eco de uma vitória construída sobre a rendição.
A “paz forte, duradoura e eterna” é escrita com cláusulas de imposição. A primeira fase – libertação de reféns, troca de prisioneiros palestinos, entrada de ajuda e retirada parcial para a “linha amarela” – dramatiza a assimetria entre ocupante e ocupado. A própria terminologia é aberrante: Israel mantém “prisioneiros” sob o pretexto da legalidade; o Hamas, “reféns”. A linguagem plastifica a hierarquia.
Donald Trump não fala a linguagem da lei, mas sim a da propriedade: parcelando terrenos, concedendo concessões e licitando propriedades. Seu “Conselho de Paz” e sua “Força Internacional de Estabilização” referem-se a uma gestão privada do território: Gaza como um condomínio desmilitarizado, soberania trocada por segurança e autodeterminação por supervisão. É a paz do urbanista sobre o cemitério ainda fumegante: zonas econômicas, promessas de investimento e uma reconstrução que substitua a justiça pelo desenvolvimento e a reparação por um plano de obras públicas.
Várias críticas são contundentes. Olga Rodríguez alerta que o plano ignora o direito internacional e protege aqueles que cometem genocídio. Ramzy Baroud chama isso de “uma estratégia velada para facilitar a limpeza étnica”. Mesmo na grande mídia, o desconforto é evidente: o New York Times reconheceu que “as concessões são desproporcionais e a cronologia confusa”, enquanto o sedutor La Nación, em sua tentativa de equilíbrio, celebrou a “iniciativa pragmática”, mas admitiu que ela “carece de garantias verificáveis”. O próprio contraste entre os dois revela o que o plano esconde: seu cerne não é a simulação de harmonia, mas a administração do domínio.
As questões fundamentais – o status de Jerusalém, o direito de retorno, o destino da Cisjordânia e os assentamentos ilegais – são adiadas ou omitidas. O primeiro-ministro do Catar, Al Thani, resumiu o método: os mediadores adiaram “as questões mais espinhosas” porque faltavam as condições para um acordo abrangente. A trégua cerimonial é adiada para que os negócios possam prosseguir.
O especialista em Oriente Médio Pedro Brieger enfatiza a sequência ética – e não geopolítica – que toda arquitetura honesta deve assumir: deter o genocídio, retirar Israel completamente da Faixa de Gaza e nunca mais deixar Gaza no limbo. Gaza hoje representa, sem dúvida, uma infraestrutura devastada e um número indizível de mortos, enquanto a gramática diplomática disfarça a urgência com “fases” e “transições”.
O cientista político israelense Mario Sznajder resume: “O diabo está nos detalhes, e qualquer um desses detalhes pode explodir toda essa história”. Entre eles estão o ambíguo “congelamento” de armas do Hamas – sem entrega efetiva – e a exclusão da Cisjordânia do acordo. Se o diabo habita os detalhes, Deus se exilou deste mapa.
Dentro de Israel, os aplausos ao plano mascaram as tensões. Benjamin Netanyahu capitaliza a libertação dos reféns e a atmosfera internacional como seu próprio triunfo, embora o “trabalho duro” tenha sido feito por mediadores árabes e por Washington. A euforia nacionalista obscurece a nuance: o que está sendo celebrado não é a paz, mas a vitória da narrativa. Ao contrário do clichê que reduz tudo ao Hamas, Pedro Brieger aponta dois fatos: a população de Gaza descende em grande parte dos expulsos em 1948, e o Hamas só nasceu em 1987, vinte anos após a ocupação de 1967. A causa precede a organização; inverter a ordem é inverter a história.
A ovação no Knesset, em meio a bonés vermelhos e gritos de ” Donald Trump, presidente da paz!”, selou o significado da manifestação: não se tratava de um tratado entre inimigos reconciliados, mas de uma cerimônia de aliados compartilhando poder e força. O pacto dos fortes foi teatralizado como um espetáculo de redenção, enquanto “Gaza” serviu de pano de fundo.
Nas ruas palestinas, onde a reconstrução chega como uma esmola e a soberania é oferecida como uma concessão administrativa, o acordo é vivenciado com uma mistura de alívio e desconfiança. Como escreveu Muhammad Shehada, “a Palestina se tornou um cemitério de estratégias fracassadas”.
A paz como um negócio
O chamado acordo do milênio – um sucessor hiperbólico do “acordo do século” – não negocia entre inimigos, mas sim une os interesses de impérios. Diplomacia de magnatas, protetorado colonial e propaganda digital se misturam no mesmo cenário. Se tratados antigos eram assinados com solenidade, este é redigido com curtidas, contratos e drones. Donald Trump não busca a paz: ele busca a gestão global.
Gaza está sob a tutela de uma “Força Internacional de Estabilização” que reproduz os formatos da Bósnia e do Kosovo: enclaves desmilitarizados, supervisão estrangeira e soberania suspensa. Nessa arquitetura, Tony Blair reaparece como vice-rei honorário, símbolo de uma administração colonial disfarçada de missão humanitária. Comoobservou Gilbert Achcar, trata-se de uma reconstituição do mandato civilizador do entreguerras, agora envolto em marketing e retórica de transição democrática.
Harold Meyerson, em The American Prospect, desmascara a farsa: o plano é “basicamente um plano de guerra” que dá carta branca a Benjamin Netanyahu enquanto Washington se livra dele e Tony Blair recupera os holofotes. É o cenário montado para uma paz condicional, na qual os palestinos devem aceitar sua rendição para merecer a reconstrução. O mundo assiste, imperturbável, a um acordo que exige a morte para se tornar crível. Roy Schwartz, em Without Permission, enfatiza que o texto de vinte pontos “contém tudo o que os israelenses sonharam” e parece ter sido redigido no gabinete do primeiro-ministro. A pressão americana, quando existe, é meramente retórica.
Diante dessa armadilha, Pedro Brieger propõe um terceiro caminho pragmático: reconhecer Gaza como um Estado independente e evitar o limbo jurídico de uma população sem cidadania sobrevivendo ao ar livre. Não se trata de fetichizar fronteiras, mas de ancorar direitos e sobrevivência. Essa ideia não substitui a igualdade plena, mas abre um arcabouço jurídico para o estabelecimento da dignidade antes de qualquer negociação.
Em meio à barbárie, essa articulação mínima entre utopia e realismo talvez seja uma vitória para a humanidade. Não seria desprezível se alcançada, mas insisto que um verdadeiro salto qualitativo para superar o atraso de toda a região é um Estado laico e moderno que não apenas prevaleça, mas também repudie o atraso histórico das formações econômicas e sociais, os Estados-nação, ali criados.
Os cativos da linguagem
Nada revela melhor a estrutura moral do poder do que as palavras que usa para nomear seus prisioneiros. Israel chama os israelenses de reféns e os palestinos presos de terroristas. A linguagem se torna uma frente de guerra: muros também são erguidos com adjetivos e manchetes. Mousa Abu Marzouk, um líder de longa data do Hamas, resume o drama: “Nunca houve uma guerra aberta, um genocídio transmitido pela televisão como este, onde a fome e o assassinato de crianças são usados como armas. Apelamos a Donald Trump para que cumpra sua promessa de parar a guerra e libertar os prisioneiros.” Ele fala de um exílio perpétuo que o Ocidente reduz ao fanatismo.
A troca proposta – dois mil palestinos por vinte prisioneiros israelenses – dramatiza uma hierarquia moral: vidas israelenses valem mais, vidas palestinas são moeda de troca. Marwan Barghouti e Ahmad Sa’adat, símbolos de unidade, são deixados de fora para apaziguar ministros extremistas. Cada libertação se torna um espetáculo calculado para reafirmar a superioridade moral.
A armadilha da linguagem é semelhante à do Estado liberal denunciado por Karl Marx em A Questão Judaica: a emancipação política concede direitos abstratos ao cidadão, enquanto a vida humana permanece subjugada. Chamar os palestinos de “prisioneiros” e os israelenses de “reféns” reproduz essa duplicidade: igualdade formal, subordinação efetiva. A paz nominal não atinge a emancipação humana se não desmantelar a matriz material da dominação.
De um abrigo improvisado em Nusseirat, um jornalista palestino escreveu ao Viento Sur para explicar por que não quer que seu filho Walid associe a palavra “israelense” à “morte”. Entre as ruínas, ele inventa histórias para distraí-lo do rugido dos helicópteros e para evitar que os confunda com pássaros. “Não quero que ele aprenda o ódio como língua materna”, confessa. A cena lembra o filme de Benigni: um pai inventando histórias para que o filho não veja o horror, como se a imaginação pudesse ser uma trincheira moral. Em meio ao cerco, essa pedagogia do amor também é um ato político: preservar a inocência quando tudo conspira para aboli-la.
Aquela criança devorando uma maçã como se fosse um milagre personifica o outro lado do acordo: a vida reduzida à escassez administrada, à fruta racionada sob o olhar atento de drones. É a cena mínima que desmantela toda a grandiloquência diplomática. A liberdade não se mede pelos cumes de Sharm el-Sheikh, mas pela possibilidade de uma criança não aprender a odiar.
Nas prisões israelenses, mais de sete mil palestinos permanecem detidos – muitos sem julgamento; o próprio tempo se tornou refém. O desaparecimento prolongado é uma tortura burocrática: o arquivo como carrasco. E nas ruas de Gaza, a semântica oficial se rompe. Lá, os prisioneiros são heróis e os reféns, sombras; a palavra “troca” soa mais como trégua do que como justiça. “O Hamas não é mais uma organização: é uma ideia, e ideias não são aprisionadas”, diz Marzouk.
Da diáspora, intelectuais como Ahmed Correa Álvarez e Julio Antonio Fernández Estrada amplificam o eco: “Se a promessa de liberdade exige ignorar o massacre de inocentes, precisamos de outra ideia de liberdade.” Israel não liberta: administra o confinamento. Donald Trump não negocia: supervisiona a humilhação. O mundo assiste, cativo de suas telas como se as retinas fossem novas prisões, enquanto a palavra “refém” se torna espetáculo e a palavra “prisioneiro” se torna suspeita. Nesta guerra, alguns arrastam grilhões de aço e outros, de discurso. Todos esperam que o tempo volte a ser humano.
“Não em meu nome”
Nenhuma palavra é mais contestada hoje do que “judeu”. Não por causa de seu som, mas por causa do campo de força que a cerca. O projeto de Donald Trump e a guerra em Gaza condensaram séculos de debate interno em uma única pergunta: a vida judaica pode ser defendida sem o álibi de um Estado étnico-confessional que oprime outro povo?
A resposta vem de vozes que dizem algo tão simples quanto decisivo: não falem em meu nome. Não é um slogan, é genealogia: a memória de uma cultura atravessada pelo exílio e pela miscigenação, que não se encaixa nas fronteiras de um Estado ou no vocabulário militar de uma ocupação. Em Buenos Aires, Jerusalém ou Nova York, histórias familiares de coexistência entre judeus e árabes desconstroem a equação “judeu = sionista”. Essa memória demonstra que a identidade judaica pode ser diaspórica sem ser subordinada: encontrando uma pátria na língua, na justiça e na conexão, não na anexação de terras.
Peter Beinart, no Le Monde Diplomatique, compara a narrativa da vítima israelense com a dos africâneres sob o apartheid: ambos usaram o medo da igualdade como álibi para a supremacia. Se a segurança exige a negação de direitos aos outros, o que está sendo protegido não é a vida, mas o privilégio. Philippe Descamps acrescenta evidências demográficas: entre o Mediterrâneo e o Jordão, os judeus não são mais a maioria. Sem uma democracia substantiva, o Estado aprofunda a engenharia de fronteiras e autorizações, protegendo a ficção de ser “judeu e democrático”. Na Cisjordânia, ruínas, aldeias sem água e oliveiras arrancadas são a paisagem moral dessa política.
Dentro de Israel, a deriva é visível. Gideon Levy descreve a transição do luto para a vingança: “Não há inocentes em Gaza”. A empatia transformou-se em traição, e a imprensa a acompanha com silêncio: a dor israelense é exposta, a fome palestina é escondida. Meron Rapoport aponta os limites materiais dessa ideologia: o Egito não abrirá o Sinai, nenhum país absorverá refugiados, a pressão internacional está crescendo. A própria engenharia diplomática de Donald Trump, ambígua, fechou a porta para a anexação aberta e congelou a fantasia da “transferência”. Os palestinos não vão a lugar nenhum.
A heresia interna do judaísmo não é uma negação, mas um retorno à sua fonte ética. Nasceu como uma memória da escravidão transformada em uma demanda por justiça. A diáspora era um tesouro, não uma desgraça: o iídiche provou que a identidade judaica se expande por meio do diálogo com outras línguas e culinárias.
Quando o Estado equipara “judeu” a “sionista” e “patriota”, empobrece a tradição e submete sua ética a um protocolo de guerra. A questão candente — como ser judeu depois de Gaza? – exige coragem: separar a vida judaica da política de extermínio, desobedecer às instituições que usurpam uma voz coletiva, imaginar um futuro comum onde a igualdade não seja uma ameaça, mas um ponto de partida.
Peter Beinart diz claramente: se o medo governa a supremacia, o antídoto é a igualdade. Não “dois Estados” sem esperança, nem uma “administração internacional” com vice-reis esclarecidos, mas direitos iguais para todos os que habitam a mesma terra. Esta heresia fervorosa – retornar ao cerne da tradição para perguntar qual justiça vale a pena defender – é o único mandamento urgente. Ali, e somente ali, a palavra paz recupera o seu significado: ninguém domina, ninguém é supérfluo, ninguém se cala em nome de ninguém.
O Estado, a violência e a agonia do futuro
Acostumamo-nos a pensar na violência como um desvio da normalidade política, mas Gaza – como o Vietnã e a Argélia antes dela – nos lembra que a violência não é a falha do Estado: é o seu princípio constitutivo. Max Weber formulou isso com precisão: o Estado se define pelo monopólio legítimo da violência. A questão hoje é outra: o que acontece quando essa legitimidade se confunde com impunidade? Quando a violência deixa de ser um meio e se torna um fim?
A violência não apenas funda o Estado: ela o molda e sobrevive a ele. Thomas Hobbes a imaginou em Leviatã como um monstro nascido do medo; Antonio Gramsci a concebeu como coerção com o consentimento dos subjugados; Max Weber finalmente a racionalizou na administração. A mesma genealogia permeia todos eles: a violência estatal é o preço da ordem. Friedrich Engels concluiu que as classes dominantes inventaram o Estado para perpetuar sua dominação. A modernidade política – das monarquias aos regimes liberais – é composta de guerras civis, colonizações e escravidão, que mais tarde foram traduzidas em leis. A violência foi legalizada enquanto o poder foi institucionalizado.
Charles Tilly resumiu com brutal lucidez: “A guerra fez o Estado, e o Estado fez a guerra”. Gaza confirma essa afirmação. O Estado israelense, construído sobre a ferida do exílio e a memória do extermínio, não pode mais existir sem uma guerra que o reative. E o esquema de Donald Trump o perpetua ao globalizá-lo: transforma o massacre em um procedimento administrativo. O direito internacional se torna uma cartografia moral que é consultada, mas não seguida.
Esse paradoxo permeia toda a modernidade. A própria lei que tenta conter a barbárie emerge dela. Os Tribunais de Nuremberg e o Estatuto de Roma estabeleceram categorias – crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio – que surgiram de um mundo que já havia naturalizado o extermínio. Gaza transborda essas categorias: é um crime de guerra por seu método, um crime contra a humanidade por sua continuidade e um genocídio por seu propósito.
Hannah Arendt viu na burocracia moderna a mutação da banalidade do mal em técnica de governo: matar não é mais feito por paixão, mas por protocolo. Gaza é administrada. Fome, água e eletricidade são administradas com a frieza de uma planilha. A paz de Donald Trump, com suas tabelas de investimento e fases numeradas, é a atualização tecnocrática dessa banalidade: o horror traduzido em Excel.
Achille Mbembe chamou esse regime de poder que decide quem pode viver e quem deve morrer de necropolítica. Em Gaza, essa fronteira é literal: uma linha traçada por drones determina o valor de cada corpo. A modernidade, que se gabava de civilizar, atinge aqui o seu reverso: a administração racional da morte. A fome, como alertamBertomeu e Gérvas, torna-se uma arma de guerra e de controle demográfico. Polanyi já a pressentia: quando a economia se desvincula da ética, a vida humana torna-se uma variável de ajuste.
O Antropoceno amplifica essa equação: não se trata mais apenas de povos dominados, mas do planeta como vítima. Andreas Malm alerta que a guerra por recursos é agora uma guerra contra os limites da Terra. Gaza, transformada em um laboratório de controle e desperdício, é também uma metáfora para o mundo vindouro: um planeta sitiado por sua própria maquinaria de dominação.
O Estado moderno nasceu como uma máquina de hierarquias e fronteiras. Para Norbert Elias, sua racionalização era inseparável do monopólio fiscal e da concentração de poder. Hoje, esse processo atingiu a saturação: o controle total não produz ordem, mas colapso. O Leviatã que ele deveria proteger agora devora seu próprio corpo social como um animal que confunde sua cauda com o planeta.
Não se trata de idealizar os inimigos de Israel. O Hamas reproduz, sob uma gramática diferente, a mesma lógica teocrática que denuncia: autoritarismo religioso, misoginia e martírio como pedagogia política. Não representa a emancipação do povo palestino, mas sim seu sequestro simbólico. Michel Onfray alertou que as religiões monoteístas compartilham uma “metafísica da servidão” que subordina o corpo e sacrifica o pensamento. A tragédia de Gaza não opõe a fé à razão, mas sim dois dogmas que disputam o controle do mesmo inferno.
Enquanto a fome é controlada, as corporações participam da coreografia. A empresa espanhola CAF, que fornece trens que conectam assentamentos ilegais, afirma que “não fabrica bombas”, mas transporta os andaimes do apartheid. A Europa financia missões humanitárias enquanto seus bancos sustentam a ocupação. O humanismo europeu é uma máscara civilizada para a barbárie colonial.
Não se trata apenas de Israel ou Donald Trump: todo o Ocidente precisa se desradicalizar, abandonando seu fundamentalismo de mercado e sua fé na violência redentora. O que para alguns é chamado de “terrorismo”, para outros, é política externa e equilíbrio de poder. Progresso é confundido com a capacidade de destruir sem ser maculado.
Walter Benjamin declarou com propriedade que “todo documento de cultura é também um documento de barbárie”. O que o Ocidente chama de paz é, para os povos subjugados, a suspensão temporária de seu extermínio. Gaza é o reverso do Iluminismo: o laboratório onde a tecnologia, a razão de Estado e a religião – judaica, cristã, islâmica ou de mercado – convergem para administrar a morte sem chamá-la de crime.
Nos fóruns internacionais, debate-se se Gaza pode ser “um Estado independente”. Mas a questão já contém um axioma: pressupõe que a independência só pode assumir a forma de um Estado. Talvez, como sugeriu Arendt em sua defesa dos conselhos revolucionários, a política deva ser repensada sem um soberano. Franz Fanon falou de uma “nova humanidade” nascida da descolonização, e Achille Mbembe, de uma comunidade de vivos e mortos que transborda a forma estatal. Talvez Gaza, devastada e fragmentada, não aspire a ser um Estado, mas algo mais: uma comunidade sem um senhor.
Observar Gaza através de nossas telas não nos torna espectadores: nos transforma em cúmplices. Toda indiferença confirma a impunidade. Voltando a Benjamin, “nem mesmo os mortos estarão a salvo do inimigo se ele vencer”. Esta vitória não é militar, mas moral: o triunfo da anestesia.
É por isso que insistimos: não se trata apenas do futuro de Gaza, mas do futuro da humanidade. Se a civilização sobreviver, será porque aprendemos a desobedecer aos imperativos da violência legítima, a desmantelar a máquina da fome e a pensar na liberdade não como a exceção, mas como a regra. O Estado nasceu com sangue e fronteiras; talvez deva morrer com memória e comunidade. Se um dia Gaza deixar de ser uma ferida e se tornar um começo, será porque as sociedades reconheceram – finalmente – que nenhuma paz vale o preço de uma única vida injustamente tirada.
O Estado moderno, com sua bandeira e seu hino, nada mais é do que a estilização do crime fundador que o originou. No Antropoceno, esse crime se torna universal: não se trata mais apenas de povos ou raças, mas das espécies e da Terra como vítimas. Gaza é o laboratório desse novo pacto entre tecnologia e morte: onde o Estado legitima sua violência com a palavra “segurança”, e o planeta paga seu preço em corpos e desertificação.
*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires.
Tradução: Artur Scavone.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A