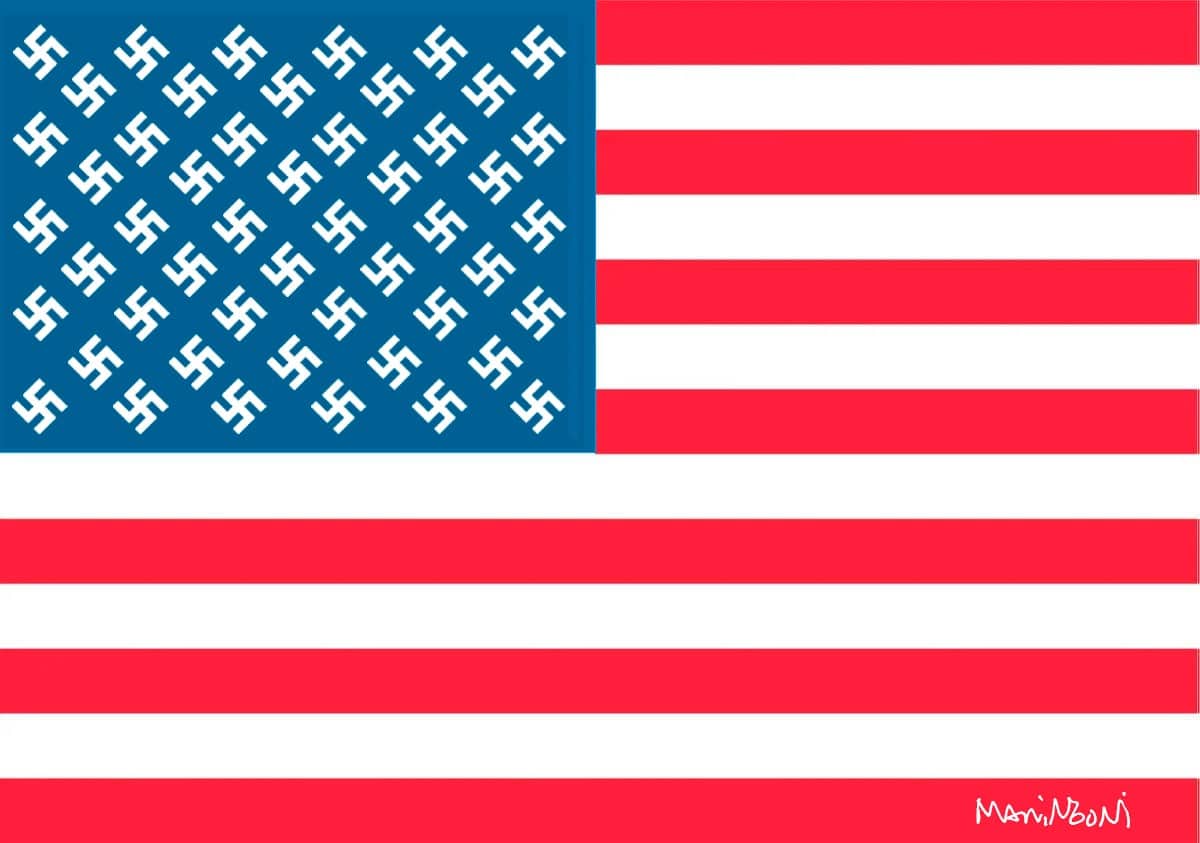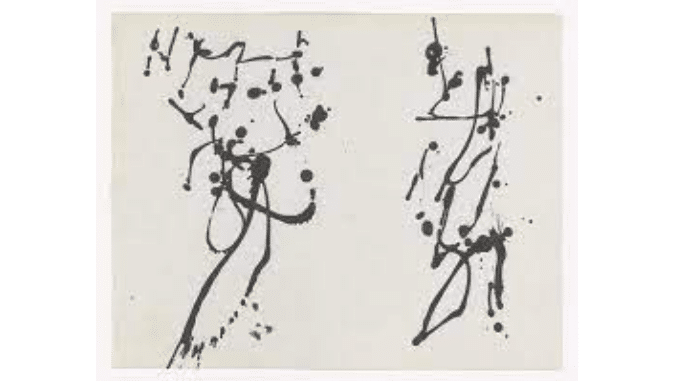A estátua de José de Alencar, hoje testemunha silenciosa de um acidente banal, é o emblema perfeito de como a cidade devora sua própria memória, transformando o legado cultural em mera rotatória de trânsito
Para Cynthia, carioca querida.
1.
Na semana que encerrou o ano de 2025, um poste de luz de tráfego caiu em cima de um carro que estava estacionado no balão que liga a rua conde de Baependi e a rua do Catete, no Rio de Janeiro. Quem passasse pelo local, além do trânsito e das buzinas de motoristas enfurecidos, se veria com uma acumulação de curiosos que estavam ali, tirando fotos do acontecido e boquiabertos com a situação.
O entroncamento une mais três ruas, além destas duas: a rua marquês de Abrantes, a rua senador Vergueiro e a rua barão do Flamengo. A região é bastante movimentada usualmente, além do altíssimo fluxo de carros e ônibus, há os transeuntes a pé e de bicicletas aos montes, que passam pelas barracas diversas que ocupam a rua do Catete e o largo do Machado; além disso, é ali também que está o Detran-RJ e a estação de metrô do largo em questão.
No mais, há a famosa feirinha do Catete que hospeda diversas lojas pequenas muito variadas, que vão de sapateiros, brechós, pequenos restaurantes a lojas de bugigangas para celular – na esquina onde caiu o poste há uma pequena loja de roupas e usados ao lado de um cafezinho, e, logo vizinho uma frutaria e mais um prédio residencial chamado hoje de edifício conselheiro Bento Lisboa.
O que pouco se presta atenção ao passar por ali é que na rotatória da rua há uma estátua de bronze, cujo homenageado dá nome à praça: José de Alencar. A figura é bastante conhecida para qualquer frequentador do ensino básico brasileiro, e já deve ter passado aos ouvidos dando arrepios àqueles que temiam as aulas de português, quando se falava de romances como Iracema, Senhora e O Sertanejo.
O nosso ensino básico prestou (como é comum) a este trabalho: incutir medo e destruir a experiência literária de muitos, dando a um clássico da literatura nacional uma pecha de “leitura difícil”, “entediante” ou algo que valha assim. Hoje José de Alencar é apenas um nome que circula nos nossos livros didáticos, contando somente dos leitores (quando muito) que se interessem pelos estudo em nível superior da literatura brasileira do século XIX; sua figura sentado na poltrona de bronze é uma memória longínqua, esquecida na praça a que ele dá nome.
A estátua tem uma história interessante, que caminha junto com as transformações da cidade do Rio de Janeiro. A ideia de sua construção veio não da Academia Brasileira de Letras, afinal, quando esta foi aberta, a estátua tinha já sido inaugurada; também não foi uma inspiração dos homens de letras do Rio de Janeiro, nem do Ceará, terra natal do escritor – foi de uma empreitada de redatores de um jornal de Campanha, interior de Minas Gerais, pequena cidade próxima de Varginha.

Com uma arrecadação de dinheiro para pagar o artista, o famoso escultor Rodolpho Bernardelli, a estátua começou a ser construída por volta de dezembro de 1891, e inaugurada em 1º de março de 1897. Na ocasião da colocação de sua primeira pedra, discursou no lugar Machado de Assis, então o mais notável intelectual brasileiro da época (que hoje, vejam, dá nome para uma rua próxima, onde se guarda uma módica e tímida placa de bronze com seu nome em frente a um estacionamento); naquele momento já autor das Memórias póstumas de Brás Cubas, do Quincas Borba e um sem número de crônicas, contos e poesias.
Na ocasião, Machado de Assis reparou que a passagem do tempo fazia com que se esquece das coisas, mas que “a consciência humana diz-nos que, no meio das obras e dos tempos fugidios, subsiste a flor da poesia”, e que a obra de José de Alencar tinha algo de especial: “nenhum escritor teve em mais alto grau a alma brasileira. E não é só porque houvesse tratado assuntos nossos. Há um modo de ver e de sentir que dá a nota íntima da nacionalidade, independente da face externa das coisas”.[i]
Vinte anos depois de sua morte, na inauguração de fato da estátua, Machado de Assis estava ali também, mas não discursou. Como menciona o cronista anônimo na Gazeta de Notícias, naquele dia de sol e intenso calor, “na turba-multa dos que aclamavam Alencar, houve alguém que não falou, mas cuja presença era ali um exemplo e uma lição: Machado de Assis, herdeiro do bastão de maioral das nossas letras”.[ii]
Os discursos foram feitos na ocasião pelo presidente da República, Prudente de Morais,[iii] o prefeito do Distrito Federal Francisco Furquim Werneck de Almeida e os poetas Coelho Neto e Olavo Bilac; todos inflamando a figura de José de Alencar, sendo que os escritores lamentam afetadamente – com o típico gosto parnasiano de citar acontecimentos e personagens da Grécia Antiga – o estado das letras brasileiras esquecidas pelo público.
Olavo Bilac termina seu discurso sugerindo que a inauguração da estátua poderia ser, talvez, o início de “uma era nova de florescimento intelectual” e que “já agora é possível que a profissão das letras mereça mais respeito, uma vez que o povo está vendo que um homem de letras merece também a homenagem devida aos heróis e aos benfeitores da pátria”.[iv]
Não contava Olavo Bilac com um poste de tráfego caindo num carro, porém.

2.
Há outra história interessante ainda que circunda a praça José de Alencar. Ao seu fundo ficava naquele tempo um hotel, pioneiro no Brasil, fundado no final dos anos 1840. O Hotel dos Estrangeiros era um estabelecimento fino, que hospedou figuras notáveis que estiveram pelo Rio de Janeiro durante o século XIX e início do século XX. Príncipes, presidentes, condes; pessoas ricas de toda a parte ficavam por lá, para ver as figueiras plantadas à sua frente.
No Memorial de Aires, pouco depois de se casarem, o casal Fidélia e Tristão, vindos de Petrópolis, ficam de visitar os velhos parentes Campos e Aguiar e decidem se hospedar no Hotel dos Estrangeiros. O conselheiro Aires, redator do diário, menciona que os encontra ali no dia de são João, e que saiu “com eles até o hotel; dali seguiu Campos para o Botafogo e vim eu para o Catete”.[v] Como sabemos, são os personagens do livro pessoas ricas do Rio de Janeiro do fim do Império, proprietários de escravos; exemplares típicos de gente que se hospedava no hotel.
À altura da escrita do romance, que é o último de Machado de Assis, passava uma linha de bonde onde é a rua do Catete, e a vista do hotel dava para o Pão Açúcar entre dois casarões, num caminho que dava para a orla. Hoje, mal se pode discernir qualquer coisa desta natureza; afinal, a região é tomada por prédios altos e comércios genéricos. No fim do ano, ainda, a região é tomada por turistas, e, por isso mesmo, tende a ficar mais movimentada do que já é. Sabemos que o Hotel foi vendido e demolido no início dos anos 1950, cerca de um século depois de sua abertura. A estátua de José de Alencar ainda está lá, mas é tão inofensiva quanto a memória de um velho hotel.
Há um hábito no Brasil que o Rio de Janeiro se fez mestre e exemplo, e este último romance de Machado de Assis fala sobre isso na voz do conselheiro. Desde pelo menos os tempos do início da República, há um hábito de derrubar tudo, e, sobretudo, de se esquecer da história sob a ladainha de sempre do “progresso”.
Mas deveríamos saber o que significa progresso entre nós. As transformações urbanas do Rio de Janeiro foram, como bem se sabe, um projeto higienista e autoritário, marcado sobretudo pela exclusão e violência. Não se trata, obviamente, de glorificar um passado fundamentado pela escravidão, mas seria o caso de pisarmos o chão com mais cuidado, e olhar os prédios como quem pudesse ver o que António Vieira dizia de Roma: um sepulcro de si mesma.
*Guilherme Rodrigues é professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo (USP).
Notas
[i] Assis, Machado de. Obra completa em quatro volumes, v. 2. São Paulo: Globo, 2015, p. 569.
[ii] in: Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, ano XXIII, n. 122, 02/05/1897, p. 1.
[iii] Vale a observação de como Prudente de Morais andava nessa época às voltas com a Guerra de Canudos. Poucos meses antes, em março, o governo recebia a notícia da derrota de Moreira César na Bahia, fato que terá enorme repercussão na capital da República. Machado de Assis havia publicado no fim de janeiro uma crônica na sua série A semana — na mesma Gazeta de Notícias —, em que fazia um “protesto contra a perseguição que se está fazendo à gente de Antônio Conselheiro” (Assis, Machado de. Obra completa em quatro volumes, v. 4. São Paulo: Globo, 2015, p. 1273) pois dele nada se sabia; Euclides da Cunha, como se sabe, escreverá na mesma época, em março, as suas crônicas sobre Canudos. Como será relatado no quarto capítulo da terceira parte d’Os sertões, Cunha observa que o rompante alucinado contra os conselheiristas tomou o presidente da República, que dizia que eles estavam “preparados, tendo todos os meios para vencer, seja como for contra quem for”; e que “na primeira cidade da República, os patriotas satisfizeram-se com o auto-de-fé de alguns jornais adversos, e o governo começou a agir. Agir era isto — agremiar batalhões” (Cunha, Euclides da. Os sertões: Campanha de Canudos. São Paulo: Ubu, 2016, p. 333).
[iv] in: Gazeta de Notícias, loc. cit.
[v] Assis, Machado de. Obra completa em quatro volumes, v. 1. São Paulo: Globo, 2015, p. 1289.