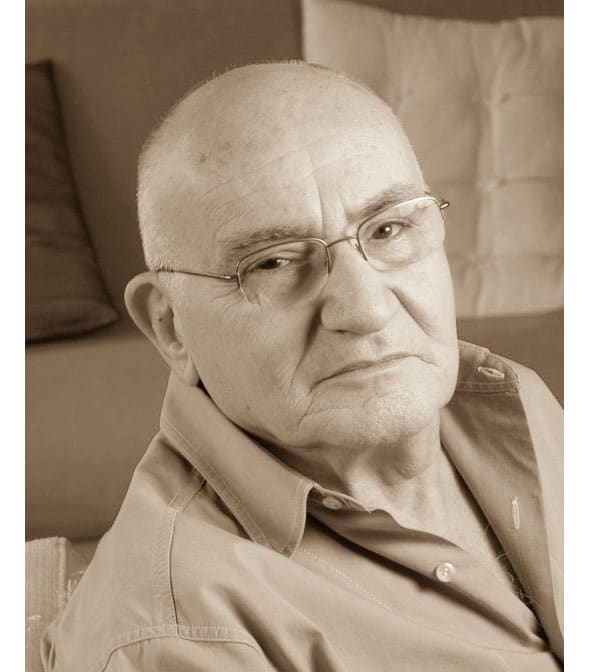Por FLÁVIO R. KOTHE*
Considerações sobre a arte contemporânea
A arte hoje não se define mais como aparição sensível da ideia ou da verdade. Ela não diz mais. No máximo, sugere. Isso quer dizer que sua significação é algo que apenas se acena de longe pelos significados postos e propostos pela obra. Ela é antes ausência que presença, antes um balbuciar do que uma fala.
Como diz Paul Celan:
“NENHUMA ARTE DE AREIA MAIS, nenhum livro de areia, mestre nenhum.
Nada de lance de dados. Quantos
mudos?
Dez e sete.
Tua pergunta – tua resposta.
Teu canto, o que sabe?
Fundonaneve,
Uonaeve,
U – e – e”.
A arte feita de areia está predestinada a se decompor e desaparecer. A areia que escorre na ampulheta é o transcurso do tempo, mas deste nada mais resta que valha a pena ser citado. Mestres também não há mais. A aposta que ainda havia no “Un coup de dés” de Mallarmé era de que algo ainda poderia ser dito: um lance de dados jamais abolirá o acaso. Mais literalmente se teria de dizer “jamais abolirá o azar”, ou seja, sempre haverá azar, acaso negativo. Em cada lance de dados sempre se está sujeito ao acaso, nem tudo é planejável, nem tudo está sob controle da vontade.
O dado tem seis lados, vai de um a seis na pontuação. No céu há a constelação das Plêiades, conhecidas por Sete Estrelo, com a sugestão de que, além das seis estrelas visíveis, haveria uma sétima que só seria às vezes perceptível a raras pessoas de olhar mais aguçado, como se fosse ela o índice de um milagre. Essa mística se resolve hoje com um telescópio. O que ele não resolve é a incapacidade humana de perceber e conceber os espaços infinitos.
A pergunta sobre “quantos mudos” poderia ser lida como acenando a pergunta “quantos mundos”? Quantos ficaram mudos, quantos foram emudecidos? Vem um número, 17, mas sob a forma de dez e sete, dois números de tradição mística, um somando os dedos para a contagem decimal que tudo pretende calcular, o outro somando os dias da semana, os dias da criação do universo, as sete artes, o quadrivium somado ao trivium no sistema educativo medieval. Claro é que um direitista fanático veria aí a profecia do advento de um messias, algo sem fundamento no poema.
Há um emudecimento da fala. Não se tem mais nada a dizer, pois tudo o que se dissesse iria servir para edulcorar, embelezar aquilo que impõe o silenciamento. Há uma perda de linguagem, há a perda de mundos, de voos de cisnes que já não se fizeram mais. O que resta de linguagem é apenas o que testemunha essa desaparição.
A pergunta não é mais formulada como tal, apenas se constata que poderia haver uma pergunta, como também uma resposta. Não há pergunta expressa, não se expressa uma resposta. Nenhuma se transcenderia. Não se saberia o que seria uma ou outra. Poderia ser uma pergunta qualquer para uma resposta qualquer, nada avançaria. Na pergunta “teu canto, o que sabe?” tem-se apenas a pergunta e o aceno de uma resposta. Aponta para algo “fundo na neve”. O que fica enterrado sob a neve?
Na palavra “Fundonaneve” tem-se uma não-palavra por falta de espaço e silêncio entre as palavras. O sentido passa a gerar-se a partir de uma reposição desse vazio. A partir da sombra, do não dizer, do não iluminado, passa a se gerar alguma iluminação. Busca-se um sentido a partir da ausência de sentido, a partir do absurdo. O que se gera não é, no entanto, uma linguagem sensata, compreensiva, como seria “fundo na neve”. A tradução em português permite algo que não existe em “Tief im Schnee”: Fundo pode significar tanto profundo na neve como também “eu fundo na neve”, ou seja, funda-se no soterrado e escondido uma arte que diz o lado obscurecido da história. A neve é branca, como se fosse uma cor feita da ausência de cor ou da conjunção de todas as cores. Ao fundar algo na neve, pode-se aprofundar o sentido da história e se perguntar se ela tem sentido. Toda corrente política acha que ela tem, mas ela feita por “ceguidores”, por seguidores cegos. São prisioneiros da sinédoque que eles mesmos não percebem.
A poesia de Celan se concentra nos judeus que morreram sob o nazismo, mas eles não foram os únicos assassinados em campos de concentração nem os únicos mortos da Segunda Guerra. Os russos tiveram as maiores perdas. Haveria milhões de outros mortos em outras guerras e regiões que talvez não preocupassem tanto o poeta, mas poderiam ser subsumidos nos poemas. Por exemplo, os índios mortos na América Latina sob o Tratado de Madri, os armênios mortos pelos turcos, os massacres nas colônias belgas, inglesas, alemãs na África, os palestinos mortos pelos israelitas. Poderiam ser lembrados também os êxitos dos homens, em vez de destacar suas tragédias.
Mesmo que Celan se preocupasse, sobretudo, com os judeus vitimados pelo nazismo, esta parcela poderia ser índice de algo maior: fica implícito, no entanto, que o percurso de toda a história passa por esse funil eurocêntrico, desconsiderando outras etnias e populações também perseguidas e maltratadas. É como se a poesia de Celan fosse o espírito absoluto de Hegel, em função do qual tudo teria de ser julgado. Um período se torna absoluto. Não quer ver outros percursos, outros caminhos. A noção de um Espírito Absoluto, pelo qual fluiria e confluiria a história, parece conter uma transposição do divino para o humano, como Cristo teria sido. Pressupõe que se acredite nos dogmas aí subjacentes. Eles continuam a vigorar quando se fica preso ao esquema, mesmo que sob forma laica.
Hegel podia ter a pretensão de ser o espírito absoluto. Em sua Estética montou um esquema de gêneros artísticos e épocas que tem sua lógica interna, ela permite que se tenha uma visão que parece abrangente da história, mas só entra na história aquilo que o seu olhar abrange. Assim, começa a história da arquitetura com as pirâmides egípcias para acabar nas catedrais românicas, mas nesse esquema fica fora a arquitetura da China, do Butão, da Índia, do Japão, como também o arranha-céu feito no século XX. Deixa de fora a dança: pode-se supor que ela seria escultura em movimento, mas quem dança percebe que há muitos passos que não fazem parte de uma pose escultural. Hegel não conheceu o cinema, mas este só desenvolveu sua linguagem própria quando deixou de ser apenas teatro filmado, desenvolvendo técnicas como a movimentação da câmera e a montagem.
Quem cala, consente. A não ser que expresse seu não consentimento ao registrar que está sendo calado, que não haveria mais nada a dizer. Nada dizer é, no entanto, deixar que a tirania aja sem uma voz que a enfrente. O horizonte da poesia se coloca, no entanto, no além do espaço ocupado por causas políticas imediatas. O que se manifesta no poema deve ser algo que transcenda todas elas.
A pergunta é saber se a poesia de Mallarmé ou Celan vai para essa transcendência. Se parece que sim, isso tem demandado, no entanto, uma linguagem tão cifrada, tão difícil que parece formar-se pela negação da comunicação. Ela é o oposto da linguagem jornalística, embora o “Un coup de dés” tenha sido inspirado na tipografia dos jornais, ou seja, ter manchetes em letras maiores, subtítulos um pouco menores e depois o grosso do texto em caracteres legíveis, mas pequenos. Essa distribuição gráfica correspondia também ao princípio sinfônico de um tema principal, temas secundários e variações em torno deles.
O que aqui importa é que a encenação da obra encena uma figura virtual, que é aquilo que a obra realmente quer configurar. É algo sugerido pela obra, está contido nela, mas ela não se confunde com ele, embora se funde com ela, se afunde nela. É a sugestão de uma ausência que é presentificada, como uma sombra que acompanha a obra, é seu sentido como também sua negação. O poema hermético radicaliza essa operação, pois o que ele institui é tão fragmentado, tão elíptico, que fica mais a caminho da não linguagem do que da expressão clara de algo.
Há, portanto, uma contradição na linguagem da arte: ela se faz entre querer dizer e não poder dizer, entre sugerir o que não consegue dizer e a necessidade de ir além da vaga sugestão. Surge então a pergunta se, a pretexto de ultrapassar a tradição metafísica, não se recaiu novamente na estética da alegoria, em que se teria a representação concreta de uma ideia abstrata, um produto a acenar algo divino. Em vez de progredir se recairia no mesmo, que retornaria sob a aparência de ter superado a duplicação metafísica, de não ter retornado ao mesmo.
*Flávio R. Kothe é professor titular de estética na Universidade de Brasília. Autor, entre outros livros, de Ensaios de semiótica da cultura (UnB).