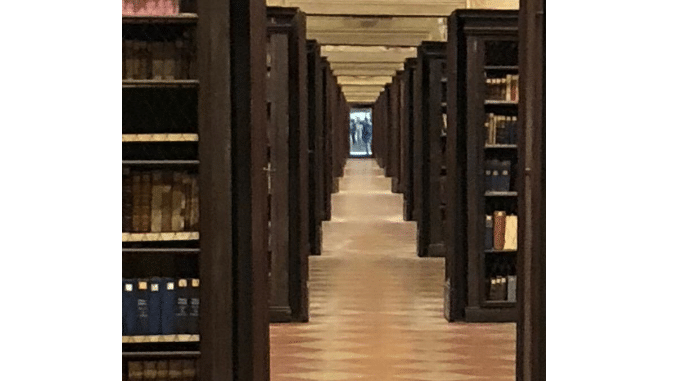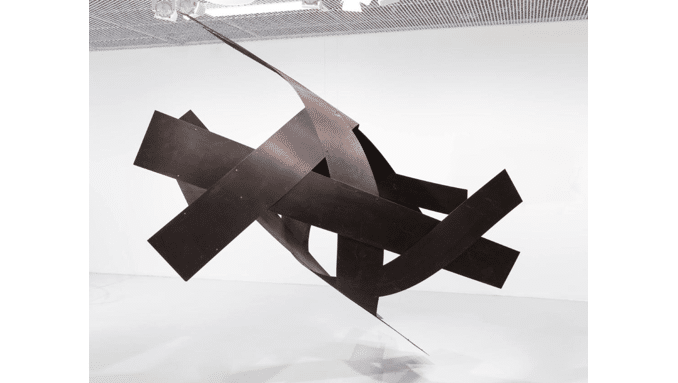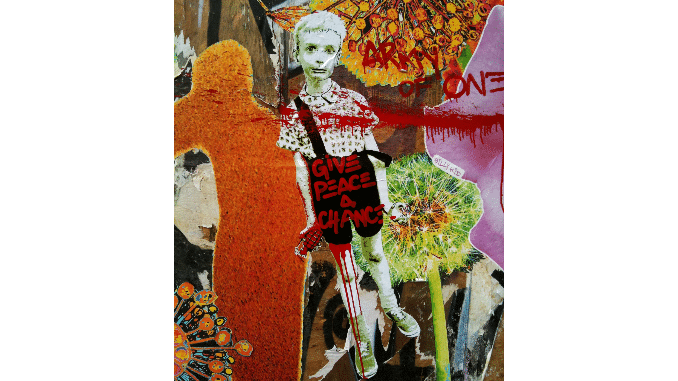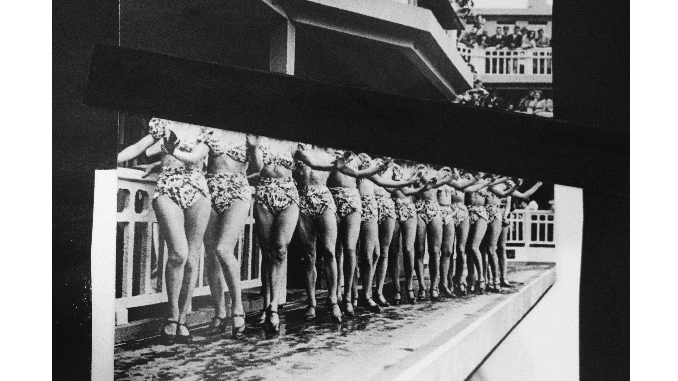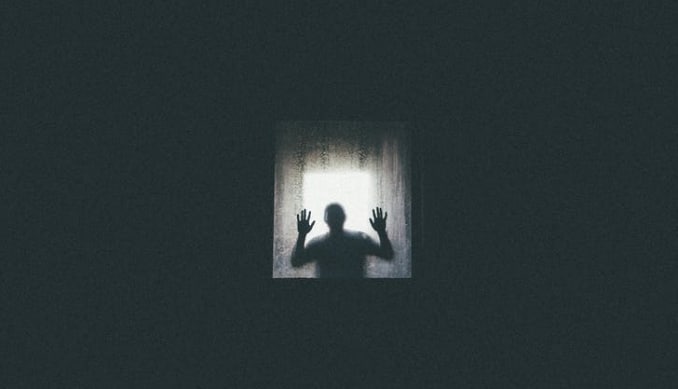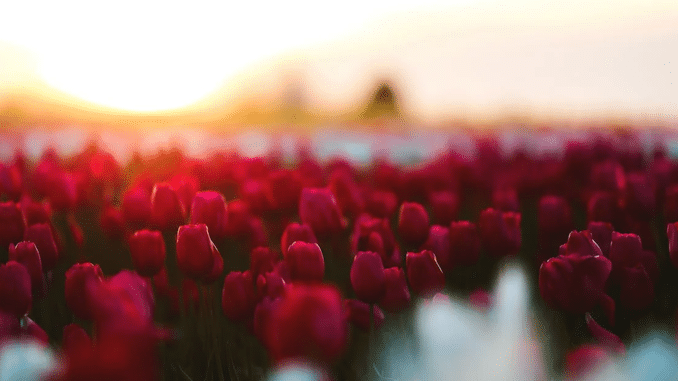Por FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA*
Surge um candidato, na Argentina, com a noção de “imolar-se pela liberdade” como um significado literal de propor a morte como salvação
No livro Que é o peronismo?, Alexandre Crimson distingue três níveis de análise para compreender situações políticas. Essas três dimensões constitutivas se confundem. Em primeiro lugar, existem os atores políticos. A rigor, são os líderes ou forças capazes de liderar uma situação, com os seus capitais eleitorais e políticos, as suas capacidades de influenciar os acontecimentos no curto e médio prazo.
Em um extremo, poderá haver governos poderosos com oposições dispersas. Em outro cenário extremo, há governos com pouco capital político e com uma oposição se preparando para governar.
Em segundo lugar, de forma relativamente autônoma, existe a relação de forças entre componentes sociais. Na linha tradicional, seria a “relação de forças entre as classes”. Continua válida, mas não é exaustiva, porque hoje há vários movimentos sociais identitários como o feminismo, os povos originários, os movimentos pelos direitos humanos, ambientais, estudantis, LGBTQI, entre outros.
A capacidade de um governo impor um plano, bem como a capacidade de mobilização social para ampliar direitos ou enfrentar determinada medida, não derivam de identidades políticas, mas sim dessa relação de forças.
Em terceiro lugar, há disputas sobre o senso comum da população. Ao mesmo tempo, elas são cruciais na definição das relações de força para alcançar e manter o poder.
A dinâmica política de qualquer situação histórica é o resultado do entrelaçamento destas três dimensões, além dos processos econômicos e das tendências internacionais. Assim, a emergência do peronismo implica uma mudança simultânea nos três: (i) nas relações de força, (ii) nos sensos comuns e (iii) nas identidades políticas.
Por fim, cabe alertar a relação dos intelectuais com o peronismo foi mudando ao longo do tempo. Em mais de setenta anos, os peronistas e os antiperonistas adquiriram “mil faces”. Mesmo com múltiplos significados (e apesar deles), o populismo peronista emergiu na Argentina em diferentes situações como linguagem e identificação de reagrupamento de oposição ou organização governamental.
Já o livro Breve Historia del Antipopulismo: Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri (Siglo Veintiuno) de autoria de Ernesto Semán contrasta com a visão neoliberal dos críticos sistemáticos do populismo. Essa postura crítica descende de “um passado perpétuo”.
Vem de longe a obsessão das autoridades e das elites políticas ou religiosas com as “forças obscuras” capazes de colocar em risco a harmonia da Nação ao sair do controle e romper o equilíbrio interno em busca de maior participação das massas nas decisões políticas, na ampliação de direitos ou na distribuição da riqueza. A ideia de barbárie sempre apareceu na linguagem de quem promete corrigir esses desvios “populistas”.
Recentemente, Mauricio Macri foi o primeiro representante das elites argentinas a vencer eleições democráticas. Governou durante quatro anos (2015-2019) com lealdade suicida ao mandato de corrigir o pecado original da política de massas com uma agenda antipopulista e neoliberal.
A questão central deste ensaio de Ernesto Semán é como, no último meio século, uma forma específica de antipopulismo, com uma carga neoliberal e conservadora, prevaleceu sobre as restantes. Ela se baseou (e deformou) uma extensa tradição de concepção de formas políticas nas quais os gaúchos ligados à pecuária, os trabalhadores manuais ou os pobres teriam uma inserção no sistema, caso essa inclusão não colocasse a liderança das elites em risco.
Após as ditaduras militares, outras críticas ao populismo – e ao peronismo em particular – perderam destaque ou relevância na discussão nacional. Afinal, o antipopulismo se tornou quase sinônimo de parte do liberismo econômico (neoliberalismo) argentino.
Ernesto Semán afirma: “o ‘populismo’ quase nunca foi uma identidade adotada por algum projeto político, mas sim a combinação de uma descrição, uma categoria e uma acusação contra formas específicas de imaginar a relação entre política e sociedade. Hoje é, acima de tudo, um conceito utilizado mais como arma em vez de ser como categoria de análise”.
Com exceções isoladas, entre as quais se destaca a obra de Ernesto Laclau – onde é apresentado com o significado de uma legítima demanda social –, “populismo” significa acima de tudo “um problema a ser resolvido”.
Além da forte representação personalista – “falar em nome do povo” – todos procuravam uma melhor participação das camadas sociais mais negligenciadas nos resultados da modernização industrial al da economia dentro dos limites do capitalismo do pós-guerra. Todos atenderam à essa demanda social com instrumentos semelhantes: (a) forte intervenção do Estado na economia, (b) nacionalizações, (c) mais e melhores regulamentações trabalhistas, (d) expansão dos benefícios sociais e econômicos, (e) ampla presença dos sindicatos e (f) um controle do líder populista sobre as organizações políticas e sindicais de apoio.
Esses “governos populistas” formaram-se em torno de coligações multiclasses: combinavam, pragmaticamente, doses de confronto e negociação.
No centro ideológico do populismo latino-americano está a noção de direitos sociais: (1) a crença de certos grupos terem sido sistematicamente privados dos benefícios econômicos da nação, (2) o governo, compensatoriamente, deve fornecer benefícios, garantias e direitos adicionais a esses grupos, (3) o reconhecimento dos direitos e das qualidades individuais dos seus membros e do desempenho econômico de seus trabalhos.
No caso do populismo latino-americano, estes direitos sociais foram pensados como uma forma de aceitar o destaque dos trabalhadores na sociedade e o poder da sua representação sindical na política. Alia-se ao ideário da socialdemocracia europeia.
Cinco ideias percorrem este ensaio de Ernesto Semán para questionar essa normalidade “antipopulista”. O argumento central é a Argentina se basear na invenção de um mundo plebeu ameaçador e na promessa da elite se defender dessa ameaça.
Em segundo lugar, a pré-história do antipopulismo é tão importante quanto a sua própria história. É organizado em torno de uma ideia de um passado com recusa a desaparecer e em busca de reviver teimosamente no presente, deformando-o.
O terceiro elemento é o caráter transnacional do antipopulismo como identidade política. Da visão preconceituosa de fora sobre o que Perón representava, tiraram-se conclusões sobre o que na Argentina não deveria acontecer.
O quarto tema, a articulação capaz de unir o populismo argentino ao mundo, é o conceito de transição. Trata-se da ideia de, em diferentes momentos, as massas precisam de alguma forma de orientação para evoluir de forças sociais para sujeitos políticos.
Finalmente, encara dois paradoxos. Um é o antipopulismo ter se tornado mais forte quando o populismo, como experiência histórica, desapareceu juntamente com a sociedade industrial na qual germinou. Outro, na direção oposta, a partir da década de 1980, alguns legados do populismo do pós-guerra teriam sido combinados com a luta social da geração 68 para produzir o complexo direitos humanos-direitos sociais – e esta pauta identitária se tornou o verdadeiro inimigo contemporâneo do antipopulismo.
Desde 1983, quando ditadura argentina terminou com a eleição de Raúl Alfonsín, o antipopulismo passou a proclamar a Argentina estar contra o tempo e o mundo. O triunfo de um consenso profundamente neoliberal seria a única atualização possível.
A reivindicação do indivíduo como sujeito político por excelência e como agente econômico racional capaz de progredir através do mérito e da razão deixou de ser uma alquimia. Tornou-se uma agenda com medidas concretas para destravar a Argentina.
Mauricio Macri e seu movimento político Cambiemos já haviam encontrado um universo de empatia com Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil.
Se os Estados Unidos e o Brasil mostraram as formas psicopáticas desse triunfo da aliança entre o neoliberalismo e a extrema-direita neofascista, infelizmente, também deixaram claro: afinal, era possível… Daí surge um candidato, na Argentina, com essa noção de “imolar-se pela liberdade” como um significado literal de propor a morte como salvação.
*Fernando Nogueira da Costa é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Brasil dos bancos (EDUSP). [https://amzn.to/3r9xVNh]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA