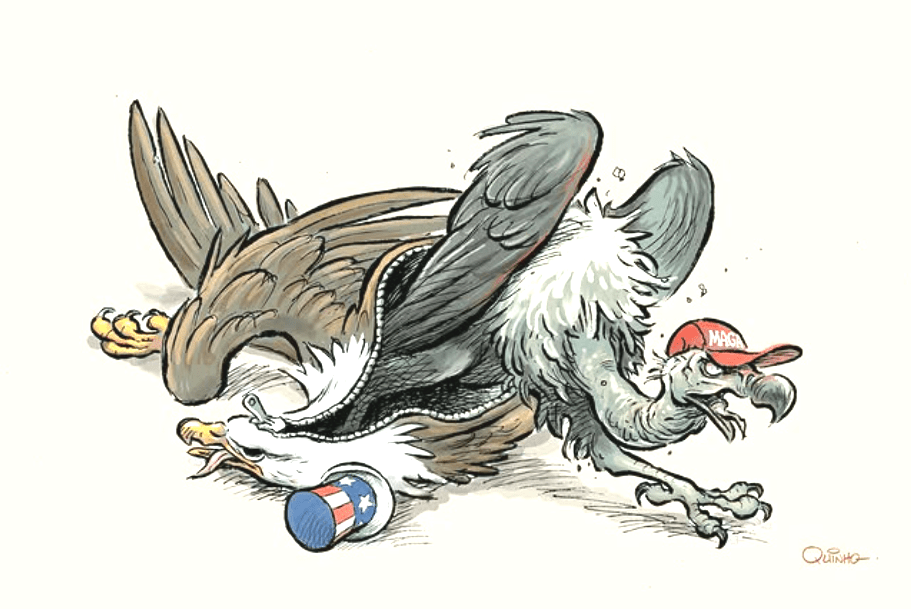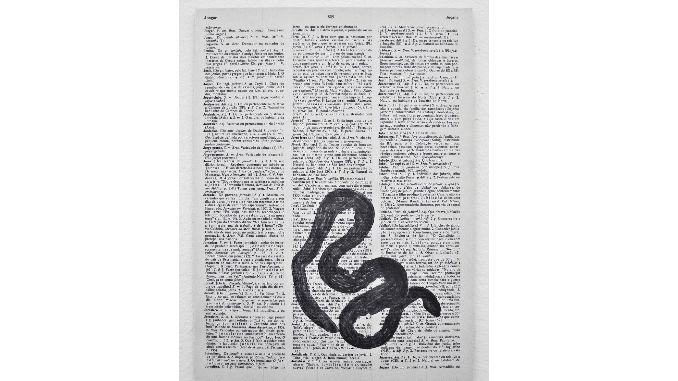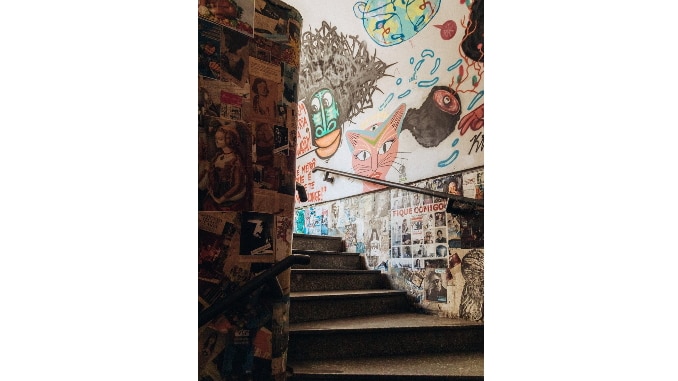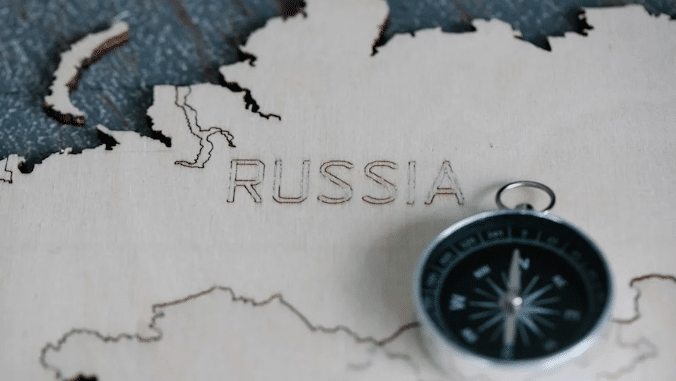Por EUGÊNIO BUCCI*
O que chamamos de natureza é, com frequência, apenas o reflexo distorcido de nossa própria ideologia, um espelho que devolve a imagem do capital
1.
Quando você olha para uma árvore, o que vê?
A pergunta, embora soe brincalhona, carrega uma gravidade de todo tamanho. Eu a formulo a propósito da COP30, que se aproxima da agenda global na forma de um rio intermitente, de águas débeis e incertas. Às vezes, esse rio figurado parece fluir: o número de países com presenças confirmadas na Conferência já teria alcançado o quórum exigido pela ONU.
Outras vezes parece secar: não haverá vagas para as delegações nos hotéis inflacionados de Belém, e muita gente não sabe até agora se poderá vir ou não. Em resumo, pelo menos até agora, só uma coisa é certa: não existe nada certo.
Os sentidos se embaralham. É como se a desorganização caótica quisesse nos dizer alguma coisa. Uma trama inusitada, tecida no coração da selva, lança um recado para a civilização. Essa confusão orgânica, esse sopro de desgoverno e de imprevisibilidade congênita delineia, um pouco sem querer, o ecossistema indisciplinado que reivindica visibilidade.
A floresta e seus povos se insinuam para lentes diplomáticas, mas logo saem de foco. Existe algo ali para ser compreendido, mas os protocolos multilaterais não conseguem divisar esse estranho “algo”. O que nos traz de volta à indagação inicial: o que os protocolos veem quando olham para uma árvore?
2.
Insisto: como a cultura dita “ocidental” enxerga essa entidade exterior e torturantemente real a que damos o nome de natureza? As respostas mais eloquentes nos chegam da indústria do entretenimento. Prestemos atenção a uma das séries de maior sucesso na Netflix, A vida no nosso planeta.
Em oito episódios, o documentário, que foi lançado em 2023 e teve Steven Spielberg como produtor executivo, é um requinte em matéria de efeitos especiais sobre pré-história, erupções vulcânicas e bichos em geral. Os organismos unicelulares e os olhos baços do Tiranossauro Rex aparecem em tomadas de um hiper-realismo sintético.
O show de imagens faz cintilarem o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral em cores e movimentos jamais vistos. Os pinguins mergulham como se dançassem, os pterossauros flanam como plumas, o canino do leão da caverna traz o resto de sangue do filhote de mamute abatido. As sequoias, sempre elas, sobem para o céu deixando as câmeras para baixo.
A exuberância assoma. Mas, espetáculo à parte, será isso a natureza? Creio que não. Logo no primeiro episódio, a voz do narrador Morgan Freeman estabelece as três regras para a vida no planeta, segundo o entendimento dos roteiristas: o mais apto sempre vai prevalecer, o ambiente pode agir contra ou a favor a sobrevivência de todos os seres e, por fim, o que move a evolução é a competição.
As regras podem ser convincentes, admito, mas, não, isso não é a natureza. Isso está mais para as premissas de planejamento estratégico não do reino animal ou vegetal, mas do reino empresarial.
A superprodução A vida no nosso planeta não descreve o bico do beija-flor ou as ondulações das águas-vivas – descreve o mercado por meio de aves e medusas. O documentário fala mais sobre o modo como o capitalismo vê a si mesmo e fala menos sobre a vida na Terra.
Quando discorre sobre os cataclismos que despejaram magma sobre continentes inteiros, a série parece aplicar sobre a paisagem a famigerada matriz SWOT: tudo é uma questão de avaliar os riscos e as oportunidades.
Quando celebra os animais que proliferaram mais, parece falar de market share. E, ainda por cima, há o belicismo desembestado. As metáforas de guerra – tão comuns no linguajar dos CEOs, que adoram assediar um “público-alvo” – dominam a narrativa. A evolução da fauna e da flora, nas modulações vocais de Morgan Freeman, é a terceira guerra mundial sem trégua à vista.
3.
Não, o nome disso não é natureza. O nome disso é ideologia. O entretenimento, quando fala da evolução da vida, fala do capital. Com a ciência é assim também. Com a medicina, igualmente: as regras de higiene têm mais de repressão sexual do que de limpeza.
Quando leu Charles Darwin, o psicanalista francês Jacques Lacan anotou que o gênio evolucionista tinha “projetado as predações da sociedade vitoriana” em seus escritos. No artigo chamado “A agressividade em psicanálise”, Jacques Lacan disse que Charles Darwin justificava “a devastação social em escala planetária” por meio da “imagem de um laissez-faire dos devoradores mais fortes em sua competição por sua presa natural”.
Charles Darwin olhou para Galápagos e viu a luta de classes. O entretenimento, o porta-voz (e a porta-bandeira) da tecnociência, olha para uma árvore e, sobre a folhagem, não vê nada além de uma projeção de si. E você, o que vê?
A pergunta se mantém, pois é boa e pertinente. Mas, talvez, ainda melhor do que ela, ainda mais grave, seja uma outra. A interrogação mais decisiva, a essa altura, é a inversa. O que será que sente uma planta – uma samambaia, um pé de jaca, um pau-brasil ou a monumental sumaúma – quando você se aproxima dela? O que pensa um vegetal? Qual a opinião das gramíneas sobre as nossas solas de sapato? Se conhecêssemos a resposta, o mundo seria outro.
*Eugênio Bucci é professor titular na Escola de Comunicações e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de Incerteza, um ensaio: como pensamos a ideia que nos desorienta (e oriente o mundo digital) (Autêntica). [https://amzn.to/3SytDKl]
Publicado originalmente no jornal O Estado de S. Paulo.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A