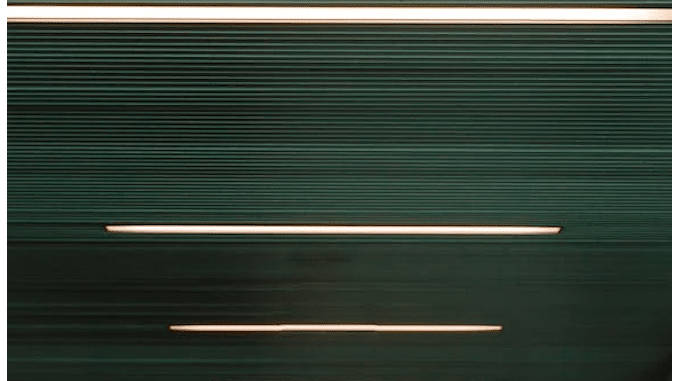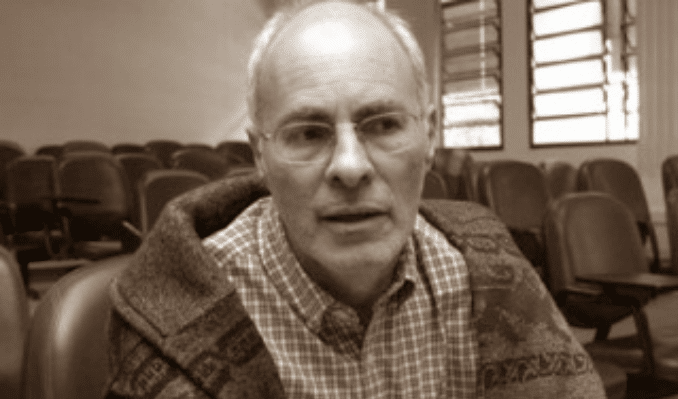Por BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS*
A prevalência atual do poder cru traz consigo um péssimo presságio e um enorme desafio para a democracia liberal
A discrepância entre princípios e práticas é talvez a maior especificidade da modernidade ocidental. Qualquer que seja o tipo de relações de poder (capitalismo, colonialismo e patriarcado) e os campos do seu exercício (político, jurídico, econômico, social, religioso, cultural, interpessoal), a proclamação dos princípios e dos valores universais tende a estar em contradição com as práticas concretas do exercício do poder por parte de quem o detém. O que neste domínio é ainda mais específico da modernidade ocidental é o fato de essa contradição passar despercebida na opinião pública e ser mesmo considerada como não existente.
Domenico Losurdo lembra-nos que os primeiros presidentes dos EUA, e nomeadamente os grandes ideólogos e protagonistas da revolução norte-americana (George Washington, Thomas Jefferson e James Madison), eram donos de escravos. Na lógica do liberalismo não havia contradição alguma. Os princípios universais da liberdade, igualdade e fraternidade eram aplicáveis a todos os seres humanos e só a eles. Ora os escravos eram mercadorias, seres sub-humanos. Contradição existiria se a eles fossem aplicados os princípios apenas aplicáveis aos seres plenamente humanos. Este mecanismo de supressão das contradições reside no que designo por linha abissal, uma linha radical que desde o século XVI divide a humanidade em dois grupos: os plenamente humanos e os sub-humanos, sendo estes últimos o conjunto dos corpos colonizados, racializados e sexualizados.
Se é verdade que a contradição entre princípios e práticas sempre existiu, ela é hoje mais evidente do que nunca. Saliento quatro áreas em particular: o Ocidente na nova guerra fria; o crescimento global da extrema-direita; a luta contra a corrupção; a captura de bens públicos, comuns ou globais por atores privados. Nesta crônica refiro as duas primeiras.
As potências rivais na nova guerra fria são os EUA e a China, sendo que cada um deles conta com um aliado de peso, a União Europeia, no caso dos EUA, e a Rússia, no caso da China. Tenho defendido que a rivalidade real é entre duas economias-mundo profundamente interligadas, mas com interesses de curto e médio prazos opostos: a economia-mundo do capitalismo das empresas multinacionais promovida pelos EUA e a economia-mundo do capitalismo de Estado promovida pela China. Como se sabe, não é assim que a rivalidade se apresenta na opinião pública internacional controlada ou influenciada pelos EUA.
A rivalidade é apresentada como ocorrendo entre regimes democráticos e regimes autoritários, entre a superioridade moral dos valores cristãos ocidentais do individualismo, da tolerância, da liberdade e da diversidade e os extremismos religiosos e ideológicos do Oriente. Esta formulação não deixa de ser intrigante. Ao longo de muitos séculos, os impérios ocidentais justificaram-se com valores universais que idealmente poderiam e deveriam ser adotados por todos os países do mundo. O império norte-americano foi o que levou mais longe este expansionismo ideológico através do conceito de globalização e da doutrina do neoliberalismo. Esse expansionismo foi em boa parte responsável pela rápida integração da China na economia mundial e nas organizações internacionais. Basta recordar a deslocalização de boa parte da produção industrial dos EUA para a China nos últimos trinta anos. A lógica era, pois, a da construção de um mundo globalizado, integrado no capitalismo multinacional e servido pelo capitalismo financeiro global ciosamente controlado por empresas norte-americanas.
Houve, sem dúvida, vozes discordantes, como a de Samuel Huntington no seu livro de 1996 sobre o choque das civilizações, em que se chamava a atenção para a futura ameaça de conflitos religiosos entre o judaísmo e o cristianismo, por um lado, e o islamismo, o budismo e o hinduísmo, por outro, e para a entrada em ação de atores não estatais. Esta tese só veio a adquirir maior aceitação depois do ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque em 11 de setembro de 2001, mas não alterou em nada a cooperação econômica com a China que continuou a aprofundar-se e a diversificar-se. Só em tempos recentes é que a China começou a surgir como o grande inimigo a abater ou a neutralizar.
A contradição reside entre o expansionismo globalizador das ideias no período ascendente do império norte-americano e a defesa do excepcionalismo ocidental, da especificidade ética do Ocidente contra um Oriente ameaçador. O paradoxo pode formular-se assim: a hegemonia ocidental consistiu em levar a globalização e o capitalismo a todo o mundo como prova da superioridade do Ocidente. E agora, que países não ocidentais adotaram a globalização e a promoveram segundo os seus próprios interesses, o Ocidente recua no seu impulso globalizante e entrincheira-se na defesa de uma especificidade ético-religiosa que mal disfarça a constatação de ter sido ultrapassado pelos países que seguiram com êxito a sua receita. O Ocidente globalizado defende-se agora enquanto Ocidente localizado, o que não deixa de ser uma prova de declínio à luz dos critérios que o próprio Ocidente impôs ao mundo a partir do século XVI. Lembremos que os povos indígenas da América Latina, ao defenderem os seus territórios e as suas riquezas contra os colonizadores, eram considerados pelo grande internacionalista espanhol do século XVI, Francisco de Vitória, como violadores do direito humano universal do livre comércio.
Esta contradição entre princípios e práticas – o sempre presente expediente de adaptar os princípios ao que é considerado mais conveniente ou útil pelas necessidades práticas do momento – tem na extrema-direita uma formulação particular. Tenha-se em mente que o crescimento da extrema-direita, apesar de ser um movimento global, assume especificidades muito acentuadas em diferentes contextos e países. Penso, no entanto, que os seguintes traços são bastante comuns. Por um lado, parece levar a contradição ao extremo ao defender no plano econômico o mais extremo individualismo neoliberal, enquanto no plano político, social e comportamental impõe um moralismo e um autoritarismo que mal se coadunam com a autonomia individualista. Por outro lado, detona a própria contradição entre princípios e práticas e justifica o poder cru das práticas ao demonizar os próprios princípios universais. É nesta última dimensão que a extrema-direita se afirma como corrente reacionária e não simplesmente conservadora.
É que enquanto os conservadores defendem os princípios do Iluminismo na formulação que lhes deu a Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade), ainda que privilegiem o princípio da liberdade, os reacionários da extrema-direita recusam esses princípios e coerentemente defendem o colonialismo, a inferioridade de negros, indígenas, mulheres e ciganos; justificam o trabalho análogo ao trabalho escravo; recusam ver nos povos indígenas e afrodescendentes outra coisa que não comunidades de sub-humanos a ser assimilados ou eliminados; boicotam a democracia inclusiva e pretendem instaurar ditaduras ou, quando muito, democracias que se restrinjam a “nós” e imponham a servidão aos “outros”; recusam a ideia do monopólio da violência legítima por parte do Estado e promovem a distribuição e venda de armas à população civil. À luz do que referi atrás, não surpreende, embora nem por isso seja menos perturbador, que uma das principais centrais de difusão da ideologia de extrema-direita esteja sediada nos EUA e que seja neste país que mais grupos de extrema-direita existem com mais influência sobre grupos similares noutras partes do mundo.
A prevalência e a maior visibilidade do poder cru sobre o poder cozido – o crescente apelo à eliminação do inimigo interno e a hiper-discrepância entre princípios e práticas – representam um decisivo desafio para a democracia. A democracia liberal foi sempre uma das expressões fundamentais do poder cozido nas sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais. Foi por isso que a democracia liberal se reduziu ao espaço público, deixando todos os outros espaços de relações sociais, tais como a família, a comunidade, a empresa, o mercado e as relações internacionais, entregues ao poder mais ou menos despótico do mais forte a que chamei fascismo social. Daí a minha conclusão de que, enquanto existirem capitalismo, colonialismo e patriarcado, estaremos condenados a viver em sociedades politicamente democráticas e socialmente fascistas.
Atente-se, porém, que, apesar de limitada, a democracia liberal não é uma ilusão. Sobretudo nos últimos cem anos, a existência de democracia no espaço político possibilitou a adoção de políticas públicas de proteção social (saúde, educação, previdência pública) e direitos trabalhistas, sociais, e culturais que se traduziram em conquistas importantes e em melhorias de vida concretas para as classes populares e grupos sociais sujeitos à dominação capitalista, racista e sexista. Por outras palavras, no seu melhor, a democracia liberal tem permitido diminuir a brutalidade do poder cru do fascismo social.
A prevalência atual do poder cru traz consigo um péssimo presságio e um enorme desafio para a democracia liberal. Na raiz do poder cru contemporâneo estão o neoliberalismo e a extrema-direita, uma mistura tóxica que está a atingir o âmago da democracia liberal, os direitos cívicos e políticos, depois de ter reduzido ao mínimo a proteção social e os direitos sociais. É um processo de destruição da democracia, por vezes lento por vezes rápido, que vai injetando componentes e lógicas ditatoriais na prática concreta dos regimes democráticos. Um novo tipo de regime político está a emergir, um regime híbrido que combina discursos e práticas ditatoriais (apologia da violência, criação caótica e oportunista de inimigos, insulto impune dos órgãos de soberania eleitos, desobediência ativa de decisões judiciais, apelo à intervenção golpista das forças armadas) com práticas democráticas. Um monstro? Uma coisa é certa: a democracia liberal não é a democracia real, mas é uma condição necessária (ainda que não suficiente) para se atingir a democracia real.
*Boaventura de Sousa Santos é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Autor, entre outros livros, de O fim do império cognitivo (Autêntica).