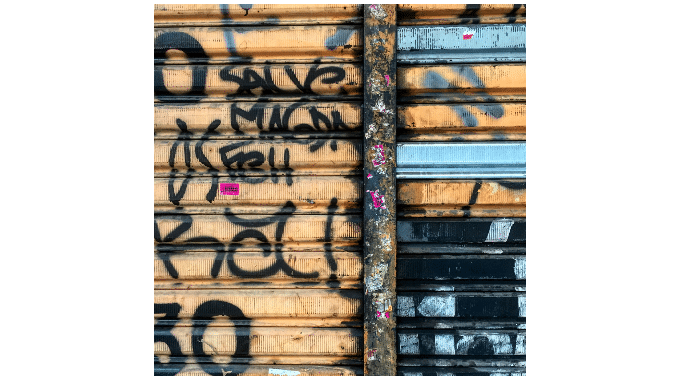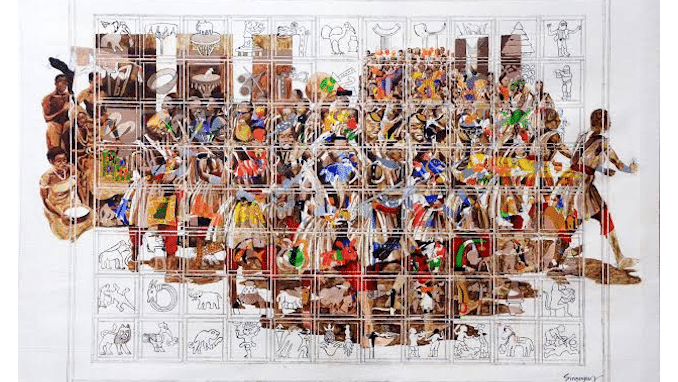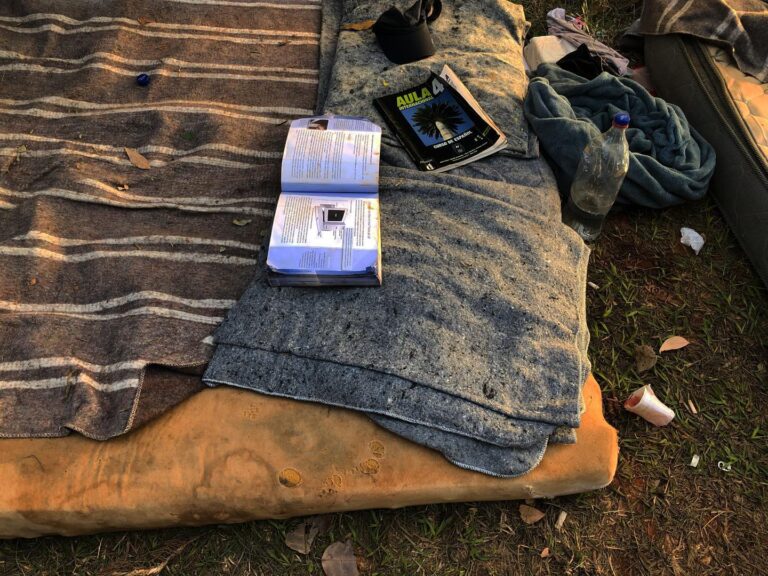Por ELEONORA ALBANO*
Reflexões sobre as mudanças na Universidade que estão alterando profundamente a sua pós-graduação
A minha resposta à pergunta “a pós-graduação está em perigo?” é sim. Contudo, não creio que a pós-graduação esteja em risco de extinção e, sim, de descaracterização e retração. Ou seja, ela não é mais a mesma e está encolhendo, à medida que vai deixando de ser viável, com qualidade, em certas áreas e/ou em certas instituições.
Além disso, está sendo pressionada a se assemelhar cada vez mais à especialização – que, em princípio, deveria ter outras finalidades. É justamente essa sobreposição entre pós-graduação e especialização que nos dará ocasião de discutir, logo adiante, a urgência e a importância da avaliação quadrienal.
Mas, antes, vamos ao que entendemos por descaracterização e retração. Na verdade, são tendências mundiais, emergidas na década de 1960, e constituem uma grave ameaça à ciência em geral. Porém, tornam-se ainda mais graves – e muito mais perversas – nos países periféricos. E, infelizmente, como sabemos todos, nunca em sua história republicana o Brasil foi tão periférico quanto é agora.
Paradoxalmente, a nossa pós-graduação, que nasceu e se consolidou ao longo do mesmo período, só recentemente vem sendo afetada por essas mudanças. Isso se deve ao fato de os programas de pós-graduação terem sido implantados por quadros acadêmicos formados dentro da velha ordem.
Para entender a diferença entre essas duas ordens, podemos nos valer de uma distinção da filósofa Olgária Matos,[i] que caracteriza o modelo de Universidade vigente até cerca de 1960 como ‘moderno’, opondo-o ao modelo ‘pós-moderno’, que começou a ganhar força desde então.
Na Universidade moderna, cientistas e humanistas compartilham o interesse por universais e se pronunciam sobre o conhecimento em geral, exercendo o pensamento crítico dentro e fora das suas disciplinas. Na universidade pós-moderna, cientistas de todas as áreas e mesmo humanistas assumem o discurso especialista e passam a se pronunciar preferencialmente sobre questões técnicas pertinentes à sua especialidade dentro da sua disciplina.
O pano de fundo dessa guinada na concepção de universidade são as mudanças, graduais, mas crescentes e cumulativas, do capitalismo nos últimos 60 anos. Com a globalização, a digitalização e a financeirização do capital, o mercado assumiu uma posição de poder absoluto e passou a colonizar a academia, que antes contava com um forte apoio do Estado em instituições públicas e privadas.
Uma das vertentes desse processo foi submeter a academia, pouco a pouco, às noções de produtividade do mercado. Ora, o capital é taylorista, cobra rapidez e eficiência. Consequentemente é também fordista, cobra fragmentação e sequenciação das tarefas. Além disso, é inerentemente oportunista.
Assim, o capitalismo contemporâneo logo encontrou duas brechas eficazes para controlar a academia. Uma foi assumir a guarda dos sistemas de avaliação acadêmica, que foram se tornando onerosos com as demandas progressivas de espaço em ambientes digitais cada vez mais complexos. A outra foi suplementar, de forma mais ou menos generosa, o financiamento público em declínio progressivo, à condição de que os objetos de pesquisa atendessem aos interesses do mercado.
A lógica neoliberal da desestatização passou a se aplicar às Universidades e às agências de fomento à pesquisa. O resultado é que hoje temos, no mundo inteiro, empresas instaladas nos campi universitários, colaborando e financiando, parcial ou totalmente, projetos de pesquisa que atendam aos seus interesses de curto, médio e longo prazo.
Está cada vez mais difícil obter patrocínio para tentar resolver um problema apenas porque é intelectualmente instigante e pode gerar problemas novos. Por outro lado, está cada vez mais fácil obter patrocínio para tentar resolver um problema voltado a uma aplicação prática.
Dois fatores retardaram o estabelecimento dessa nova ordem universitária na ciência brasileira. Um foi a resistência dos que hoje estão em fim de carreira, uma geração formada por pioneiros da velha ordem, por sua vez formados, há muito tempo, em Universidades tradicionais do exterior – ou aqui mesmo, autodidaticamente.
O outro fator foi o baixo interesse em pesquisa da incipiente indústria nacional. Uma prova disso reside no esforço da Fapesp para fomentar a pesquisa empresarial nas últimas décadas e no esforço paralelo das Universidades públicas paulistas para estreitar relações com empresas locais por meio das suas agências de inovação.
Agora, porém, há novos e perigosos fatores em jogo, a saber: a desindustrialização do país, em consequência da financeirização do capital, e a desestatização das suas empresas e autarquias, em consequência dos sucessivos choques neoliberais aplicados à economia a partir de 2016. O encolhimento do Estado arrasta as suas universidades e empresas de pesquisa, responsáveis pela construçãodo patrimônio científico brasileiro durante os últimos setenta anos – o que, aliás, coincide com a fundação do CNPq e da CAPES.
Podemos, então, indagar qual é o tipo de qualificação de nível superior requerido pelas empresas globais que estão substituindo as estatais brasileiras. A resposta é a mesma que em qualquer lugar do mundo: buscam-se quadros técnicos altamente especializados e com acesso a atualização.
Ora, os cursos de especialização disponíveis até bem pouco tempo atrás residiam em universidades privadas de baixa qualidade, voltadas para os que buscam engrossar o currículo na disputa por emprego. Porém, sob a pressão do mercado, as universidades públicas de alta qualidade viabilizaram outro tipo de especialização, calcado na sua pós-graduação.
Então, assim como instituíram os mestrados profissionalizantes, instituíram cursos de pós-graduação lato sensu, que em geral são pagos, mesmo nas Universidades públicas. Nesses cursos, a infraestrutura de ensino e pesquisa dos cursos de pós-graduação é compartilhada com a especialização, diferindo apenas quanto aos requisitos de avaliação de desempenho dos alunos.
Sintomaticamente, no momento em que a avaliação quadrienal está paralisada – a saber, desde 22 de setembro passado,[ii] a CAPES segue com uma previsão de edital de abertura de novos cursos (APCN, Análise de Propostas de Cursos Novos).[iii]
A que critérios estarão sujeitos esses cursos? Serão eles os mesmos da avaliação quadrienal? Não se sabe. Aliás, causa estranheza, conforme aponta o Observatório do Conhecimento, a inércia da presidência da CAPES nestes dois meses.
Enquanto isso, a lógica oportunista, privatista e utilitarista está segregando instituições e áreas do conhecimento inteiras conforme a sua capacidade de captar recursos privados. Assim, com a redução drástica do orçamento das agências de fomento, os cursos de pós-graduação mais aptos a sobreviver são certamente os que oferecem paralelamente a modalidade da especialização.
Algumas áreas, tais como as engenharias e a saúde, têm naturalmente uma vocação maior para se adaptar a esse tipo de crise. Além disso, em Universidades de alta qualidade, certas áreas de pesquisa básica têm o potencial de sobreviver graças a parcerias internacionais consolidadas. Grandes projetos podem ser montados com a soma dos recursos, limitados, de agências de fomento de vários países.
Mas o que será de outras áreas de pesquisa básica que foram atropeladas pela falta de financiamento durante um processo de internacionalização ainda em curso? E o que será, ainda, de cientistas humanos produtivos, mas menos habilitados a disputar verbas internacionais? Esses certamente serão convidados, pelas universidades privadas que emergirão oportunisticamente, a montar e coordenar novos cursos de pós-graduação, com a “missão” de suprir a falta de algumas áreas já retraídas nas Universidades públicas. Montados os cursos, esses docentes serão sumariamente despedidos, como sói acontecer, e substituídos por quadros mais jovens e menos onerosos.
Finalmente, podemos nos perguntar o que perdemos com essa transformação da pós-graduação em função da sobrevivência nos novos tempos, já que os cursos sobreviventes mantêm a sua alta qualidade nas instituições cuja expertise e infraestrutura de pesquisa interessam ao mercado. A meu ver, perdemos tudo, porque perdemos justamente o nosso projeto de soberania intelectual, que é parte inalienável do projeto de soberania nacional.
Nos países ricos, as Universidades tradicionais continuam sendo financiadas pelo Estado, em conjunto com fundações mistas, para produzir conhecimento novo em qualquer área, sem restrições utilitaristas.
Em contraste, aqui – onde, em cinco anos, fomos cada vez mais relegados à periferia do mercado global –, a luta pela sobrevivência inviabilizará a luta pela soberania.
Assim, a nossa já combalida soberania nacional será definitivamente morta e enterrada, já que as nossas cabeças pensantes se dividirão entre as que ficam, sustentando as demandas de especialização do mercado para não deixar a universidade fenecer completamente, e as que saem do país, inflando cada vez mais a diáspora dos cientistas e intelectuais brasileiros no exterior.
*Eleonora Albano é professora do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp.
Contribuição à mesa-redonda “A avaliação quadrienal e suas perspectivas” organizada pela SBPC e pela ANPG no ciclo A pós-graduação em perigo?, em 29 de novembro de 2021.
Notas
[i] MATTOS, O. O crepúsculo dos sábios. O Estado de São Paulo, 15 de novembro de 2009.
[ii]https://observatoriodoconhecimento.org.br/nota-publica-a-pesquisa-e-a-ciencia-brasileiras-nao-podem-parar/
[iii]https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/presidente-da-capes-anuncia-data-da-apcn-2021