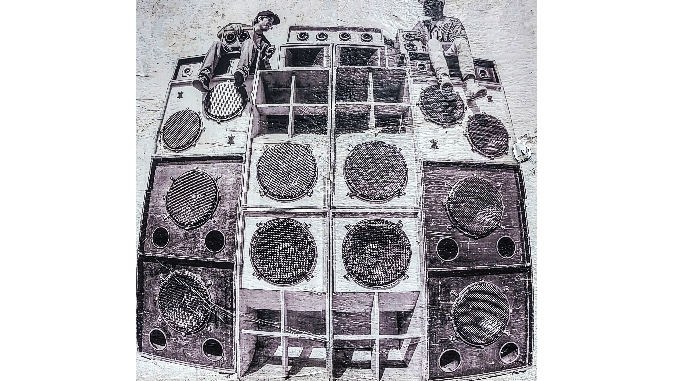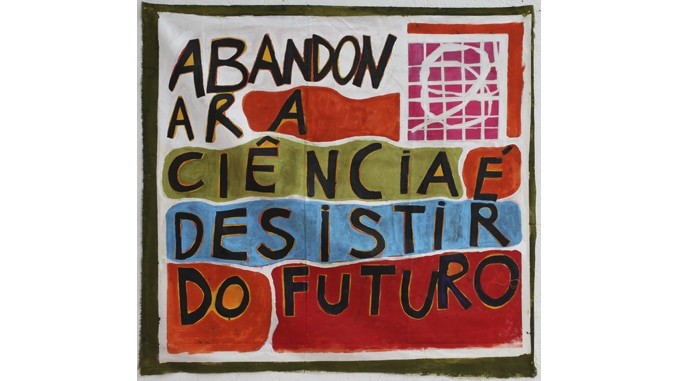Por GUTO LEITE*
Comentário sobre o ensaio clássico de Antonio Candido
Não é razoável pensar que um crítico, mais de cem anos distante de um objeto estético e de uma sociedade, não cometa qualquer tipo de anacronismo. Tampouco se está aqui defendendo que o melhor leitor é aquele que lê, de muito perto, forma estética e processo social. A esse balanço entre perto e longe também poderíamos chamar de dialética, como a indicar que o anacronismo lhe seja um gesto inerente. Todo crítico dialético é, em alguma medida, anacrônico.
Dito isso, quando afirmo que Antonio Candido, em Dialética da malandragem, trabalha com uma noção de malandro diferente daquela que existia no Rio de Janeiro de meados do século XIX, não deveria causar espanto. Espanto seria se alguém dissesse que Candido consegue e deseja ler literatura e sociedade exatamente da mesma maneira que Manoel Antônio de Almeida ao escrever aquele peculiar malandro das Memórias de um sargento de milícias. Ao mesmo tempo, somente marcar as diferenças adianta muito pouco. É preciso qualificar essas diferenças e investigar as semelhanças que levaram o crítico do século vinte a afinar seus ouvidos a um romance e a uma personagem não necessariamente no foco da crítica dos anos setenta – embora o malandro, em geral, estivesse, sim, nos holofotes, como veremos.
O começo do caminho é sublinhar que o termo “malandro”, ou qualquer um de seus cognatos, aparece só uma única vez em todo o romance, em uma fala do major Vidigal, figura da ordem pública e antagonista do malandro Leonardo na narrativa. Eis o trecho: “Se aqueles rapazes da Conceição [referindo-se aos primos de Vidinha, affaire de Leonardo], dizia consigo o Vidigal, que me foram levar a nota do tal malandro, me tivessem avisado que ele era desta laia, eu não teria passado por essa imensa vergonha” (ALMEIDA, 2006, p.278).[i]
Se recuperamos a ocorrência do termo nos jornais da época ou nos livros publicados, fica evidente que Manoel Antônio de Almeida estava pegando no ar a palavra, que não era um termo de uso corrente no Rio de Janeiro àquela altura e que seu uso vem, provavelmente, do registro culto, não sendo encontrado nas coletâneas de poesia oral, cantigas, lundus etc. dos novecentos, recolhidos a partir do final do século. É possível até mesmo identificar uma causa provável do boom lexicográfico do termo, a publicação de O libelo do povo (1849), um dos mais célebres panfletos liberais do Segundo Reinado (1840-1889), de Francisco de Salles Torres Homem, de pseudônimo Timandro, contra o qual foram escritas algumas dezenas de quadras satíricas. E, afinal, era preciso que rimassem…
Mesmo com o aumento da incidência do termo nos jornais daqueles anos, entre 1849 e 1853, ano da publicação em folhetim do capítulo em que se encontra a passagem citada anteriormente, não foi suficiente para “competir” com termos afins, como “vadio”, “patusco”, “gaiato” ou “larápio”, todos de ocorrência muito mais numerosa. Para que percebamos as distâncias lexicométricas no romance, há nove ocorrências para “vadio” e seus cognatos, mesmo número no caso de “patusco”; “gaiato” aparece seis vezes (não há menção ao termo “larápio”). Estou me valendo aqui de uma pesquisa que fiz com os principais periódicos cariocas do XIX, disponíveis num acervo chamado Hemeroteca, e de um corpus recolhido de cerca de trezentas obras oitocentistas.
Dizendo o óbvio, como um primeiro passo, a tradição do termo “malandro” em português brasileiro é muito mais significativa entre a publicação das Memórias e a publicação de Dialética da malandragem do que antes da publicação do romance. Apesar da obviedade, não deixa de ser, contudo, um óbvio vertiginoso para quem se atenta a isso. Em outras palavras, quando o romancista escolheu este termo para designar Leonardo, e frise-se, este termo aparece uma única vez no romance, não havia peso algum nesse uso, pelo contrário, o uso de “malandro” ali parece mais como um índice da contemporaneidade do texto a seu momento do que qualquer outra coisa. O autor não reage à história daquela palavra mas ao registro de um termo que estava surgindo e poderia não ter necessariamente grande destaque na língua daquele momento em diante.
Não podemos dizer o mesmo em relação ao uso de “malandragem” no título do ensaio de Candido, de cento e vinte anos mais tarde. No uso letrado do termo em 1970, está embutida sua entrada para a literatura, sobretudo com José de Alencar, Machado de Assis, Adolfo Caminha e Raul Pompeia. Nesse primeiro período da história dessa palavra no português brasileiro, de mais ou menos sessenta anos (1865-1925), embora de uso não tão frequente ou comum, o termo vai passar a denominar cada vez mais figuras populares.
Esse deslocamento do referente em paralelo ao avanço abolicionista e trabalhista merece um cuidado maior, que será tomado noutro momento. (A prova de que o uso do termo é residual é que as duas narrativas que Candido cita como pontos de chegada da genealogia malandra, Macunaíma (1928) e Serafim Ponte Grande (1933), também trazem somente uma única vez a palavra cada uma.)
Num segundo período, coincidente com a juventude do crítico, há uma disputa entre os tipos de malandragem nos primeiros anos da década de 1930 e, em seguida, com um malandro desarmado, se tornará uma espécie de símbolo do Brasil, com todo peso do termo, de sumarizar as desavenças para unificar uma representação. Como diz Jeanne- Marie Gagnebin lendo Benjamin (1993, p.41), “na relação simbólica, o elo entre a imagem e sua significação (…) é natural, transparente e imediato, o símbolo articulando, portanto, uma unidade harmoniosa de sentido. Ao contrário, na relação alegórica (…) o elo é arbitrário, fruto de uma laboriosa construção intelectual.” Aqui também o debate é extenso e não poderá ser feito neste momento, sobre como forças autoritárias e democráticas se valeram da mobilização dessa figura para a construção do Brasil moderno, funcionando para uns como a inclusão necessária do povo para a ideologia de uma nação futurosa, e para outros, como uma forma de resistência, pela esperteza, à exploração.
Há ainda, com o perdão de abusar da paciência de vocês, um terceiro momento, próximo do presente da escritura do ensaio, em que a malandragem, à luz da militância, não era entendida como uma saída plausível, como, por exemplo, em Eles não usam black-tie (1958), de Gianfrancesco Guarnieri, ou, à luz de alguns artistas, era dada como saída morta para o Brasil desenvolvimentista, como podemos ver na versão de Joaquim Pedro de Andrade para Macunaíma (1969) ou na peça de Chico Buarque, em diálogo com Brecht, A ópera do malandro (1978). É, portanto, a partir dessa acumulação que Candido lança seu espírito até meados do XIX a fim de conferir a dialética da malandragem que existiria não só no percurso do herói, mas também em todo livro, como um princípio regente da matéria social recortada e da construção do narrador.
Vocês poderão me questionar, com toda razão, ou quase toda, que Candido não está em busca de uma palavra, mas de certo comportamento malandro identificado no romance de 1852 (ano em que saiu pela primeira vez, em folhetim). Ou seja, talvez se pudesse consertar o que estou colocando como um problema se o texto se chamasse, com muito menos elegância, de “Dialética da vadiagem” ou “Dialética da peraltice” – o que, a rigor, não seria possível, porque o primeiro termo tem, no século vinte, caráter fortemente pejorativo (no seu uso no feminino, significa, inclusive, mulher de má fama, o que foi incorporado e transformado pelas mulheres em movimentos como “A marcha das vadias” no século vinte e um) e o segundo termo tem acento arcaizante, e de peso consideravelmente menor na cultura brasileira.
O ponto, e finalmente chego a ele, é que há certas ambivalências muito eloquentes no ensaio de Candido. Se pensarmos na forma crítica, tal como na forma literária, como processo social decantado, as ambivalências do texto extraordinário do crítico paulista, “primeiro estudo literário propriamente dialético” no Brasil (SCHWARZ, 1987, p.129), são também ambivalências da inteligência brasileira de esquerda naquele momento e ajudam a entender as contradições que experimentávamos há cinquenta anos.
De imediato é bom dizer que o resgate efetuado por Candido da figura do malandro estava na contramão do diagnóstico de esgotamento da força da figura ante as forças da ordem. Em vez do malandro que mergulha no poço da Uiara e não volta, ao som de Villa-Lobos, em Macunaíma, e do cadáver do malandro imóvel, mas movendo-se, com prova o Galileu, na ópera de Chico, temos a observação de toda uma série de astúcias, arranjos, escapes e tais contra o Major Vidigal e, mais do que isso, a representação mesma do desarranjo da ordem, de fardamento e tamancas. Se pensarmos no ensaio também como um gesto de intervenção, há uma aposta de Candido na sublevação dos malandros diante do cerco da ordem – inclusive com implicações nos enfoques dados por Candido na leitura do romance.
Em um trabalho de maior fôlego exploro outras ambivalências, a saber, relativas ao caráter brasileiro ou lusitano das personagens e ao suposto apagamento da escravidão no romance, leitura feita por Mário de Andrade endossada por Candido, mas gostaria aqui de pontuar uma delas e aventar algumas implicações desse ponto de tensão em sua leitura. Trata-se da classe social a que pertence Leonardinho, o protagonista do romance.
Apesar de leituras posteriores de Schwarz (1987) e Otsuka (2017) terem equivocadamente modulado a leitura de Candido, identificando a personagem como “homem livre e pobre”, Candido é preciso ao apontar que o livro se volta, majoritariamente, à “gente livre e modesta, que hoje chamaríamos de pequena burguesia” (2004, p. 27). Creio até que Candido subestime um pouco a classe e as forças do mancebo, que é filho de meirinho e “filho de criação” de um barbeiro, este com economias guardadas desviadas do tráfico negreiro (herdeiro de ambos). É também protegido da Madrinha e do Tenente-Coronel, que mexem seus pauzinhos algumas vezes para o sucesso do jovem. Forçando um pouco a nota para cima, seria possível dizer que, embora camuflado pelas peripécias, que funcionam como uma cortina de fumaça para sua real posição de classe, é exatamente esse cabedal que permite que Dona Maria case sua filha com Leonardo ao final do romance. Ou seja, o casamento, que poderia parecer descabido pela diferença de classe dos noivos, é, com efeito, materialmente muito razoável.
A “atmosfera cômica e popularesca de seu tempo”, a aderência do autor ao tom popular com inteligência e afeto, talvez leve Candido a caracterizar Leonardinho “menos como um ‘anti-herói’ do que uma criação que talvez possua traços de heróis populares, como Pedro Malasartes”. Na quarta parte do ensaio, o crítico reforça esse movimento e o expande: “A natureza popular das Memórias de um sargento de milícias é um dos fatores de seu alcance geral e, portanto, da eficiência e durabilidade com que atua sobre a imaginação dos leitores.”
Talvez o livro não exprima “uma visão de classe dominante”, mas isso não quer dizer que Leonardinho pertença aos dominados. A comparação com Pedro Malasartes, na versão, por exemplo, recolhida por Câmara Cascudo, parece lateral ao argumento, mas não é. Uma coisa é dizer que o tom do romance seja afim às narrativas e peças cômicas, “popularescas”, do período regencial (Candido conhecia essa produção como ninguém). Outra coisa é dizer que Leonardinho seja um herói popular, pelas condições apresentadas pela personagem no romance e pelo peso do termo “popular” nos anos 1960 e 1970 no Brasil. A questão fica mais candente porque há personagens verdadeiramente populares no romance, como Chico Juca, Vidinha e Teotônio, “que falava língua de negro”. Para acordar a pulga atrás das orelhas, todos esses pardos, mulatos ou negros.
Se não consegui ser claro, o nó é este. Um: em 1850, o nome malandro não se refere a figuras populares. Dois: Leonardinho não é uma figura popular, mas um jovem pequeno burguês à espera de suas heranças. Três: quando o autor, Manoel Antônio de Almeida, o chama de malandro, o nome é adequado no momento de escritura do texto. Quatro: há uma extensa e complicada história do termo “malandro” entre 1850 e 1970. Cinco: quando Candido chama Leonardinho de malandro, parece ter na cabeça os malandros populares da primeira metade do século XX. Seis: com isso, seu herói malandro, que ainda pode resistir, que não está morto, que combate o major (mas se torna sargento no fim da jornada), é tomado como popular, mas não é exatamente popular. Sete: o gesto crítico-interventivo de Candido ao escrever Dialética da malandragem talvez esteja imbuído da ambivalência do que seja um herói popular nos anos 1960, questão central para o debate de militância naquele período.
Neste breve texto não pude entrar em detalhes, mas espero que tenha ficado claro que dependo totalmente da dialética de Candido para fazer minha leitura, a contrapelo. Que isso me ensinaram, Candido, Benjamin, Adorno, Schwarz e outras e outros, que o gesto crítico dialético é generoso porque acumula também (e sobretudo?) por seus limites. Me ensinaram menos suas conclusões do que seus procedimentos, a serem ensaiados, inclusive, “contra” seus próprios ensaios, o que busquei fazer aqui.
*Guto Leite é professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Referência
Antonio Candido. “Dialética da malandragem”. In: O discurso e a cidade. Rio de Janeiro, Ouro sobre Azul, 2004.
Bibliografia
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin: os cacos da história. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993.
OTSKUKA, Edu. “Espírito rixoso”, em Revista do IEB, nº44, 2007, p.105-124.
SCHWARZ, Roberto. “Pressupostos, salvo engano, da ‘Dialética da malandragem’”, em _________. Que horas são?: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
Nota
[i] Na versão em folhetim de 27 de março de 1853 os “rapazes da Conceição” são os “rapazes do Trem”. O restante da passagem é como no romance.