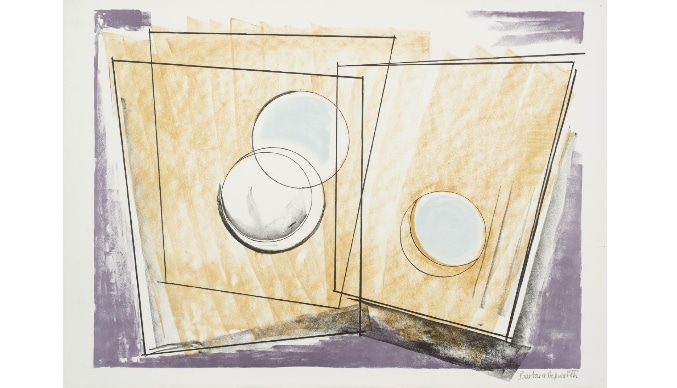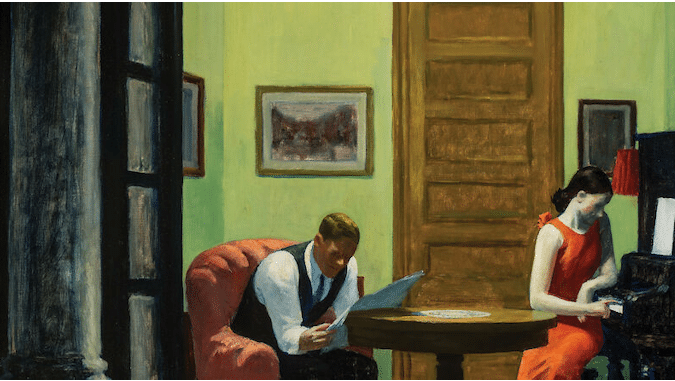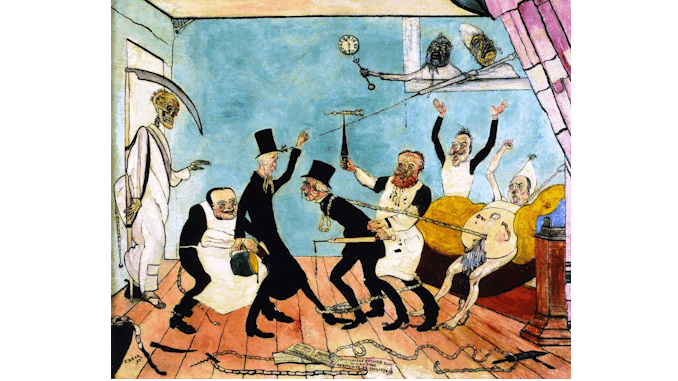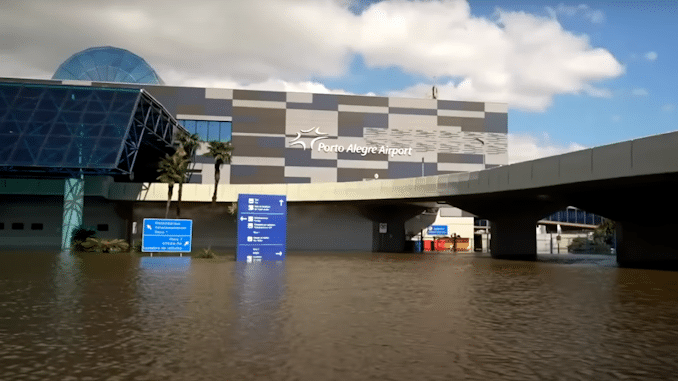Por LOUIS ALTHUSSER*
Trecho do livro recém-editado “Escritos sobre a história (1963-1986)”.
Quando se lê Marx, tem-se uma impressão muito estranha, comparável àquela que experimentamos ao ler alguns raros autores, tais como Maquiavel e Freud. Impressão de deparar-se perante textos (mesmo teóricos e abstratos) cujo estatuto não encaixa nas categorias habituais: textos sempre ao lado do lugar que eles ocupam, textos sem centro interior, textos rigorosos e, todavia, como que desmembrados, textos designando um outro espaço que o seu.
Assim é O Capital. Texto teórico, sistemático, mas inacabado, em todos os sentidos do termo: não somente porque os Livros II e III não são senão fragmentos de Marx agrupados por Engels e Kautsky (Livro IV), mas porque supõe um outro acabamento que teórico, um fora onde a teoria seria “perseguida por outros meios”.
Marx deu-nos a razão dessa estranheza em dois ou três textos claros, nos quais ele dá expressamente à sua posição teórica a forma de uma tópica. Por exemplo, o Prefácio à Contribuição (1859) expõe a ideia de que toda formação social é assim feita tal que ela comporta uma infraestrutura (Basis ou Struktur em alemão) econômica e uma superestrutura política e ideológica (Überbau em alemão). A tópica apresenta-se, assim, sob a metáfora de um edifício, onde os andares da superestrutura repousam sobre uma base econômica.
Ora, nós não conhecemos muitas teorias que se dão a forma de uma tópica, salvo Marx e Freud. O que significa em Marx essa tópica?
Ela designa, em toda “formação social” (sociedade), uma distinção entre a base (econômica) e a superestrutura (política e ideológica). Ela evidencia, pois, níveis de realidade distintos e realidades distintas: o econômico, o jurídico-político e a ideologia.
Mas essa distinção é muito mais que uma simples distinção de realidades: ela designa graus de eficácia no interior de uma unidade. Ela indica a base como a “determinação em última instância” da formação social e, no interior dessa determinação de conjunto, ela indica a “determinação recíproca” da superestrutura sobre a base. Filosoficamente, a determinação em última instância pela base, pela produção econômica, atesta a posição materialista de Marx. Mas essa determinação materialista não é mecanicista.
Pois a indicação da “última instância” supõe que existam outras instâncias, as quais podem também determinar em sua ordem, e que exista, pois, um jogo da determinação e na determinação: esse jogo é a dialética. A determinação em última instância não esgota, pois, toda determinação; ela determina, ao contrário, o jogo das outras determinações, interditando-lhes de exercerem-se no vazio (a onipotência idealista da política, das ideias etc.). Esse ponto é muito importante para compreender a posição dialética de Marx.
A dialética é o jogo aberto pela última instância entre ela e as outras “instâncias”, mas essa dialética é materialista: ela não joga no ar, ela joga-se no jogo pela última instância, material. Na tópica, Marx inscreve, pois, sua posição materialista e dialética.
Mas isso não é tudo. Em sua forma, a tópica é outra coisa que uma descrição de realidades distintas, outra coisa que uma prescrição das formas da determinação: ela é também quadro de inscrição e, pois, espelho de posição para aquele que a enuncia e para aquele que a vê. Apresentando sua teoria como uma tópica, dizendo que toda “sociedade” é assim feita tal que ela compreende uma base e uma superestrutura jurídico-política e ideológica e dizendo que a base é determinante em última instância, Marx inscreve-se a si mesmo (sua teoria) nalguma parte na tópica e aí inscreve, ao mesmo tempo, todo leitor que vier.
Está aí o último efeito da tópica marxista: no jogo ou mesmo na contradição entre a eficácia de tal nível, por um lado, e a posição virtual de um interlocutor na tópica, por outro. Concretamente, isso quer dizer: o jogo da tópica devém, do fato dessa contradição, uma interpelação, um apelo à prática. O dispositivo interno da teoria, na medida em que ele é desequilibrado, induz uma disposição à prática que continua a teoria sob outros meios. É o que dá à teoria marxista sua estranheza e faz com que ela seja necessariamente inacabada (não como uma ciência ordinária, a qual é inacabada somente em sua ordem teórica, mas de outra maneira). Noutros termos, a teoria marxista é assombrada, em seu próprio dispositivo, por certa relação com a prática, a qual é, por sua vez, uma prática existente e uma prática a transformar: a política.
Parece que se poderia, embora em termos diferentes, dizer a mesma coisa da teoria psicanalítica. Ela seria, também ela, assombrada em sua teoria por certa relação com a prática (a cura). O mister de Freud de pensar sua teoria sob a forma de uma tópica poderia corresponder a essa necessidade obscura.
Dito isso, tentemos ir um pouco mais longe. O que Marx traz, o que ele descobre? Ele mesmo diz, em seu Prefácio ao Capital, que ele se propõe à análise (novamente um termo que o aproxima de Freud: Marx fez-se glória de ter introduzido o “método analítico em economia política”), à análise do modo de produção capitalista. De fato, toda sua obra está centrada sobre esse objeto, ao qual ele é o primeiro a ter dado seu nome de modo de produção. Mas Marx faz também, em O Capital, excursões nos modos de produção pré-capitalistas, ele fala também (mas muito pouco, não querendo “prescrever receitas para o cardápio da taberna do futuro”) do modo de produção comunista por vir.
No Prefácio à Contribuição, ele esboça também um tipo de periodização da história, em que se sucedem os modos de produção comunista-primitivos, escravagista, feudal, capitalista. Se Marx mantém-se, pois, estritamente na análise do modo de produção capitalista, nisso ele não menos considera a história passada e não hesita em escrever sobre a história que se faz, a história francesa (O 18 de Brumário etc.), a história da Inglaterra, da Irlanda, dos EUA, das Índias etc.
Marx tem, pois, certa ideia da história, e não somente uma teoria do modo de produção capitalista. Essa ideia, ele a tinha já enunciado na célebre frase do Manifesto: toda a história até nossos dias é a história da luta de classes. Bastaria aproximar essa frase da sucessão dos modos de produção para dar-lhe corpo e sentido.
No entanto, as coisas não são tão simples. Pois essa aproximação pode dar lugar a diversas interpretações. Pode-se dizer, por exemplo: a luta de classes é o motor da história, e graças à luta de classes – essa negatividade –, a história progride, de um modo de produção a outro, até seu fim, a supressão das classes e da luta de classes, cada modo de produção contendo em si, virtualmente, o modo de produção seguinte. Nesse caso, desenvolve-se uma concepção hegeliana do desenvolvimento dialético, ou uma concepção evolucionista dos estágios necessários, em suma, ter-se-á uma filosofia da história, em que a história é uma entidade, um Sujeito, dotado de Fim, de um Telos, que ela persegue desde as origens, através da exploração e da luta de classes.
Numa tal concepção, a história tem sempre um sentido (nas duas acepções da palavra: um fim, uma significação). Essa concepção não é aquela de Marx. Se há astúcias na história (astúcias e derrisões), não há astúcia da história; se há sentido na história, não há sentido da história. Essa distinção entre o em e o de é por vezes muito difícil de manter, é por vezes muito difícil guardar-se de confundir uma tendência atualmente dominante na história com o sentido da história, mas a integridade do materialismo de Marx tem por condição essa distinção.
Marx, com efeito, não pôde escrever O Capital senão com a condição de romper com toda filosofia da história, como com toda teoria (filosófica) que pretendia dar conta exaustivamente da totalidade dos fenômenos observáveis na história humana. Para compreender isso, é preciso representar-se qual é sua posição e como ele a vê.
É preciso representarmo-nos Marx escondido, eu diria mocozeado (aquele “velho mocó”, que é seu fraco) em pleno ambiente do século XIX, e conhecendo-o e tendo conseguido saber o que capitalismo quer dizer. Ora, esse Marx aí, confinado no horizonte do que ele pode saber (e nada mais), escreve sem volteios: “o que se chama desenvolvimento histórico repousa, levando tudo em conta, sobre o fato de que a última forma considera as formas passadas como etapas conduzindo ao seu próprio grau de desenvolvimento”. A representação da história é, pois, “espontaneamente” assombrada por uma ilusão prodigiosa: que as formas passadas estão destinadas a produzir o presente.
Como o presente é o resultado de um passado, o presente imagina-se que ele seria o fim do passado! E Marx acrescenta: “[e como] essa última forma era raramente capaz, e isto somente em condições bem determinadas, de fazer sua própria crítica… ela concebe as formas passadas sob um aspecto unilateral”. Para poder escapar da ilusão teleológica e seus efeitos, é preciso que a “última forma” esteja em estado de fazer sua “autocrítica”, ou seja, de ver claramente em si mesma. “A autocrítica da sociedade burguesa”, como diz Marx, pode, então, permitir compreender as “sociedades feudais, antigas, orientais”. Essa “autocrítica da sociedade burguesa” é O Capital, amplamente redigido em 1857-1859. Munido desse conhecimento, Marx pode sair de seu buraco e abordar essa coisa estranha que se chama história.
A crítica da ilusão teleológica leva Marx à recusa de projetar tais quais as categorias que explicam a sociedade presente sobre as sociedades que existiram no passado. De acordo com os casos, certas categorias presentes estão parcialmente ou totalmente ausentes em tal formação passada, e quando elas estão presentes, são muito frequentemente deslocadas, desempenham um papel diferente, e mesmo se ele é parecido, é cum grano salis.
Mas essa história supõe a existência de certo passado, o qual pode ele mesmo ser, por sua vez, considerado como o fim de sua própria pré-história. É preciso levar até o fim de suas últimas defesas a ilusão teleológica da história. Conhecemos a pequena frase de Marx: “a anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco”. Ela significa: suposto que a linha macaco-homem seja estabelecida nos fatos, que o homem seja o resultado do macaco, não é (contrariamente a todos os evolucionistas) a anatomia do macaco que nos dará a anatomia do homem, mas a anatomia do homem que nos dará “uma chave”, e uma chave somente, para a anatomia do macaco.
Retomando uma fórmula célebre de Hegel, que exigia que jamais se apresente “o resultado em seu devir”, mas que considerava que o devir do resultado continha já em si o resultado, Marx diria: todo resultado bem é o resultado de um devir, mas o devir não contém em si seu resultado. Melhor dizendo, se o resultado bem é o resultado necessário de um devir, o devir que produziu esse resultado não tem a forma de um telos. É por isso que “a última forma” não pode considerar “as formas passadas como levando ao seu grau de desenvolvimento”.
Essa última ideia introduz-nos ao que eu chamaria de uma “contra-história”, uma história negativa, como fundo e imprevistos da história “positiva”. A história, tal como ela é comumente concebida, é a história dos resultados como as etapas do devir da forma presente, é a história dos resultados retidos pela história: não é a história dos não resultados, dos devires sem resultados e dos resultados sem devir, formas abortadas, formas recalcadas, formas mortas, em suma, falhas, não as falhas que a história retém, mas falhas que ela não retém.
A história oficial, escrita em nossa tradição ocidental por e para a classe dominante, é a história de uma dominação, a qual esmaga a outra história, aquela das sombras e dos mortos. No entanto, escrevia Marx, em Miséria da filosofia, é sempre pelo lado mau que a história avança. Por aí, Marx dava vida a toda uma história recalcada, ele descobria um devir até então sem resultado, aquele das massas exploradas, oprimidas, explorável e empregável sem escrúpulos para todos os trabalhos e todos os massacres: o lado mau.
Mas por aí Marx abria o campo imenso da não história sob todas suas formas, aquela das sociedades para sempre desaparecidas (resultados sem devir), aquela dos partos perdidos (o capitalismo nas cidades da Itália do Norte no século XIV no Vale do Pó), aquela da existência “antediluviana”, aquela das “sobrevivências”, aquela das revoluções prematuras e tantas outras histórias ainda, em que a repressão, o recalcamento e o esquecimento disputam pelo fracasso.
É combinando a história dos resultados e a contra-história recalcada que Marx alcança pensar a história de outra maneira que sob as categorias da teleologia e da contingência.
Vou, por um viés, tentar responder à questão: em quais condições há história humana, ou ainda, como a história está enraizada num grupo humano, numa formação social?
Para Marx, que não se interroga sobre a antropologia pré-histórica, o homem é um animal social que apresenta essa particularidade de produzir suas condições de existência materiais. Ora, Kant já dizia que o homem é um animal que trabalha, e Franklin antes dele: o homem é um animal que fabrica ferramentas. Marx cita Franklin em O Capital: o homem fabrica ferramentas para produzir seus meios de subsistência, para arrancá-los da natureza por seu trabalho. Mas ele não trabalha na solidão. Mesmo nos grupos mais primitivos, existe uma divisão do trabalho, portanto, formas de cooperação e de organização do trabalho. Um grupo humano ou uma formação social produz, pois, sua subsistência.
Ora, se tal grupo existe, é que ele chegou a reproduzir-se até aqui. Eis o ponto no qual tudo se desenrola. Pois esse grupo reproduziu-se não somente biologicamente, mas socialmente: reproduzindo as condições da produção de seus meios de subsistência. Melhor dizendo, detrás da produção, visível, que faz Franklin dizer que o homem é um animal que fabrica ferramentas, detrás da dialética do trabalho exaltada por Hegel, Marx designa (após os fisiocratas) um processo silencioso que comanda o primeiro e que não se vê: a reprodução das condições da produção.
Praticamente, isso quer dizer, primeiramente, que a produção deve incluir um excesso material, um sobreproduto, e não importa qual, mas um sobreproduto definido, que permite reproduzir, após cada qual de seus ciclos, os elementos do processo de produção: ferramentas em excesso para substituir as ferramentas usadas, trigo a mais para a semente etc. Em suma, um excesso que seja uma reserva determinada para assegurar a reprodução das condições materiais da produção (e sabemos que, durante séculos, a guerra foi um dos meios de assegurar essa reprodução: pela terra, pelos escravos etc.). Se essas condições não estão asseguradas pela reprodução, a formação social perece e morre. Aí onde não há continuidade na existência, não há história. Se, em biologia, existir é, para uma espécie, reproduzir-se, em história, existir é reproduzir as condições materiais e sociais da produção.
Pois é preciso também que as condições sociais, e não somente as condições materiais (ferramentas, sementes, força de trabalho), sejam reproduzidas. É preciso que a divisão social e as formas da cooperação sejam reproduzidas, o que supõe toda uma superestrutura política e ideológica, apta para assegurar a reprodução das funções e sua coordenação na produção. Pode-se vê-las nas sociedades primitivas, nas quais os mitos e seus sacerdotes desempenham esse papel de regulação das condições sociais da reprodução, sancionando a divisão do trabalho, as relações de parentesco, os ritmos, portanto, a organização dos trabalhos etc.
Tudo isso, que se nos tornou familiar, Marx decifrou em sua análise do modo de produção capitalista e não pode, decerto, ser aplicado às formações pré-capitalistas senão cum grano salis. Mas essa unidade da produção e da reprodução e o efeito de superestrutura como condição da reprodução social são essenciais à ideia que Marx faz da história, assim como a distinção que faz, no início [da segunda seção do Livro I] de O Capital, entre reprodução simples (sobre a mesma base) e reprodução ampliada (sobre uma base maior).
O modo de produção capitalista não conhece a reprodução simples, mas ele revela sua possibilidade. E não é um acaso que Marx insista sobre a existência histórica de sociedades estagnadas, que asseguram sua reprodução nos limites estreitos de sua produção anterior, sobre o “teto” histórico alcançado pelas sociedades pré-capitalistas. Diferentemente delas, o capitalismo é inelutavelmente submetido à reprodução ampliada, à expansão mundial.
Pode-se tirar dessa visão da história diversas conclusões:
Pode-se compreender o fato, já assinalado, de que “sociedades” desaparecem totalmente: quando certas condições de sua reprodução passam a faltar por uma razão ou outra. Pode-se também compreender que certas formações sociais tenham abortado, como as primeiras formas de capitalismo na Itália do Norte (ausência de unidade nacional = ausência de um mercado suficientemente vasto).
Pode-se compreender que nas “sociedades” que existiram, a história não tenha tido a mesma velocidade, o mesmo ritmo, o mesmo “tempo”, que tiveram as sociedades estagnadas, umas imobilizadas após uma progressão, outras condenadas a um desenvolvimento ofegante.
Pode-se, enfim, compreender o papel da superestrutura assinalado na tópica marxista. A superestrutura, o Estado e o direito, a política, a ideologia e todas as obras que vivem da ideologia têm por função contribuir para a reprodução de formas de produção, e nas sociedades de classe, para a reprodução de formas sociais e ideológicas da divisão em classes. Mas se pode, ao mesmo tempo, compreender que a superestrutura não assume e não cobre a violência de classe senão sancionando-a a partir da ideologia, da autoridade de Deus, do interesse geral, da Razão ou da Verdade.
A reprodução material e social toma a forma da “eternidade” de valores ideológicos dos quais os homens políticos não são mais que os representantes. É por isso que, até Marx, a história resume-se e reduz-se à superestrutura, é por isso que não há história oficial senão da superestrutura, dos grandes homens políticos, cientistas, filósofos, artistas e escritores, em suma, uma história “unilateral” como diz Marx: uma história que não penetra nas profundezas das condições materiais e sociais da produção e da reprodução, uma história que não alcança a determinação “em última instância”.
Mas se pode tirar dessa visão outra conclusão, a qual concerne ao modo de produção capitalista.
Que a história, para Marx, não seja homogênea, nós já o percebemos pela sua observação segundo a qual não é qualquer forma social que está em estado de fazer sua própria “autocrítica” e pela sua preocupação de evitar a ilusão teleológica da história espontânea. Só as sociedades em que reina o modo de produção capitalista são capazes disso. É que o modo de produção capitalista não é como os outros, mas único em sua ordem. Ele apresenta essa particularidade orgânica, inscrita em sua estrutura (valorização do valor, produção de mais-valor) de reproduzir-se sobre uma base ininterruptamente ampliada, correspondendo à sua tendência a crescer, aprofundar e expandir sem parar a exploração da força de trabalho assalariada.
Não posso entrar aqui nos detalhes, mas se pode representar as coisas esquematicamente assim. De certa maneira, todos os modos de produção pré-capitalistas têm uma estrutura “aberta” ou “lacunar”, ao passo que o modo de produção capitalista é marcado por sua estrutura fechada. O que assegura a clausura do modo de produção capitalista é o que Marx chama frequentemente de generalização das relações mercantis, que não somente faz com que todos os produtos sejam produtos como mercadorias, mas faz com que a força de trabalho, ela mesma, devenha uma mercadoria.
Nos modos de produção pré-capitalistas, bem existiam mercadorias, produtos vendidos como mercadorias, mas que não eram produzidos como mercadorias, e a força de trabalho não era uma mercadoria: por aí, subsistia uma “abertura”, todo um jogo em que o senhor explorava para gozar e não para acumular capital, em que o servo podia num certo limite, e sob certas servidões, levar sua própria vida. Com o modo de produção capitalista, a força de trabalho devém uma mercadoria; o senhor, um capitalista que explora a força de trabalho para acumular capital. Não há saída possível para a furibunda lei da exploração, a qual está na base da luta de classe capitalista, para a extensão da exploração e para a dominação do mundo.
O modo de produção capitalista está condenado a uma gigantesca fuga para frente, lançado em crises que são para ele como que soluções sobre as costas dos explorados e submetido a uma lei tendencial antagonista: aumentar cada vez mais a concentração e a acumulação, mas, ao mesmo tempo, educar e forçar cada vez mais as massas exploradas para a luta de classes, provocar as zonas colonizadas para sua liberação, viver nessa contradição mortal até a morte.
Para Marx, essa tendência é irresistível: o imperialismo é a última forma que toma essa tendência, a união do capital industrial e bancário em capital financeiro, a dominação do mercado de capitais sobre o mercado das mercadorias em escala mundial, a luta pela partilha do mundo entre os monopólios desembocando na guerra imperialista etc. Mas essa tendência irresistível não é uma fatalidade, a qual contém nela de antemão sua solução sem alternativa.
Conhecemos a sentença de Engels: “socialismo ou barbárie”. A história que nós vivemos dá todo seu sentido a essa dupla saída. Nós podemos viver a tendência irresistível do imperialismo nas formas do “apodrecimento” (Lênin) e da “barbárie” (Engels), da qual o fascismo nos dá uma primeira ideia. E isso pode durar ainda longamente, pois o próprio do capitalismo antes era, e o próprio do imperialismo sempre é, uma extraordinária capacidade de transformar suas crises em curas históricas, seja ao se instalar nelas, como no fascismo ou outras formas latentes, seja ao sair delas, como em 1929, mas pela guerra mundial. Resta que a cada guerra mundial, 1914-1918, 1939-1945, o mundo imperialista não pode sair de sua crise senão pagando cada vez o preço de uma ou diversas revoluções socialistas. A alternativa à barbárie pode ser o socialismo. Pois o que está inscrito na tendência irresistível do imperialismo é, indissoluvelmente, ao mesmo tempo, o crescimento da exploração e sua extensão em escala mundial, a exasperação da luta das classes.
É sobre essa base que é possível a organização da luta de classe operária para a tomada do poder e para o socialismo. Decerto, é preciso que existam organizações da luta de classe operária, e que elas saibam inserir-se nas contradições do imperialismo no ponto arquimediano: aquele que permite, não de sublevar o mundo, mas de transformá-lo.
*Louis Althusser (1918-1980), filósofo marxista, foi professor da École Normale Supérieure (Paris). Autor, entre outros livros, de Por Marx (Unicamp).
Referência
Louis Althusser. Escritos sobre a história (1963-1986). Texto estabelecido por G. M. Goshgarian. Tradução: Diego Lanciote. São Paulo, Contracorrente, 2022, 252 págs.