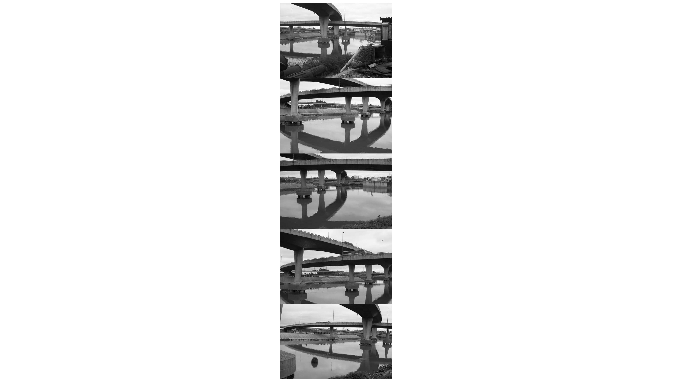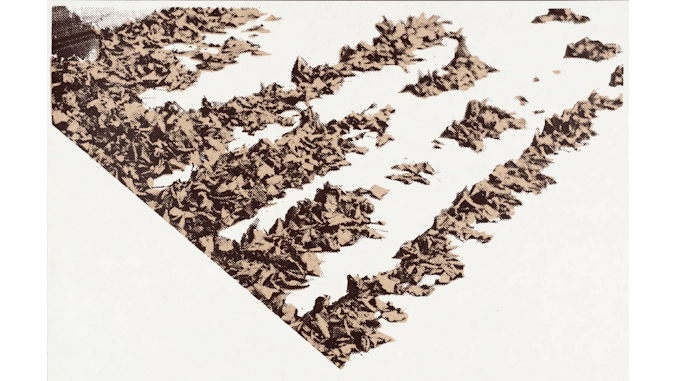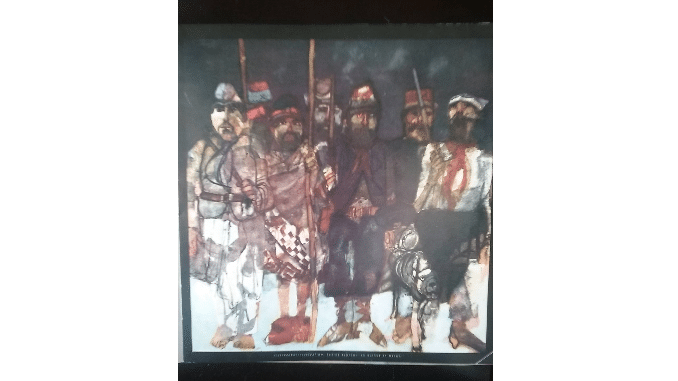Por FREDRIC JAMESON*
Introdução do livro recém-lançado
Utopia hoje
A utopia sempre foi uma questão política, um destino incomum para uma forma literária: e, do mesmo modo que o valor literário da forma está sempre sujeito à dúvida, seu estatuto político também é estruturalmente ambíguo. As oscilações de seu contexto histórico em nada ajudam a solucionar essa variabilidade, que tampouco é uma questão de gosto ou julgamento individual.
Durante a Guerra Fria (e, na Europa Oriental, imediatamente após seu fim), a Utopia se tornou sinônimo de stalinismo e designava um programa que negligenciaria a fragilidade humana e o pecado original, revelando uma vontade de uniformidade e pureza ideal de um sistema perfeito que teria sempre de ser imposto, pela força, a sujeitos imperfeitos e relutantes. (Indo além, Boris Groys identificou essa dominação da forma política sobre a matéria com os imperativos do modernismo estético).[i]
Essas análises contrarrevolucionárias – já não mais de tanto interesse para a direita desde o colapso dos países socialistas – foram depois adotadas pela esquerda antiautoritária, cuja micropolítica abraçou a “diferença” como um lema e acabou reconhecendo suas posições anti-Estado nas tradicionais críticas anarquistas ao marxismo, que seria utópico precisamente nesse sentido centralizador e autoritário.
Paradoxalmente, as tradições marxistas mais antigas, tirando lições acríticas das análises históricas de Marx e Engels sobre o socialismo utópico em O manifesto comunista,[ii] e também seguindo o uso bolchevique,[iii] denunciavam seus concorrentes utópicos como desprovidos de qualquer concepção de ação ou estratégia política e caracterizavam o utopianismo como um idealismo profunda e estruturalmente avesso à política. A relação entre a utopia e o político, bem como questões sobre o valor prático-político do pensamento utópico e a identificação entre socialismo e utopia, permanece como um tema em larga medida não resolvido hoje, quando a utopia parece ter recuperado sua vitalidade enquanto um lema político e uma perspectiva politicamente estimulante.
De fato, toda uma nova geração da esquerda pós-globalização – que abarca resquícios da antiga e da Nova Esquerda, ao lado da ala radical da social-democracia e de minorias culturais do Primeiro Mundo e de camponeses e sem-terra proletarizados ou de massas estruturalmente não empregáveis do Terceiro Mundo – com uma frequência cada vez maior tem buscado adotar esse lema, em uma situação na qual o descrédito de partidos tanto comunistas quanto socialistas e o ceticismo diante de concepções tradicionais de revolução abriram um clarão no campo discursivo. Pode-se eventualmente esperar que a consolidação do mercado mundial emergente – pois é isso que está em jogo na assim chamada globalização – permita que se desenvolvam novas formas de ação política.
Enquanto isso, e para adaptar uma famosa máxima da Sra. Thatcher, não há alternativa à utopia, e o capitalismo tardio parece não ter inimigos naturais (não tendo os fundamentalismos religiosos que resistem ao imperialismo americano e ocidental de modo algum endossado posições anticapitalistas). Ainda assim, não é apenas a invencível universalidade do capitalismo que está em questão, com seu incansável desmonte de todos os ganhos sociais obtidos desde a origem dos movimentos socialista e comunista, revogando todas as medidas de bem-estar social, a rede de proteção, o direito à sindicalização, as leis de regulação industriais e ecológicas, propondo privatizar a previdência e, de fato, desmantelando tudo o que permanece no caminho do livre mercado em qualquer lugar do mundo.
O que é devastador não é a presença de um inimigo, mas, antes, a crença universal não apenas de que essa tendência é irreversível, mas de que as alternativas históricas ao capitalismo teriam se provado inviáveis e impossíveis e de que nenhum outro sistema socioeconômico seria concebível, para não dizer disponível na prática. Os utópicos não apenas se prestam a conceber esses sistemas alternativos; a forma utópica é, ela própria, uma reflexão representacional sobre a diferença radical, sobre a alteridade radical e sobre a natureza sistêmica da totalidade social, até o ponto onde não se pode imaginar qualquer mudança fundamental em nossa existência social que não tenha, antes, espalhado visões utópicas como centelhas de um cometa.
A dinâmica fundamental de qualquer política utópica (ou de qualquer utopianismo político) sempre residirá, portanto, na dialética entre identidade e diferença,[iv] na medida em que essa política vise a imaginar, e às vezes mesmo a efetivar, um sistema radicalmente diferente. Podemos, aqui, seguir os viajantes do tempo e espaço de Olaf Stapledon, que aos poucos se tornam cientes de que sua receptividade às culturas exóticas e alienígenas é governada por princípios antropomórficos:
No começo, quando nosso poder imaginativo estava estritamente limitado pela experiência de nossos próprios mundos, podíamos fazer contato apenas com mundos afins ao nosso. Além disso, nesse estágio inicial do nosso trabalho, invariavelmente nos deparávamos com esses mundos quando eles estavam passando pela mesma crise espiritual que subjaz a condição do homo sapiens hoje. Parecia que, para que entrássemos em qualquer mundo, deveria haver uma semelhança ou identidade profunda entre nós e nossos anfitriões.[v]
Stapledon não é, estritamente falando, um utópico, como veremos mais à frente; mas nenhum escritor utópico foi tão incisivo ao confrontar a grande máxima empirista de que não há nada na mente que não tenha estado primeiro nos sentidos. Se verdadeiro, esse princípio significa o fim não apenas da utopia como forma, mas da ficção científica em geral, ao afirmar, como o faz, que mesmo nossas fantasias mais desvairadas são todas elas colagens de experiências, constructos feitos de pedaços e peças do aqui e agora: “Quando Homero formulou a ideia de quimera, ele apenas juntou em um mesmo animal partes que pertenciam a animais diferentes; a cabeça de um leão, o corpo de um bode e o rabo de uma serpente”[vi].
No nível social, isso significa que nossas imaginações são reféns do nosso modo de produção (e, talvez, de quaisquer resquícios de modos de produção passados que foram preservados). Isso sugere que, na melhor das hipóteses, a utopia pode servir ao propósito negativo de nos tornar mais cientes de nosso aprisionamento mental e ideológico (algo que eu próprio em certa ocasião já afirmei[vii]); e que, portanto, as melhores utopias seriam aquelas que fracassam da forma mais completa.
Trata-se de uma proposição que tem o mérito de deslocar a discussão sobre a utopia do conteúdo para a representação. Esses textos são tão frequentemente tomados como sendo expressão de opinião política ou ideologia que algo deve ser dito para que se restabeleça o equilíbrio de um modo decididamente formalista (leitores de Hegel e Hjelmslev saberão que a forma é, de todo modo, sempre a forma de um conteúdo específico). Não são apenas as matérias-primas social e histórica do constructo utópico que têm interesse nessa perspectiva, mas também as relações representacionais estabelecidas entre elas – como a clausura, a narrativa e a exclusão ou a inversão. Aqui, como em outros lugares na análise de narrativa, o que é mais revelador não é o que se diz, mas o que não pode ser dito, o que não se registra no aparato narrativo.
É importante complementar esse formalismo utópico com aquilo que hesito chamar de uma psicologia da produção utópica: um estudo dos mecanismos da fantasia utópica que se afastaria da biografia individual para se focar na satisfação de anseios históricos e coletivos. Tal abordagem da produção da fantasia utópica irá necessariamente iluminar suas condições de possibilidade históricas: pois, certamente, é do nosso maior interesse hoje entender por que as utopias floresceram em um período e minguaram em outro. Essa é claramente uma questão que precisa ser ampliada para incluir também a ficção científica, caso sigamos – como faço – Darko Suvin[viii], ao compreender que a utopia é um subgênero sócioeconômico dessa forma literária mais ampla. O princípio de Suvin do “estranhamento cognitivo” – uma estética que, construída a partir da noção do formalismo russo do “tornar estranho” tanto quanto do Verfremdungseffekt brechtiano, caracteriza a FC a partir de uma função essencialmente epistemológica (excluindo, assim, as fugas mais oníricas da fantasia como gênero) – postula, portanto, a existência de um subconjunto particular, dentro dessa categoria genérica especificamente voltado à imaginação de formas sociais e econômicas alternativas.
No que segue, no entanto, nossa discussão se complexificará pela existência, ao lado do gênero ou texto utópico enquanto tal, de um impulso utópico que se verte sobre muitas outras coisas, tanto na vida cotidiana quanto em seus textos (ver capítulo 1). Essa distinção também complexificará a discussão bastante seletiva sobre a FC que se faz aqui, uma vez que, ao lado de textos de FC que empregam abertamente temas utópicos (como A curva do sonho, de Le Guin), também faremos referência, como no capítulo 9, a obras que revelam o trabalho do impulso utópico.
De todo modo, “O desejo chamado utopia”, diferentemente dos ensaios reunidos na parte dois, tratará principalmente daqueles aspectos da FC relevantes para a dialética utópica entre identidade e diferença.[ix]
Todas essas questões formais e representacionais nos levam de volta à questão política com a qual começamos: agora, porém, a última foi precisada enquanto um dilema formal sobre como obras que postulam o fim da história podem oferecer um impulso histórico utilizável; como obras que visam a solucionar todas as diferenças políticas podem continuar sendo, em algum sentido, políticas; como textos concebidos para superar as necessidades do corpo podem permanecer materialistas; e como visões da “época de tranquilidade” (Morris) podem nos estimular e nos compelir à ação.
Há boas razões para pensar que todas essas questões são indecidíveis: o que não é necessariamente uma coisa ruim, contanto que continuemos tentando decidir. De fato, no caso dos textos utópicos, o teste político mais confiável não está em qualquer julgamento da obra individual em questão, mas, antes, em sua capacidade de gerar novas obras, visões utópicas que incluam aquelas do passado e as modifiquem ou corrijam.
No entanto, trata-se, na realidade, de uma indecibilidade não política, mas da estrutura profunda; e isso explica por que vários comentadores de utopias (como Marx e Engels eles mesmos, com toda sua admiração por Fourier[x]) apresentaram avaliações contraditórias sobre esse assunto. Outro visionário utópico – Herbert Marcuse, certamente o utópico mais influente dos anos 1960 – oferece uma explicação para essa ambivalência em um comentário de juventude, cujo tema oficial era o da cultura e não a própria utopia.[xi]
O problema, no entanto, é o mesmo: a cultura poderia ser política – o que significa dizer, crítica e até mesmo subversiva – ou ela é necessariamente reapropriada e cooptada pelo sistema social do qual faz parte? Marcuse defende que está na própria separação da arte e da cultura em relação ao social – uma separação que inaugura a cultura como um domínio de direito próprio e a define enquanto tal – a origem da incorrigível ambiguidade da arte. Pois é essa mesma distância da cultura em relação ao seu contexto social, que lhe permite funcionar como uma crítica e uma denúncia deste, o que também condena suas intervenções à inefetividade e relega a arte e a cultura a um espaço frívolo e trivializado, no qual essas interseções são de antemão neutralizadas. Essa dialética vale, de modo ainda mais persuasivo, também para as ambivalências do texto utópico: pois quanto mais uma dada utopia afirma sua radical diferença em relação ao que atualmente existe, na mesma exata medida ela se torna, não apenas irrealizável, mas, o que é pior, inimaginável.[xii]
Isso não nos leva de volta exatamente ao nosso ponto de partida, no qual estereótipos ideológicos rivais buscavam apresentar esse ou aquele julgamento político absoluto sobre a Utopia. Pois, mesmo se já não podemos aderir sem ambiguidades a essa forma não confiável, podemos agora pelo menos recorrer àquele lema político engenhoso que Sartre inventou para encontrar seu caminho entre um comunismo problemático e um ainda menos aceitável anticomunismo. Talvez algo semelhante possa ser proposto aos companheiros de viagem da própria utopia: de fato, para aqueles excessivamente receosos quanto aos motivos de seus críticos, embora não menos conscientes das ambiguidades estruturais da utopia, para aqueles atentos à função política bastante real da ideia e do programa da utopia no nosso tempo, o lema do anti-antiutopianismo pode muito bem oferecer a melhor estratégia de trabalho.
*Fredric Jameson é diretor do Centro de Teoria Crítica da Duke University (EUA). Autor, entre outros livros, de Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio (Ática).
Referência
Fredric Jameson. Arqueologias do futuro: o desejo chamado utopia e outras ficções científicas. Tradução: Carlos Pissardo. Belo Horizonte, Autêntica, 2021, 656 págs.
Notas
[i] Boris Groys, The Total Art of Stalinism (Princeton, 1992 [1988]).
[ii] Ver Karl Marx e Friedrich Engels, O Manifesto Comunista, Seção III, “Literatura Socialista e Comunista”; ver ainda Friedrich Engels, “Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico”. Ainda que ambos, Lênin e Marx, tenham escrito Utopias: o último em A Guerra Civil na França [1871], o primeiro em O Estado e a Revolução [1917].
[iii] A assim chamada “teoria dos limites” ou “teoria dos objetivos próximos” (“teoriya blizhnego pritsela”): ver Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction (New Haven, 1979), pp. 264–265.
[iv] Ver G. W. F. Hegel, Encyclopedia Logic, Livro Dois, “Essence” (Oxford, 1975 [1817]).
[v] Olaf Stapledon, The Last and First Men/Star Maker (Nova York, 1968 [1930, 1937]), p. 299. O romancista inglês Olaf Stapledon (1866-1950), cujas duas obras mais importantes, há pouco citadas, serão discutidas no Capítulo 9 abaixo, provém daquela que pode ser chamada de tradição de arte europeia dos “romances científicos” ou da ficção especulativa de H. G. Wells, e não das pulps comerciais das quais surgiu a FC americana.
[vi] Alexander Gerard, Essay on Genius, citado em M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp (Oxford, 1953 [1774]), p. 161.
[vii] Ver Parte Dois, Ensaio 4.
[viii] Suvin, Metamorphoses of Science Fiction, p. 61.
[ix] O repúdio da alta cultura convencional à FC – sua estigmatização como estereotipada (que reflete o pecado original da forma ao ter nascido dos pulps), queixas sobre a falta de personagens complexos e psicologicamente “interessantes” (uma posição que não parece estar em dia com a crise pós-contemporânea do “sujeito centrado”), um anseio por estilos literários originais que ignora a variedade estilística da FC moderna (como a desfamiliarização do inglês americano falado, proposta por Philip K. Dick) – provavelmente não é uma questão de gosto pessoal e tampouco deve ser abordado com argumentos puramente estéticos, como a tentativa de assimilar ao cânone determinadas obras de FC. Devemos identificar aqui um tipo de repulsa ao gênero, na qual essa forma e esse discurso narrativo são, como um todo, objeto de resistência psíquica e alvo de um tipo de “princípio de realidade” literário. Para esses leitores, em outras palavras, estão aqui ausentes as racionalizações de estilo bourdieusiano que salvam as formas da alta literatura da associação culposa à improdutividade e à pura diversão e as dota de justificação socialmente reconhecida. É bem verdade que essa é uma resposta que também os leitores de fantasia poderiam dar aos leitores de FC (ver abaixo, Capítulo 5).
[x] Marx e Engels, Selected Correspondence (Moscou, 1975); por exemplo, 9 de outubro de 1866 (para Kugelmann), atacando Proudhon como um Utópico pequeno-burguês, “enquanto nas Utopias de um Fourier, um Owen e etc., há a antecipação e expressão imaginativa de um novo mundo” (p. 172). Ver, ainda, Engels: “O socialismo teórico alemão jamais esquecerá que ele se encontra sobre os ombros de Saint-Simon, Fourier e Owen, três homens que, apesar de sua fantasia e utopianismo, devem ser reconhecidos entre os espíritos mais significativos de todos os tempos, pois antecipam com genialidade inúmeras questões cuja precisão demonstramos hoje cientificamente” (citado em Frank e Fritzie Manuel, Utopian Thought in the Western World [Cambridge, MA, 1979], p. 702). Benjamin também era um grande admirador de Fourier: “Ele esperava a libertação total do advento do jogo universalizado no sentido de Fourier, pelo qual tinha uma admiração sem limites. Não conheço homem que, hoje em dia, tenha vivido tão intimamente na Paris saint-simoniana e fourierista”.Pierre Klossowski, “Lettre sur Walter Benjamin”, Tableaux vivants (Paris: Gallimard, 2001), p. 87. E Barthes era outro desses leitores apaixonados (ver Capítulo 1, nota 5).
[xi] Ver “On the Affirmative Character of Culture”, In: Negations (Boston, 1968).
[xii] De um outro ponto de vista, essa discussão sobre a realidade ambígua da cultura (o que quer dizer, no nosso contexto, da própria Utopia) é uma discussão ontológica. O pressuposto é que a Utopia, que trata do futuro ou do não ser, existe apenas no presente, onde ela leva a vida relativamente débil do desejo e da fantasia. Mas isso significa não considerar o caráter anfíbio do ser e de sua temporalidade, a respeito do qual a Utopia é filosoficamente análoga ao vestígio, só que na outra ponta do tempo. A aporia do vestígio é a de pertencer ao presente e ao passado a um só tempo e, portanto, a de constituir uma mistura de ser e não ser bastante diferente da categoria tradicional de Devir e, por isso, levemente escandalosa para a Razão analítica. A Utopia, que combina o ser-ainda-não do futuro com uma existência textual no presente, é merecedora dos mesmos paradoxos arqueológicos que estamos atribuindo ao vestígio. Para uma discussão filosófica deste, ver Paul Ricoeur, Time and Narrative, Volume III (Chicago, 1988), pp. 119–120.