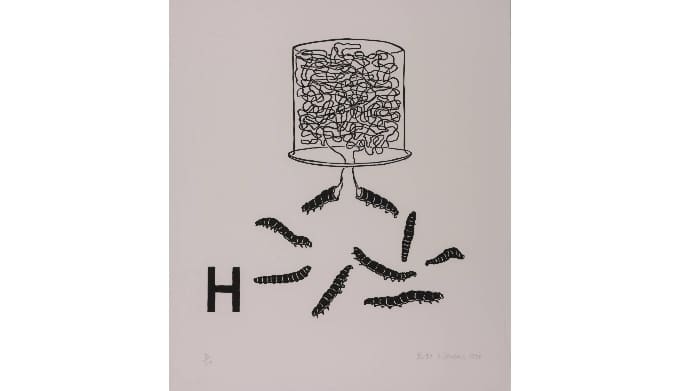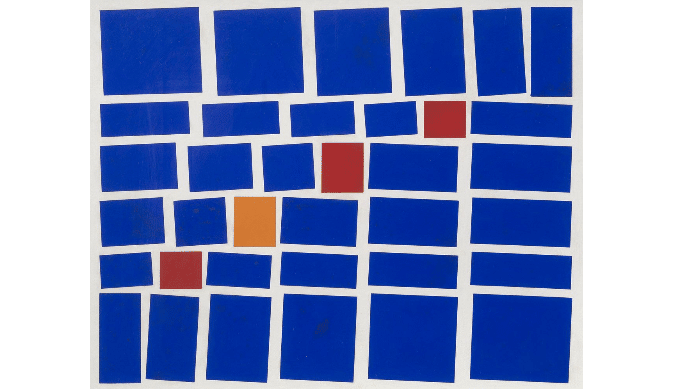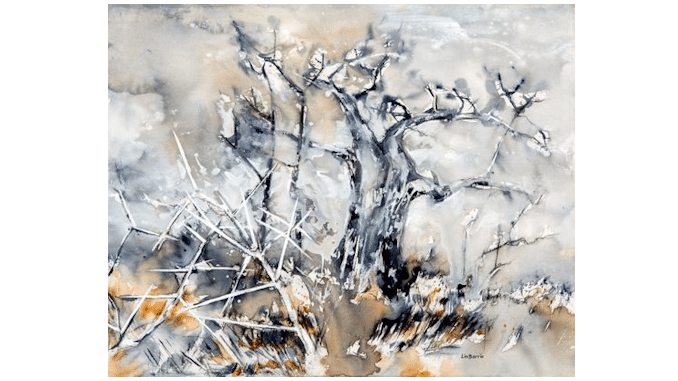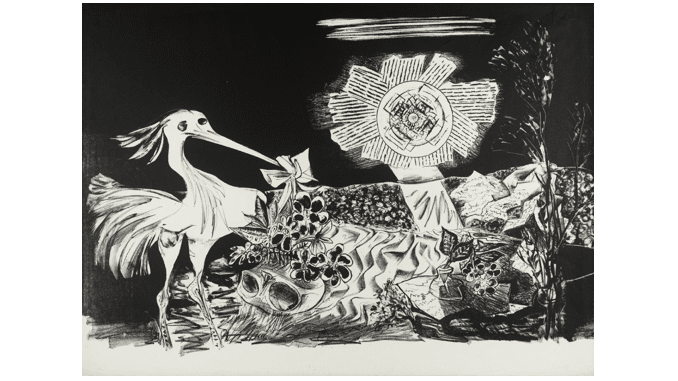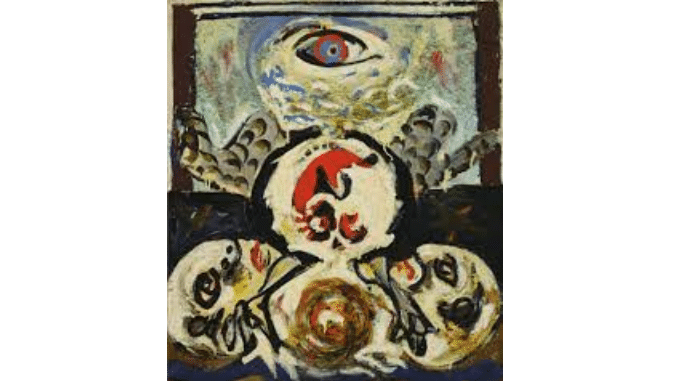Por GILBERTO LOPES*
A reunião do G20 e os desafios da COP26
Com a humanidade navegando nas águas turbulentas do aquecimento global, líderes mundiais de quase 200 países reúnem-se em Glasgow, Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro, convocados pela ONU para discutir como impedir que o barco afunde.
Guerra fria e quente
“Não há desafio maior para nosso país nem para nosso mundo do que a mudança climática”, disse, em seu programa de governo, o então candidato presidencial Joe Biden, lembra Jacob Helberg, assessor sênior do programa de geopolítica e tecnologia da Universidade de Stanford. Helberg é membro do programa de tecnologias estratégicas do CSIS [Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais], um centro conservador de estudos estratégicos, com sede em Washington, onde publicou recentemente um livro – The Wires of war – sobre tecnologias e ameaças chinesas à segurança norte-americana. Compartilha também a direção de um grupo de trabalho na Brookings Institution sobre estratégia e política externa chinesa.
Num artigo publicado na semana passada, intitulado “Um acordo verde na COP26 não pode ser uma luz verde para a China”, advertiu que a administração norte-americana enfrentaria pressões para fazer concessões diplomáticas à China em troca da cooperação do presidente Xi Jinping em matéria ambiental. Para Helberg, os Estados Unidos já enfrentam uma nova Guerra Fria, “que bem poderia se transformar em quente”. Ganhá-la deveria ser “sua prioridade máxima”. Se Biden ceder à China, em sua opinião, “exporá os Estados Unidos a um risco tão grande como a mudança climática: perder um conflito cada vez mais intenso com Pequim”.
Não percebe isso apenas como uma nova Guerra Fria. “O perigo de guerra real também está aumentando”, diz ele. Cita os recentes testes de mísseis hipersônicos e uma longa década de desenvolvimento militar que deu à China a maior força naval e de mísseis balísticos do mundo. “A China está tentando alterar a correlação de forças na Ásia, militarizando o Mar do Sul da China, ameaçando a democrática Taiwan, exercendo uma coerção violenta na fronteira com a Índia e outras iniciativas”.
Para Helberg, um acordo sobre questões ambientais à custa de um apaziguamento das relações com a China “poderia prejudicar a imagem dos Estados Unidos como superpotência e reforçar a imagem, tanto na Ásia como no resto do mundo, de que Washington não é sério em suas políticas de confrontar o poderio chinês”. “Os Estados Unidos não podem enviar essa mensagem agora. Como mostra o jogo de guerra do Pentágono, os Estados Unidos devem aumentar rapidamente suas capacidades militares no Pacífico Ocidental ou correm um grave risco de perder a guerra no Estreito de Taiwan, com consequências devastadoras para toda a região”. Em sua opinião, os Estados Unidos não poderiam liderar o tratamento de qualquer questão global, incluindo a climática, se não protegerem o sistema internacional, que tem liderado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, da ameaça chinesa.
Uma questão traiçoeira
Trata-se de uma visão de mundo que, uma vez compartilhada pelos líderes políticos norte-americanos, poderia nos levar a um beco sem saída (ou a um beco com apenas uma saída). Citando Matthew Pottinger, conselheiro de segurança nacional na administração Trump, Helberg acredita que os Estados Unidos tardaram em responder a este novo desafio. Considerá-lo torna o debate sobre mudança climática uma questão complicada, traiçoeira.
O governo poderia fazer concessões à China para alcançar um novo acordo climático global. Está preocupado com uma carta, assinada por 40 organizações “progressistas”, na qual afirmam que “nada menos que o futuro do planeta depende do fim dessa nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China”. Pedem a Biden e ao Congresso que evitem o predomínio da posição antagônica nas relações com a China, e priorizem o multilateralismo, a diplomacia e a cooperação para enfrentar a “ameaça existencial que representa o aquecimento global”.
Não só isso. Lembram também que os Estados Unidos são muito mais ricos que a China, e são também “o maior emissor de carbono da história, responsável por assombroso um quarto de todas as emissões, desde o início da Revolução Industrial”. Em contrapartida, “as emissões históricas da China são metade das dos Estados Unidos, e as emissões per capita na China são menos de metade dos níveis nos Estados Unidos”[i]. Para Alexander Ward, analista da revista Politico, a carta reflete a confrontação entre duas correntes democráticas: uma “progressista”, que promove a cooperação com a China em questões como a mudança climática, e outra “moderada”, de partidários da cooperação, sem deixar de lado a confrontação.
“Sorry Boris, mas sem a China a COP é um fracasso”
Visão diferente é a de William Nordhaus, professor de economia em Yale e vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2018. Ele considera a COP26 “muito importante”, a maior cúpula já organizada pela Grã-Bretanha, um “ponto de inflexão para a humanidade”.
A COP26 só poderá ser um sucesso se os super-poluidores estiverem presentes: “China, EUA, Índia, Rússia e Japão têm que pôr de lado suas diferenças para enfrentar o problema das emissões globais”, diz ele. Mas ele não vê isso com otimismo. “Suspeito que a COP26 será o local de uma confrontação global, com a Mãe Terra mantida como refém”.
Nem o presidente chinês Xi Jinping, nem o russo Vladimir Putin, participaram da conferência. Tampouco o novo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. Nordhaus associa estas ausências à resistência dos países com muitos interesses em combustíveis fósseis, matérias-primas ou produção de carne aos eventuais acordos da cúpula. Esta não é necessariamente uma posição contrária aos controles de emissão de carbono, mas sim de confrontação com as democracias ocidentais, uma vez que tanto a China como a Rússia firmaram o objetivo de eliminar totalmente suas emissões de carbono entre 2050 e 2060.
Nordhaus publicou um estudo sobre as razões do fracasso das políticas de redução de emissão de carbono. O fracasso deve-se, explica ele, ao baixo preço do carbono. De acordo com o Banco Mundial, o preço por tonelada de dióxido de carbono em 2019 era apenas de cerca de dois dólares, o que mostra porque os esforços para reduzir as emissões têm sido tão ineficazes.
Para reduzir essas emissões e alcançar o objetivo de zero emissões, a economia mundial teria que substituir grande parte de sua infraestrutura energética. Os combustíveis fósseis representaram 84% do consumo mundial de energia em 2019. A redução das emissões a zero nas próximas quatro décadas exigiria entre 100 a 300 trilhões de dólares, diz Nordhaus.
Colonialismo verde
Há outros pontos de vista. Vijaya Ramachandran, diretor de Energia e Desenvolvimento do Instituto Breakthrough, um centro de investigação sobre energia, conservação, alimentação e agricultura em Oakland, Califórnia, considera que as políticas ambientais dos países ricos são “colonialismo verde”.
Cita o caso da Noruega, um grande exportador de combustíveis fósseis, cujo governo ele acusa de tentar impedir que alguns dos países mais pobres do mundo produzam seu próprio gás natural. “Com outros sete países nórdicos e bálticos, a Noruega está pressionando o Banco Mundial a deixar de financiar a produção de gás natural na África e em outros lugares já em 2025”.
A Noruega é “o país rico mais dependente dos combustíveis fósseis no mundo”. O petróleo e o gás representam 41% de suas exportações, 14% de seu Produto Interno Bruto (PIB) e entre 6% e 7% do emprego. Possui as maiores reservas de hidrocarbonetos da Europa e é o terceiro maior exportador de gás natural do mundo. O que propõem é que o banco financie a produção de energia limpa no mundo em desenvolvimento, como o hidrogênio verde, ou através da instalação de microrredes inteligentes de produção de energia.
A ideia de que algumas das pessoas mais pobres do mundo possam utilizar hidrogênio verde – provavelmente a tecnologia mais complexa e cara disponível para a produção de energia – e construir, em poucos anos, microrredes inteligentes na escala necessária, “é absurda”. Chamemos as coisas pelos nomes, diz Ramachandran: a Noruega está propondo uma versão verde do colonialismo. O problema não é apenas a Noruega. “É o mundo rico dizendo ao Sul global para permanecer pobre e não se desenvolver, o que não pode ser feito sem um enorme aumento no uso de energia”.
A hipocrisia, na opinião de Ramachandran, não é apenas característica da Noruega. O presidente Joe Biden, diz ele, acaba de pedir aos fornecedores de energia que aumentem a produção para satisfazer a demanda estadunidense. A chanceler alemã Angela Merkel também estabeleceu metas climáticas ambiciosas, mas deu aos empresários alemães tempo suficiente – quase 20 anos – para abandonarem o uso do carvão como fonte de energia.
Mais de 400 milhões de pessoas vivem com menos de dois dólares por dia na África. Suas necessidades são demasiado grandes para serem satisfeitas apenas pelas tecnologias de produção de energia verde, que são demasiado caras para estes governos.
A agricultura moderna, da qual o continente africano necessita para alimentar sua população e oferecer à juventude rural mais do que a agricultura de subsistência, é fortemente dependente do petróleo e do gás. O fertilizante sintético, necessário para melhorar as colheitas, também é mais bem produzido com gás natural, assim como seu setor de transportes, que depende do petróleo e do gás.
Mais de um bilhão de pessoas na África Subsaariana são responsáveis por menos de 1% da emissão mundial de carbono. Mesmo que estes países triplicassem sua produção de energia apenas a partir do gás natural – o que é improvável, graças à disponibilidade de recursos renováveis como a energia hidroelétrica – as emissões globais aumentariam apenas cerca de 1%. Negar a esse bilhão de pessoas o acesso a mais eletricidade, disse Ramachandran, significaria que provavelmente permaneceriam na pobreza e muito mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global, pelo qual os países ricos são os principais responsáveis.
“Vagas promessas” do G20
Não é apenas a COP26 que enfrenta enormes desafios. Na semana passada, os líderes do G20, o grupo das 20 economias mais desenvolvidas, reuniram-se em Roma. O anúncio de que tinham aprovado um imposto de pelo menos 15% sobre os lucros das empresas multinacionais chamou a atenção dos meios de comunicação. O imposto médio cobrado dessas corporações caiu de cerca de 40% em 1980 para 23% em 2020, de acordo com dados da Tax Foundation, um grupo conservador com sede em Washington que monitora as políticas fiscais.
Em 2017, estimava-se que cerca de 40% dos lucros das empresas multinacionais – mais de 700 bilhões de dólares – estavam depositados em paraísos fiscais. Aplicado a empresas com receitas anuais de mais de 850 milhões de dólares, estima-se que este novo imposto poderia fornecer cerca de 150 bilhões de dólares anualmente.
Mas é uma medida que necessitará de aprovação legislativa em quase todos os países, e em países como os Estados Unidos isso poderia ser difícil. Outro problema complexo é a decisão sobre onde cobrar esse imposto. Mudar a base fiscal do local onde estas empresas produzem – geralmente em países empobrecidos – para o local onde estão sediadas – geralmente em países desenvolvidos – poderia penalizar nações como a Nigéria, Paquistão e muitas outras no mundo em desenvolvimento.
Realizada na véspera da cúpula de Glasgow sobre o aquecimento global, os acordos adotados pelo G20 sobre esta questão também não foram recebidos com muito otimismo. Os participantes concordaram que são necessárias medidas substanciais para manter a temperatura 1,5 grau Celsius acima dos níveis anteriores à era industrial, tal como pactuado no Acordo de Paris de 2015. Mas o comunicado final do G20 forneceu apenas promessas vagas, sem calendário determinado.
A reunião também fez referência à crise da dívida, que aparece na sequência das medidas adotadas para estimular as economias do Sul, em meio à pandemia de Covid-19. O G20 saudou os progressos da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida, que permitiram o adiamento de pelo menos 12,7 bilhões de dólares do serviço da dívida total entre maio de 2020 e dezembro de 2021, beneficiando 50 países. Mas essa dívida aumentou em 500 bilhões de dólares no mesmo período e o acordo dos governos do G20 não envolve credores privados, levando os analistas a ver uma nova crise aproximando-se.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor de Crisis política del mundo moderno (Uruk).
Tradução: Fernando Lima das Neves.
Nota
[i] A carta poder ser lida em http://foe.org/wp-content/uploads/2021/07/Cooperation-Not-Cold-War-To-Confront-the-Climate-Crisis-129.pdf.