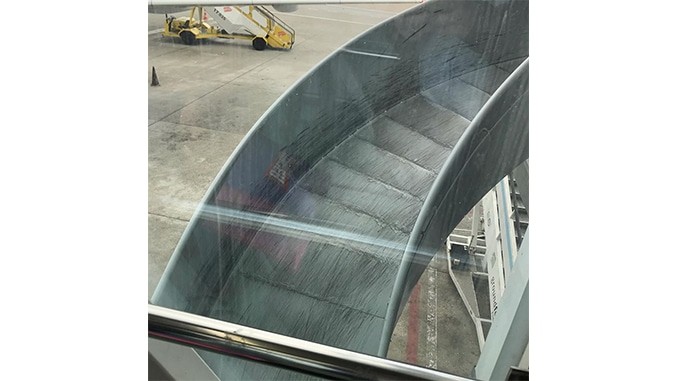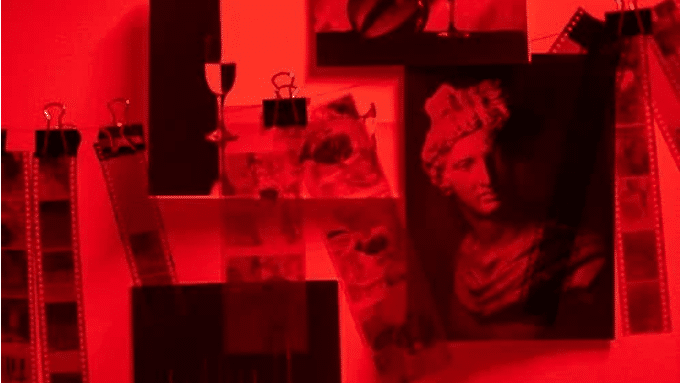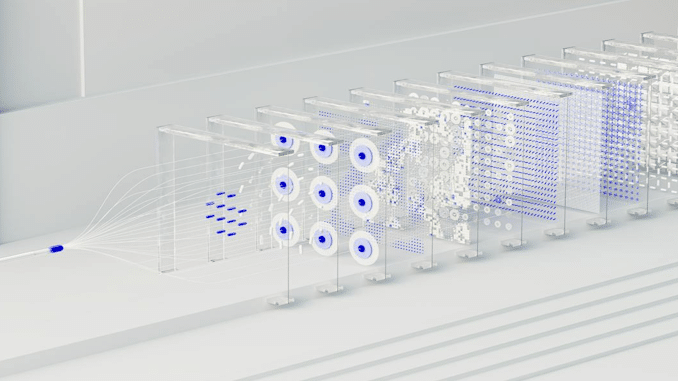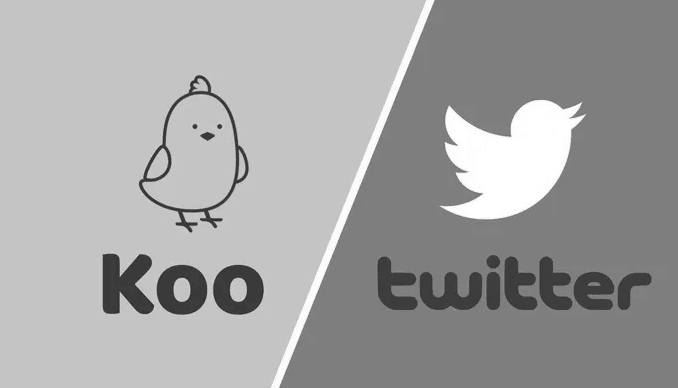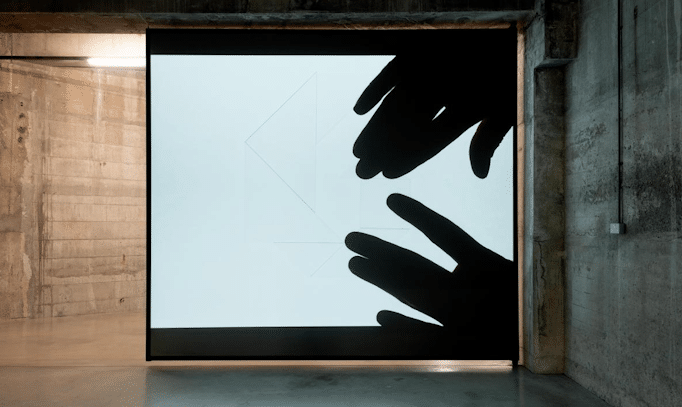Por GILBERTO LOPES*
Uma pandemia pródiga em renovar ideias
O coronavírus não foi derrotado. Bem ao contrário. O pior ainda está por vir, advertiu no final de junho o diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. E tinha razão. A pandemia tomou nova força nos Estados Unidos, onde diversos estados – dentre eles Arizona, Texas, Califórnia e Flórida – tiveram que dar marcha à ré em seu intento de normalizar a vida cotidiana e a atividade econômica, enquanto o país já superou 3,2 milhões de casos e 135 mil mortes.
Mas é na América Latina onde a pandemia mais se acelerou. Brasil e México são agora os dois países com mais mortes diárias. Contudo, Brasil, com mais de 1.200 nos últimos dias, duplica as mortes ocorridas diariamente no México e nos Estados Unidos, que oscilam em torno de 600. Com quase 70 mil mortos, Brasil só está atrás dos 135 mil dos Estados Unidos. Entre os dez países com mais mortos por Covid-19, México superou França e já ocupa o quinto lugar, enquanto Peru, com mais de dez mil, superou Rússia e ocupa o décimo. Mas é o Chile que encabeça as cifras de número de mortos por milhão de habitantes na América Latina, com cerca de 330. Cidades como Bogotá viram triplicar, na última semana, seu número de mortes diárias. Costa Rica, que em 31 de maio tinha 1.056 casos (o que significou em torno de 350 casos por mês durante março, abril e maio), viu disparar o contágio a partir de junho. Terminou o mês com 3.459 casos, o que significou, em apenas um mês, mais que o triplo do acumulado desde o início da pandemia no país, no começo de março. A curva seguiu subindo em julho, quando o Ministério da Saúde reconheceu que o país havia entrado em fase de contágio comunitário e que já não era possível lograr a rastreabilidade dos contágios. A média de casos diários em julho já alcança o total de casos em cada um dos três primeiros meses da pandemia, ainda que o número de 19 mortos até o último domingo 5 segue sendo relativamente baixo. Cuba, com 51 casos ativos, e Uruguai, com 87, no último final de semana, eram os dois países latino-americanos que tiveram mais êxito em controlar a pandemia até aqui.
As cidades desertas
Estamos em território desconhecido, diz a página do PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a Covid-19. “Dezenas das maiores cidades do mundo encontram-se desertas porque as pessoas ficam dentro de suas casas, seja por escolha ou por ordem do governo. No mundo todo, as lojas, teatros, restaurantes e bares estão fechando as portas”. Todos os dia, acrescentam, “as pessoas perdem seus trabalhos e rendas, sem ter como saber quando a normalidade voltará”.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) “a pandemia pôs de manifesto a grande vulnerabilidade de milhões de trabalhadores e empresas”. Conforme o informe mais recente de seu Observatório sobre a Covid-19, no segundo trimestre de 2020, a quantidade de horas trabalhadas em todo o mundo diminuiu 14%. Isto equivale à perda de 400 milhões de postos de trabalho em tempo completo. No primeiro trimestre do ano, perderam-se cerca de 5,4% dessas horas de trabalho com relação ao trimestre anterior, de 2019. Estimava-se que as maiores perdas seriam registradas nas Américas.
Esta semana, de 7 a 9 de julho, a OIT celebrará uma cúpula mundial virtual sobre os desafios que representam a recuperação econômica e a melhora da reconstrução depois da pandemia, na qual participarão o Secretário Geral das Nações Unidas, em torno de 70 chefes de estado e de governo e dirigentes empresariais e sindicais mundiais. Sobre a situação na América Latina, a Cepal [Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe] referiu-se a uma crise que golpeia uma estrutura produtiva e empresarial “com debilidades acumuladas por décadas”. Não se trata dos efeitos da Covid-19, mas de um processo muito mais amplo, como mostra em seu informe. Em 1980, a produtividade das empresas da região (na média) era de 36,6% da produtividade dos Estados Unidos. Quarenta anos depois do processo de liberalização e aberturas, essa produtividade é hoje de apenas 20%.
A Cepal estima que “34,2% do emprego formal e 24,6% do PIB da região correspondem a setores fortemente afetados pela crise derivada da pandemia”. Como resultado da crise, “seriam fechadas mais de 2,7 milhões de empresas formais na região, com uma perda de 8,5 milhões de postos de trabalho, sem incluir as reduções de empregos que ocorram nas empresas que seguirão operando”. Um impacto que será muito maior no setor das microempresas e das pequenas e médias empresas. Um setor cujas condições de funcionamento analisou detalhadamente Benjamín Sáez, da Fundação Sol, uma prestigiosa entidade de análise econômica do Chile. O estudo revelou que a maioria do setor desenvolve-se na informalidade e que mais da metade não consegue gerar lucros superiores ao salário mínimo, evidenciando o fracasso das propostas de “empreendedorismo” que o governo chileno (e também outros na América Latina) sugere como alternativa para a crise.
As habitações sociais
Os relatos multiplicam-se. Paulette Desormeaux conta a história da vida em megaedifícios de 32 andares, no centro de Santiago, onde vive grande quantidade de migrantes venezuelanos, numa reportagem publicada em 22 de junho passado. Os maiores edifícios de Santiago – conta Desormeaux – “estão povoados por milhares de residentes que não podem ficar em suas casas. Johannie Graterol vive em 30 metros quadrados com seu filho de onze meses imunodeficiente e com sua mãe. Os corredores do edifício são estreitos, há poucos elevadores e na enorme torre de 32 andares vivem mais de duas mil pessoas. Mesmo que às vezes lhe perturbe que os vizinhos falem alto ou perambulem pelos corredores, Johannie não quer sair nem para pedir-lhes que diminuam o volume”, acrescenta. “A quarentena impede que saiam à cidade, mas isso não se aplica aos estreitos corredores onde agora transitam para vender toda sorte de produtos, desde pão e arepas até serviços de cabeleireiro e manicure. Ainda que temam infectar-se no meio da aglomeração, exercer o comércio interno é sua única maneira de sobreviver”.
Em dois anos, o município aprovou a construção de 75 edifícios com entre 30 e 43 andares de altura. Sem nenhum limite de densidade. “Assim, as imobiliárias fizeram entre 200 e 700 apartamentos por edifício, onde frequentemente os dutos de lixo ficam cheios e entupidos, e não se conta com suficiente iluminação nem ventilação”. Tão pequenos que, por vezes, uma pessoa pode dar apenas cinco passos dentro de seu lar. “Hoje a municipalidade tem quase 10.500 habitantes por quilômetro quadrado – mais que Hong Kong ou Cingapura”. Nesse pequeno mundo não se pode respeitar medidas de quarentena. Como tampouco se pode em edifícios similares, em Melbourne, capital do estado de Vitória, na Austrália, onde três mil habitantes foram obrigados na semana passada a permanecer fechados por cinco dias, ao menos enquanto lhes aplicavam testes de Covid-19. A história é contada por Calla Wahlquist e Margaret Simons no jornal inglês The Guardian, no último sábado 4 de julho. Os moradores foram isolados segundo seu estilo de vida, sua forma de mobilização, de reunir grupos familiares ou de amigos, disse o governador de Vitória, Daniel Andrews, citado pelo Guardian.O risco de transmissão comunitária é muito alto, afirmou. Residentes que “estão entre os mais vulneráveis e monitorados do estado de Vitória, que possui uma enorme população de novos migrantes, de população indígena, de pessoas com doenças mentais severas, de pessoas que viveram experiências de violência familiar ou situação de rua”.
Com o número de casos aumentando, o Dr. Paul Kelly, chefe dos serviços de saúde, afirmou que o confinamento era uma medida “sem precedentes”, mas necessária para a preservação da saúde pública, dada a vulnerabilidade de muitos dos habitantes das torres. Quinhentos policiais foram encarregados de monitorar a quarentena nas nove torres em Flemington e o norte de Melbourne, para assegurar que “os residentes não saiam de seus pequenos e frequentemente superpovoados apartamentos”. Não houve anúncio prévio. A polícia chegou e cercou o lugar.
– Estacione seu carro e vá para sua casa. Você não pode sair, disse o policial a uma mulher que vinha chegando. Tinha saído para fazer compras um pouco antes e, ao voltar, encontrou o lugar cercado.
– Era chocante, afirmou. Parecia que havia alguma atividade criminosa.
O dinheiro acaba em julho
Todos os países procuram encontrar um modo de manter sua economia funcionando, sem perder de vista a grave situação de milhões de famílias que, sem renda alguma, não têm como enfrentar as dramáticas condições impostas pela pandemia. Rafael Poch-de-Feliu, ex-correspondente em Moscou, Pequim e Berlim do periódico catalão La Vanguardia, estimou que a pandemia está acelerando tendências na economia e na política que já vinham desenvolvendo-se. “As consequências que a Covid-19 está tendo sobre as potências e suas relações não mudaram as tendências gerais anteriores a ela. Apenas agravaram-nas e aceleraram-nas”. Com dez milhões de casos e meio milhão de mortes reconhecidas no mundo no final de junho (em março essas cifras eram apenas de 300 mil e 11 mil, respectivamente), Poch destacou que a expansão geral da pandemia transformou-se numa ameaça global. Em março, nos lembra, “os Estados Unidos aprovaram, com o apoio de democratas e republicanos, a maior operação de resgate da história: dois trilhões de dólares. A chamada CARES Act [Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act] é uma gigantesca chuva de dinheiro público para as grandes empresas e seus acionistas”. Quase dez vezes mais que o destinado a ajudas sociais. “Companhias aéreas – incluído esse pilar do complexo industrial-militar chamado Boeing – recebem 46 bilhões. Famílias e setores populares só recebem o que a congressista Alexandria Ocasio-Cortez descreve como ‘migalhas’: 2,2 bilhões para as ajudas sociais”, disse Poch. Entretanto, em julho, essas verbas já terão sido gastas, em sua maioria. “Isso quer dizer que milhões de americanos se enfrentarão com sérias dificuldades. Julho será, portanto, um mês crucial nos Estados Unidos”, estimou.
Mehrsa Baradaran, professor de Direito na Universidade da Califórnia, em Irvine, escreveu no último 2 de julho no The New York Times, sobre o que chamou “a pilhagem neoliberal nos Estados Unidos”. A crise atual – afirmou – “revela que a saúde da indústria financeira e do mercado de valores estão completamente desconectados da atual saúde financeira do povo norte-americano”. O ano passado foi um dos melhores anos para investidores de capital de risco. Operando em todos os setores, da habitação à saúde e pequeno comércio, espremeram todos até retirar a última gota de lucro, ainda que isso reduzisse salários, empregos e aposentadorias onde era possível. Numa operação que, para Baradaran, acabou desnudando o mito de que maiores lucros resultam em melhores resultados para a sociedade.
O prêmio Nobel de economia, Joseph Stiglitz, também fez uma incursão no provável cenário que nos espera depois da pandemia. Em sua opinião, as expectativas de uma rápida retomada são uma fantasia. “O resultado das economias pós-pandemia será anêmico”, assegura. O gasto se reduzirá devido à situação financeira dos lares e das empresas e uma série de quebras destruirão o capital organizacional e informativo. Stiglitz criticou as objeções conservadoras ao aumento do déficit e da dívida, reivindicando a importância de aportar recursos necessários para o seguro-desemprego, atenção médica e para o apoio adicional aos setores mais vulneráveis.
Nouriel Roubini, professor de economia na Stern School of Business da Universidade de Nova York e presidente do Roubini Macro Associates assinalou que os protestos que se estenderam pelos Estados Unidos após o assassinato do negro George Floyd pela polícia de Mineápolis tinham raízes muito mais profundas. E que o descontentamento não estava limitado aos Estados Unidos. Citou os casos da Bolívia, Chile, Colômbia, França, Hong Kong, Índia e Irã e outros países que, apesar dos protestos eclodirem devido a diferentes acontecimentos, encobrem o descontentamento pela falta de oportunidades econômicas e pela corrupção. Não deveria ser uma surpresa – afirma – considerando a desigualdade de renda que veio crescendo durante décadas, resultado da globalização, do comércio, migração e do debilitamento das organizações de trabalhadores.
Para encarar essa situação, a professora de economia da inovação, Mariana Mazzucato, e o professor de economia industrial, Antonio Andreoni, reivindicaram o necessário papel do estado, como “investidor de primeira instância”, e não como “emprestador de última instância”, como vem ocorrendo nas últimas crises financeiras. “Não mais resgates gratuitos”, afirmaram. “Com os governos gastando enormes somas para mitigar a quebra da economia por causa da Covid-19, deveriam orientar sua economia para um futuro mais sustentável”. Felizmente – acrescentam – os governos destinaram grandes somas a esses investimentos: três trilhões de dólares nos Estados Unidos, 850 bilhões na Europa ou um trilhão no Japão. Mas o dinheiro não será suficiente para resgatar a economia, asseguram. O governo deveria esboçar, implementar e impor condicionalidades aos beneficiários, “para que o setor privado opere de tal modo que resulte num crescimento mais inclusivo, mais sustentável”. Longe de serem “dirigistas”, estas medidas – como estabelecer salários mínimos mais altos, representação dos trabalhadores nas direções das empresas, ou impor restrições à distribuição de dividendos e aos bônus para os executivos – facilitariam a alocação estratégica de recursos, de modo que se invistam produtivamente em vez de serem utilizados a favor de interesses mesquinhos e especulativos.
Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR).
Tradução: Fernando Lima das Neves