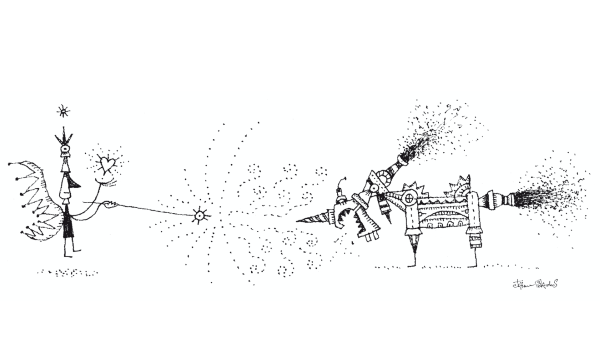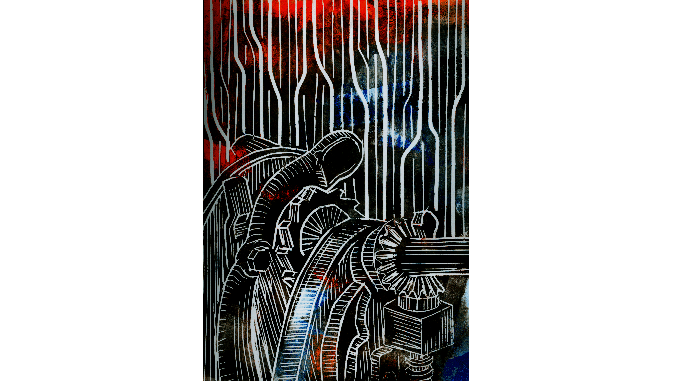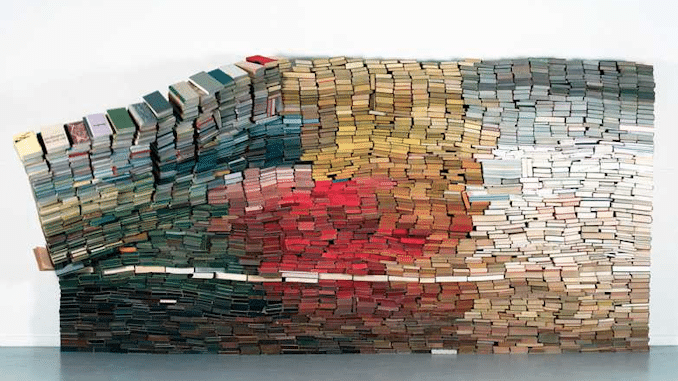Por OSVALDO RODRIGUEZ*
Os gritos dos libertários respondem às mais primitivas demandas pulsionais de uma infância perdida para sempre
Desde que o homem se afastou do estado de natureza, a liberdade tem sido um valor posicionado no centro das relações humanas, que parece estar sempre por ser conquistado ou sob o perigo de se perder. Centenas de civilizações não têm conseguido resolver definitivamente uma medida de liberdade que conforme a todos, e a emancipação, tanto pessoal como coletiva, é sempre algo por vir.
A conjuntura histórica que atravessamos, pandemia no meio, põe em destaque uma antiga tensão entre as liberdades individuais e os cuidados coletivos – nome atual da justiça social. Os cidadãos que desejam viajar para o exterior que são “vítimas” da política de fechamento dos aeroportos, os “anti-quarentena”, os “anti-máscara”, os que clamam a gritos contra o avassalamento autoritário do impedimento à livre circulação, todos estes são fiéis representantes daqueles que aspiram ao exercício ilimitado da liberdade individual. Qualquer obstáculo contra ela deve ser removido da cena. É claro que eles não estão dispostos a nenhuma renúncia em função do bem comum.
Dois fatos interessantes para apontar são que, em linhas gerais, este grupo de pessoas libertárias: (a) pertencem a grupos privilegiados economicamente dentro da sociedade; (b) sentem-se representados por opções políticas que interpretam qualquer tentativa de distribuição de bens, riqueza e direitos como uma política populista, demagógica, castro-chavista e, por que não, comunista, considerando qualquer uma dessas expressões como adjetivos qualificativos despreciáveis.
É preciso lembrar-se daquela primeira dama chilena que, vendo como as demandas populares não cessavam nem diante das balas dos carabineiros no rosto dos manifestantes, disse: “Parecem alienígenas, teremos de ceder algum dos nossos privilégios para que se acalmem”.
O privilegiado é aquele que se apresenta como uma exceção a respeito do coletivo, alguém que não se sente dentro das regras do contratualismo. Se Rousseau, Hobbes, Locke, os pais do contratualismo, estabeleceram que o princípio fundamental da vida em comunidade é que cada indivíduo renuncie a uma porção de sua liberdade para recuperá-la nos benefícios de uma vida gregária, esses sujeitos sentem-se excluídos de ter de realizar tal renúncia.
A pergunta fundamental é se há algum tipo de motivação, para além dos motivos morais, para compreender os fundamentos deste comportamento que afronta a sociedade, e que – se forçamos um pouco os argumentos – chega até a ter até efeito dissolvente da sociabilidade, pois o individualismo mais extremo é incompatível com a vida em comunidade.
Dado meu ofício, e meu costume quando as dúvidas me inundam, fui buscar ajuda na velha raposa de Viena, à procura de um pouco de orientação.
Sigmund Freud, em consonância com os filósofos contratualistas, anteriormente mencionados, também pensa que a civilização é o resultado de uma renúncia, mas o fundamento freudiano não é sociológico, mas sim pulsional. Trata-se da renúncia à satisfação imediata de determinadas demandas pulsionais. Essa renúncia por sua vez é a fonte de uma quantidade de insatisfação que produz mal-estar. O princípio reitor do funcionamento pulsional – o princípio do prazer – deve ser suspendido para achar alguma satisfação substitutiva nos interstícios da realidade.
Nas palavras de Freud: “Esta substituição do poder do indivíduo pelo da comunidade é o passo cultural decisivo. Sua essência consiste em que os membros da comunidade limitam-se nas suas possibilidades de satisfação, sendo que o indivíduo não conhecia tal limitação”[i]
A constituição da civilização tem a mesma lógica que a do sujeito que deseja. Um mítico bebê humano padece de uma insuportável tensão provocada pela necessidade de comer, e toda sua psique se orienta a repetir a experiência que uma vez trouxe a ele satisfação. O que provoca o imediato investimento alucinatório dessa experiência. Será o duro encontro com a realidade mediada pelo auxilio do outro que lhe ensinará a esperar e a fazer os rodeios pelo mundo necessários. Só então irá aprender a distinguir entre alucinação e realidade.
No entanto, ficará inscrito no sujeito para sempre o falso anseio de um mundo perdido no qual somente era questão de desejar para que, sem mediação alguma, surgisse a satisfação. Neste mito constitutivo do desejo humano se ancora a ideia de uma liberdade sem restrições, que em definitiva não é outra coisa senão um desejo infantil, uma regressão a uma etapa irreal.
Freud, em seu texto monumental O mal-estar na civilização, refere-se assim a essa questão: “A liberdade individual não é um patrimônio da cultura. Foi máxima antes de toda cultura; é verdade que naquela época carecia de valor a maioria das vezes, pois o indivíduo dificilmente tinha condições de preservá-la. Por obra do desenvolvimento cultural o indivíduo experimenta limitações, e a justiça exige que ninguém fuja delas. O que dentro de uma comunidade se mostra como espírito libertário pode ser a rebeldia contra a injustiça vigente, em cujo caso favorecerá um ulterior desenvolvimento da cultura, e será algo conciliável com ela. Mas pode também decorrer do resto da personalidade originária, um resto não controlado pela cultura, e se converter, assim, na base da hostilidade para com esta última.”[ii]
Desculpe o leitor pela citação longa, mas não tive coragem de cortá-la, pois acredito que é extremadamente esclarecedora.
Os gritos dos libertários, tão associados pela grande mídia com supostas novas formas de progresso, não são mais que vinho novo em odre antigo, e respondem às mais primitivas demandas pulsionais de uma infância perdida para sempre.
Em definitiva, somente posso terminar estas linhas de reflexão concluindo que ninguém pode ser livre em solidão e que há progressos que atrasam.
*Osvaldo Rodriguez é professor de psicanálise na Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires.
Tradução: María Cecilia Ipar.
Publicada originalmente no jornal Página12.
Notas
[i] Freud S.: El malestar en la Cultura, 1930.
[ii] Freud S.: El malestar en la cultura, 1930.