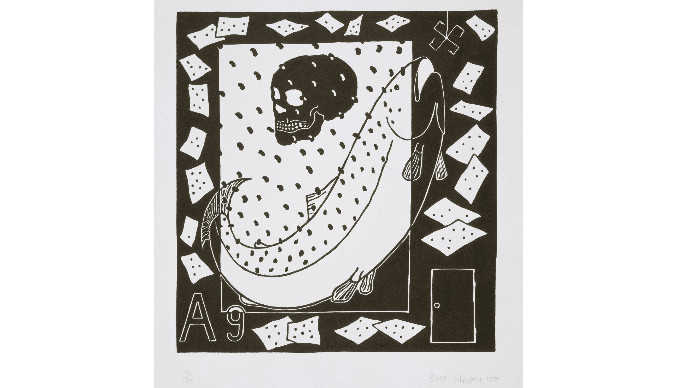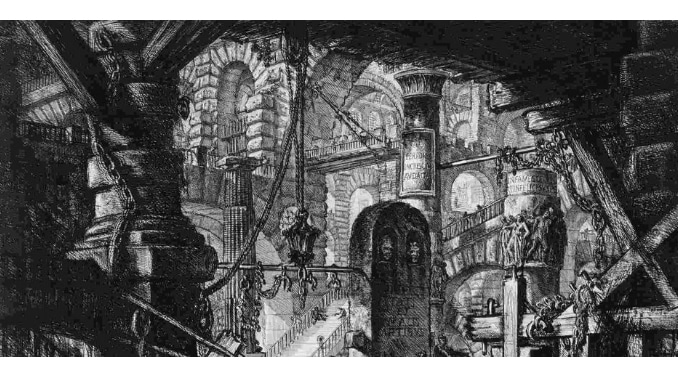Por ARLEY RAMOS MORENO
Caberia a todos os que estamos envolvidos com as humanidades a tarefa de tentar sugerir formas de julgar a qualidade de nossa produção, no interior da universidade tecnológica em que cada vez mais somos inseridos
À guisa de Introdução
1. As diferentes áreas
É amplo e complexo o tema das relações entre conhecimento científico, saber tecnológico e reflexão crítica – o primeiro voltado para a formulação de teorias sobre objetos, o segundo voltado para a formulação de soluções imediatas para dificuldades práticas e, o terceiro voltado para a explicação de pressupostos presentes nos mais diversos raciocínios utilizados para justificar o que fazemos, pensamos e percebemos, inclusive, ao formularmos teorias de objetos e soluções para dificuldades práticas. Além de amplo, sinal de sua complexidade é o fato de que esse tema tem sido centro de intensas discussões ao longo dos séculos, desde os antigos gregos até a modernidade contemporânea. Se vale ainda a pena retomá-lo – e, certamente, sempre valerá – será preciso proceder por partes, escolhendo e sugerindo aspectos que possam ser-nos conjunturalmente mais relevantes, ou mais familiares, sem que percam, por isso, sua natureza universal.
Consideremos um exemplo, já clássico – na verdade, devido a Aristóteles, mas comum entre os pensadores da época – de um aspecto das relações entre ciência e saber prático. No caso da medicina, o cientista visaria exclusivamente elaborar uma teoria que fosse a explicação das doenças que nos afligem; por isso, o cientista teria acesso ao conhecimento de universais. Por seu turno, o médico concentra sua atividade na cura de indivíduos doentes e, por isso, o seu interesse está voltado para a aplicação prática do conhecimento universal da doença. Enquanto o cientista formula teorias sobre universais, o médico lança mão de tais teorias e procura implementá-las na vida prática de seus pacientes – o que faz, certamente, proliferar novas questões, ausentes da reflexão exclusivamente teórica do cientista, uma vez que este não olha para os olhos do indivíduo que sofre, não vê o seu sofrimento, mas, apenas, pensa a doença universal.
Parece haver, então, dois campos diferentes, ainda que não incompatíveis, entre conhecimento e saber prático: enquanto este último necessita colher conhecimentos para ser capaz de agir, o primeiro não precisa agir para conhecer pois move-se na contemplação teórica. Esta separação de tarefas não reflete, está claro, o que ocorre na prática cotidiana do cientista e do engenheiro – chamemos assim o indivíduo do saber prático – onde, efetivamente, os papeis podem ser alternados. A distinção, entretanto, é importante para orientar a análise que segue da posição das humanidades com relação à ciência e à tecnologia.
À primeira vista, não é simples perceber os limites que marcariam claramente a atividade na área das humanidades, por contraste com as áreas das ciências e da tecnologia, uma vez que vemos emergir, no interior das próprias humanidades, disciplinas com pretensão a se tornarem científicas – como é o caso da linguística, da psicologia, da economia, de certos ramos da etnologia, antropologia, sociologia, entre outros – ou, também, com a pretensão de encontrarem soluções práticas imediatas – como é o caso de certos ramos da linguística e da psicologia mais voltados para o tratamento terapêutico e assistencial, ou para a capacitação instrumental em diferentes técnicas; ou, como também é o caso em certos ramos da economia, etnologia, antropologia e sociologia, voltados para atividades de assessoramento das mais diversas instituições.
Assim, no interior das humanidades, temos setores voltados tanto para o conhecimento teórico quanto para o saber prático. Contudo, há outro critério que permite esclarecer os limites entre a área das humanidades e as da ciência e da tecnologia – e, inclusive, situar as diversas disciplinas emersas das humanidades com pretensão tanto a se tornarem científicas como a implementarem soluções práticas a problemas imediatos. O critério é muito simples e, certamente, isento de polêmica: trata-se da natureza do enfoque dado ao objeto de estudo por essas atividades. Se as explicações e descrições produzidas forem causais ou mecânicas, podemos considerar que se trata de atividades científicas e tecnológicas. Se, por contraste, as explicações e descrições se ativerem exclusivamente aos sentidos do objeto de estudo, podemos considerar que se trata de atividades hermenêuticas, reflexivas ou críticas – que poderíamos qualificar de humanísticas, para contrastá-las com as anteriores.
Por exemplo, um ramo da psicologia que descreva aspectos do comportamento humano em termos de reações fisiológicas ou químicas a estímulos poderá ser considerado como ciência empírica, assim como a física e a química, enquanto que um ramo da psicologia que se interesse por aspectos significativos do comportamento humano poderá ser considerado como parte das humanidades.
Temos, assim, um critério bastante simples e esclarecedor – ainda que provisório e apenas preparatório – das complexas relações entre as diferentes áreas: ciência e tecnologia correspondem a atividades que enfocam seus objetos de estudo do ponto de vista empírico, enquanto que as humanidades enfocam seus objetos do ponto de vista dos sentidos que lhes são atribuídos. Esse critério permite esclarecer, por exemplo, que o enfoque humanístico do objeto seja sempre perpassado por conceitos do próprio pesquisador o qual é levado, por isso, a elaborar meta-conceitos para interpretar os sentidos que tematiza – por contraste com o enfoque empírico em que o pesquisador elabora conceitos de objetos, e não meta-conceitos, para descrever e explicar processos naturais segundo modelos mecânicos e causais.
2. Quantidade e qualidade
A preocupação, aliás, legítima, em avaliar a produção intelectual nas diversas áreas da universidade deve atentar para as diferenças básicas entre elas, evitando colher critérios exclusivamente em uma determinada área e aplicá-los a outras áreas. Um dos grandes perigos dessa aplicação generalizada e dogmática, tal como assistimos ocorrer atualmente em nossas universidades, é sua natureza marcadamente ideológica, a saber, o processo que transforma sub-repticiamente medidas de quantidades – adequadas, é importante repetir, para as explicações e descrições com enfoque empírico – em critérios de valoração. O pressuposto ideologicamente marcado é a ideia de que o caráter objetivo da quantificação, que permite medir processos naturais, será conservado no julgamento do valor da produção intelectual – e, mais do que isso, deve ser conservado para assegurar o julgamento isento e imparcial – se quantificarmos essa produção. A produção intelectual passa a ser considerada um processo natural e a técnica de quantificação uma forma objetiva de conferir valor a esse processo – como se n+1 metros ou quilos de alguma substância fosse melhor do que n metros ou quilos dessa substância, ao invés de ser apenas mais extenso ou pesado.
Processo bem conhecido e já bastante analisado por vários filósofos é o da espacialização do tempo – o que é adequadamente realizado pelas ciências naturais, tomando de empréstimo o conhecimento elaborado pelas ciências exatas. Trata-se de fixar em unidades extensas e discretas propriedades de processos naturais, tal como definidas pelas teorias com as quais se deseja apreender conceitualmente os processos. Instrumento teórico importante para as ciências, a espacialização permite tornar extensas as transformações, mudanças e decursos de processos empíricos em geral, e aplicar a eles medidas quantitativas e modelos causais. É o tempo físico que se torna, assim, objetivado na forma de medidas discretas, segundo as coordenadas espaciais que são os dias, as horas, os metros, os pesos, os volumes, etc., que servem para a construção de instrumentos como relógios, réguas, balanças, e outros – tornando mensuráveis, e, com isso, inteligíveis, p.e., a dissolução do açúcar na água, os pontos de ebulição de diversos líquidos e de dilatação de diversos sólidos, o decurso de mudanças biológicas em diferentes espécies e em indivíduos, etc. São técnicas eficazes de apropriação de processos naturais e mecânicos pelo pensamento científico.
Este trabalho teórico de objetivação não pretende aplicar-se, todavia, a processos que não sejam naturais e mecânicos nos quais intervenha o sentido, tais como os processos simbólicos. Assim, p.ex., o físico e o químico não pretendem medir objetivamente a quantidade de justiça ou de beleza, nem mesmo a quantidade de pensamento ou de compreensão evocados por determinado conceito ou por determinada relação entre conceitos. Não é esse o seu objeto de estudos. Não é o mesmo conceito de objetividade que vige nos dois domínios de estudos.
De fato, se a descrição e a explicação objetivas de processos naturais são, em grande parte, conquistadas através da espacialização do decurso desses processos, o mesmo não ocorre com processos simbólicos. Neste caso, como salientamos, será preciso construir meta-conceitos para preservar a objetividade, uma vez que ela não se limita, aqui, a espacializar como condição para pensar quantidades e combiná-las sob a forma de descrições e explicações causais. Será preciso construir instrumentos conceituais que operem sobre outros conceitos, i.e., que neutralizem os conteúdos subjetivos presentes nos sentidos atribuídos aos processos simbólicos estudados. Por exemplo, os conceitos psicanalíticos de inconsciente, pulsão, cena originária, etc., são meta-conceitos construídos pelo pesquisador para neutralizar os sentidos apresentados pelo paciente e permitir que o analista organize objetivamente os processos mentais relatados.
O conceito de objetividade presente neste caso não é assimilável ao conceito homônimo das ciências: enquanto este último corresponde a tornar discreto e quantificável o que nos aparece como contínuo e desprovido de sentido, o primeiro, inversamente, corresponde a neutralizar conteúdos subjetivos presentes nos conceitos apresentados como justificação para o sentido do que fazemos, pensamos, sentimos e percebemos. Para analisar-se objetivamente o sentido não é pertinente a construção de unidades quantificáveis, uma vez que não se trata de medir, mas de interpretar pela mediação de meta-conceitos – os movimentos do processo de objetivação são, como se vê, inversos: em um caso, a medida é um meio para conferir sentido ao processo natural e, no outro caso, a interpretação é um meio para controlar as formas subjetivas de atribuição de sentido aos processos simbólicos.
Por isso é que, ao aplicar-se critérios quantitativos para avaliar a produção intelectual – tanto na área da ciência, quanto na da tecnologia e nas humanidades –, opera-se a seguinte transformação conceitual: na expectativa de conservar a objetividade das descrições científicas, aplicam-se medidas ao que, todavia, não é quantificável por não ser redutível a processos naturais, mecânicos e causais – com a finalidade de avaliar, de emitir juízos de valor de maneira cientificamente objetiva. O valor passa a ser visto sob a forma da quantidade, uma vez que um instrumento das ciências foi aplicado para avaliar processos simbólicos, portadores de sentido, operando, com isso, sua espacialização: ligações de sentido passam a ser consideradas como quantidades espacialmente discretas – sob a forma de número de livros, artigos, publicações internacionais ou nacionais, de periódicos indexados ou não, de textos redigidos em língua estrangeira ou não, em língua inglesa ou em outra língua, número de aulas, conferências, cursos, eventos, assessorias, consultorias, atividades administrativas, e tantas outras unidades espaciais que se queira inventar para que possam ser medidas – e, infelizmente, disputadas entre os melhores candidatos…
Eis uma transformação conceitual da qualidade em quantidade, operada ideologicamente através da generalização indiscriminada do ideal cientificista de objetividade. Esta operação é ideológica em, pelo menos, dois sentidos. Em primeiro lugar, como já indicamos, porque corresponde ao que poderíamos denominar de cientifização tecnológica da sociedade – ao aplicar a ideia de objetividade presente nas ciências a todas as esferas da vida social, tomando-a, de maneira implícita, como correspondência com a verdade, o que seria, aliás, supostamente comprovado pela eficácia das soluções encontradas pela tecnologia. Temos, aqui, os três conceitos-chave que dão corpo ao argumento usado para justificar esta operação ideológica: a objetividade do conhecimento científico conduz à eficácia das soluções tecnológicas práticas, e isto comprova que atingimos o reino da verdade. Em segundo lugar, e complementarmente, no que concerne a avaliação da produção intelectual na universidade, a operação também é ideológica porque corresponde não apenas ao interesse conjuntural em mostrar à sociedade a qualidade excelente dessa produção, mas, principalmente, em mostrá-lo através de medidas marcadas pela objetividade das ciências – assim como, está claro, em poder excluir objetivamente toda produção intelectual que não responda às mesmas exigências, ou melhor, excluir todos os que não se candidatam para a disputa, os que não querem colaborar…
3. A avaliação
Esse quadro mais amplo e prévio poderia esclarecer as diversas situações e as dificuldades que deve enfrentar o processo de avaliação das diferentes áreas da universidade. Uma vez que se consiga esclarecer, tal como tentamos sugerir, a transformação conceitual da qualidade em quantidade, que leva a confundir processo de medida com atribuição de valor, será possível, então, distinguir dois procedimentos diferentes e caracterizar suas respectivas finalidades – sem mais confundi-los.
Em primeiro lugar, o procedimento de quantificar a produção intelectual corresponde a descrever empiricamente essa produção. Procedimento que pode ser bastante útil, para determinadas finalidades, mas que não é capaz de realizar aquilo que com ele se pretende, a saber, avaliar, atribuir valores, desde o excelente até o péssimo. Em segundo lugar, o procedimento de avaliar essa produção corresponde a emitir juízos de valor sobre processos simbólicos os mais diversos – na área das ciências, da tecnologia e das humanidades –, julgar desde o que é excelente até o que é péssimo. No segundo caso, trata-se de julgar a respeito da pertinência, da importância e da originalidade de determinada ligação entre conceitos até então sem relação entre si – ligações tão frequentes e revolucionárias na história das ciências assim como na história da filosofia. Ligações que permitiram criar novas áreas de pesquisa, ligações tais como entre a análise matemática e a geometria, ou entre a análise de funções e a análise lógica da linguagem; a passagem da concepção corpuscular à de onda eletromagnética, assim como a passagem da concepção de espaço absoluto à de espaço relativo, à velocidade e ao tempo; ou, ainda, a ligação entre a concepção medieval monolítica de ideia e a concepção de ideia como processo psíquico e como representação, em Descartes, que permite a passagem do realismo filosófico tradicional às várias formas do idealismo moderno.
Ligações conceituais só podem ser avaliadas, não podem ser quantificadas, e essa avaliação depende de critérios que sejam internos à área em que são produzidos os conceitos e suas ligações. Daí outra característica distintiva fundamental entre avaliação e quantificação: os critérios para avaliar devem ser colhidos no interior dos processos a serem avaliados – o que não ocorre e não deve ocorrer, no caso da quantificação, uma vez que processos naturais não têm sentido enquanto naturais. Ligações conceituais devem ser avaliadas através de meta-conceitos, os quais são instrumentos que permitem organizar os conceitos cuja ligação está sendo avaliada. Por exemplo, os conceitos do campo da geometria analítica permitem comentar, meta-linguisticamente, os conceitos dos campos da geometria e da análise e, assim, julgar sobre a pertinência, importância e originalidade da nova área de conhecimento – da mesma maneira para os casos mencionados da física, da lógica matemática e da filosofia cartesiana. No caso da medida de quantidades, como já notamos, os critérios são externos aos processos naturais e, mesmo, por razões metodológicas, devem sê-lo, uma vez que sua espacialização é uma operação imposta pelo cientista para torná-los inteligíveis e permitir que se lhes atribua um sentido – a saber, o sentido conferido pelos critérios quantitativos para medidas extensas – i.e., no espaço – de duração, volume, peso, massa, energia, etc.
Parece claro, pois, que a avaliação a respeito dos processos simbólicos que são a produção intelectual multiforme da universidade só pode ser realizada através de critérios internos às próprias áreas em que são feitas as avaliações, respeitando-se a lógica de seus conceitos, de suas ligações. Não há padrões universais que possam ser aplicados a todas as áreas para julgar o valor das ligações conceituais, mas, sim, critérios internos a cada área de atividade e, mesmo, internos a cada ramo no interior de uma mesma área e, inclusive, internos a cada teoria – com o grau de detalhamento a que se propuser a avaliação.
Assim, no que concerne à atividade de avaliar a produção intelectual na universidade, todas as áreas podem submeter-se a critérios internos e específicos – repitamos, com o grau de detalhamento desejado – que permitem julgar sobre a qualidade das ligações conceituais apresentadas, desde os casos de excelência até os casos a serem desprezados, passando, inclusive, pelos casos dos erros fecundos, tão habituais na história da ciência e da filosofia. Nesse sentido, seria um profundo equívoco avaliar procurando preservar a especificidade das diferentes áreas através de quantificações diferenciadas, como, p.e., estipulando que livros, artigos, cursos, conferências, assessorias, etc., possuiriam pesos diferentes para cada área – independentemente de sua qualidade simbólica, irredutível a pesos e medidas.
4. As humanidades
Finalmente, é apenas dentro deste contexto que seria conveniente refletir, com um pouco mais de clareza e com menos confusão, sobre a especificidade da área de humanas, sobre sua posição e sua função no interior de uma universidade cada vez mais dominada pela ideologia que poderíamos denominar de cientificismo tecnológico – mescla de saber prático e de conhecimento científico que fundamenta sua concepção de conhecimento e sua atividade institucional, como salientamos, através dos conceitos de objetividade científica, eficácia na solução de obstáculos naturais e práticos e de verdade, como correspondência entre conhecimento, saber prático e eficácia – ou, em outros termos, como correspondência entre ciência e tecnologia.
Nessas circunstâncias – as quais, aliás, não são exclusivas da sociedade brasileira – caberia a pergunta do poeta, transposta, agora, para o novo contexto: Para quê as humanidades em uma época estéril?
Universidade tecnológica
1. Objetividade e certeza
Diversas e ancilares são as concepções a respeito do que sejam sujeito e objeto, assim como a respeito de quais sejam as relações que mantêm entre si. Como consequência, diversas também são as respectivas qualificações atribuídas ao conhecimento, caso seja mais ligado a exigências do sujeito ou mais ligado a exigências do objeto, como sendo conhecimento subjetivo ou conhecimento objetivo. Longa e profunda é a história do diálogo entre as diferentes concepções e, principalmente, dos critérios apresentados para fundamentá-las – profunda por revelar marcas das visões de mundo características de cada época e de suas transformações.
Um caso marcante, e sem dúvida exemplar, que aqui nos interessa diretamente, é o da revolução galileana, ao colocar um novo paradigma para o conhecimento objetivo dos fatos naturais. Será objetiva, a partir de então, apenas e exclusivamente a atividade de tradução, para a linguagem matemática dos homens, dos caracteres matemáticos naturais com que Deus escreveu a natureza, ao criá-la – conforme a esta instigante metáfora em que a criação divina se fez como redação matemática e segundo cálculos geométricos. Será preciso decifrar aqueles últimos e traduzi-los para os primeiros, criando para tanto uma linguagem adequada, que esteja à altura da outra, divina. Eis o fundamento da objetividade, a partir de então – por oposição a outras formas de atividade imunes à matematização, como as investidas no mundo interior e misterioso do sujeito, suas paixões, intenções, sentimentos e representações mentais. Eis o novo paradigma para o conhecimento objetivo e para o seu oposto, o conhecimento subjetivo.
Este mesmo paradigma de objetividade vige, certamente, até hoje, sendo, inclusive, o ideal perseguido pelos vários setores do conhecimento que se destacam, progressivamente, da reflexão filosófica e passam a constituir o conjunto das denominadas “ciências humanas”. Esse ideal passa, então, pela construção de modelos teóricos que, à exemplo daqueles das ciências naturais, reflitam e expliquem os fatos estudados – neste caso, fatos humanos, respeitando sua natureza simbólica. O mesmo estado de ansiedade poderá ser estudado, legitimamente, tanto pela medicina quanto pela psicanálise – ou, a mesma aglomeração de pessoas, em um espaço restrito, poderá ser estudada, legitimamente, como uma modalidade de saturação enumerável, de um intervalo finito, por pontos quaisquer, conforme a uma determinada taxa constante de frequência quanto como uma reunião de protesto em frente à Reitoria de uma Universidade. Será preciso, para as ciências humanas, construir modelos mais sofisticados do que os “energéticos” (segundo a esclarecedora distinção sugerida por G. Granger)[1] – nos quais o fluxo de energia é constante e esta é funcionalmente homogênea durante todo o percurso – a saber, modelos que podemos denominar de “informacionais” por introduzirem um excedente de energia resultante que retorna à entrada do sistema, modificando seu próprio funcionamento. É o efeito de feed-back, em que o sistema recolhe e integra elementos externos a ele para modificar seu funcionamento; é como se o sistema “aprendesse” com sua ação, à imagem do homem.
Modelos deste último tipo são bastante conhecidos nas áreas de psicologia da aprendizagem e de inteligência artificial – e, sobretudo, são também conhecidas as diversas tentativas históricas de implementá-los, como a economia política de Marx e a psicanálise de Freud – tentativas, certamente, mal sucedidas, por razões diferentes –, a linguística de Saussure e o gerativismo de Chomsky – cada uma abrindo, a seu modo, novos horizontes promissores. É o paradigma galileano que permanece, em todos os casos, como pano de fundo inspirador das tentativas de tratamento científico do fato humano. Atividades que eram tema apenas de reflexão filosófica passam, aos poucos, a participar da área das ciências, sob a forma das ciências humanas, ou – se preferirmos ampliar o campo da reflexão filosófica e incluir outras especialidades reflexivas e não científicas – essas atividades deixam de participar da área das humanidades para enriquecer o domínio das ciências.
A força do paradigma vem de sua história de aplicação e de sucesso, tanto pelo domínio dos fatos naturais quanto com o consenso que, por isso mesmo, consolidou durante os séculos. Daí, ironicamente, o perigo que esse mesmo paradigma pode representar ao impor uma sua imagem e, com isso, conduzir a um uso ideológico, o cientificismo – já tão conhecido, desde então –, a saber, a ideia de que está assegurado nosso acesso à verdade absoluta, por ser objetivo o conhecimento e não ser subjetivo – ainda que seja provisória a verdade a que chegamos, ainda que apenas uma etapa na via real, contudo, já aberta pelo paradigma. Será contra esse uso exagerado do bom paradigma que surge novo personagem no drama das ideias.
De fato, embora possamos estar certos da objetividade do procedimento científico, será sempre possível duvidar do que afirmamos conhecer objetivamente segundo o paradigma galileano. Sempre poderemos levantar dúvidas a respeito de uma afirmação objetiva qualquer sobre fatos da natureza, dos mesmos fatos escritos em caracteres matemáticos por Deus. São bem conhecidos todos os argumentos clássicos a respeito das boas razões que tem, neste caso, o cético: ilusões dos sentidos, sonho, deus enganador. Assim, ganha a cena um personagem do mundo subjetivo, personagem que habita o domínio em que Deus não escreveu em linguagem matemática, e que será o único capaz de eliminar a dúvida e garantir a certeza absoluta. Note-se que, neste caso, não se trata da verdade objetiva do cientista galileano, mas de um elemento de outra natureza, de algo que virá fundamentar a própria verdade objetiva – algo que é condição da objetividade do conhecimento, mas que não se reduz a um conhecimento objetivável em caracteres matemáticos. Será este elemento subjetivo o fundamento da própria verdade do conhecimento objetivo, indicando, assim, que a verdade objetiva não é absoluta mas depende de um fundamento exterior a ela e de natureza subjetiva. Evitar-se-á, com isto, de direito, a aplicação ideológica do paradigma galileano de objetividade do conhecimento científico. É assim que procede Descartes, como sabemos, ao insistir que, embora seja preciso fazer ciência todos os dias e refletir em filosofia apenas alguns dias por ano, é preciso não esquecer de refletir pelo menos alguns dias por ano… – sem o quê, acrescentaríamos por nossa conta, pode-se cair na tentação ideológica do cientificismo.
Assim, é um elemento subjetivo que passa a fundamentar a objetividade do conhecimento desenvolvido na ciência galileana, por exemplo, a verdade de que 2+2 seja 4, ou a de que um triângulo tenha três lados – verdades com que deciframos o livro da natureza redigido por Deus. A certeza de que pensamos, ao duvidar, garante que não nos enganamos ao somar, ao definir figuras geométricas, ao olhar para os fatos do mundo exterior – uma vez que Deus, certamente o mesmo de Galileu, não nos enganaria. Não basta, pois, reconhecer a verdade objetiva do conhecimento científico; é preciso, mais do que isso, admitir que ela não é absoluta e não deve, então, ser aplicada de maneira generalizada – nem afirmada de maneira dogmática. Assim como não basta apreciar um bom vinho de cepa superior, mas é preciso não se deixar intoxicar por ele – inclusive para poder voltar a apreciá-lo… com frequência.
Eis uma profunda lição que nos legou o idealismo filosófico: ao esclarecer o sentido da objetividade científica, mostrou que esse conceito tem suas condições de aplicação e de validade limitadas pela presença de um sujeito de conhecimento – e não, é claro, de um sujeito individual e psicológico – que pensa e age, criando, assim, critérios para justificar seu pensamento e sua ação. A construção de técnicas e sistemas de medida é um exemplo simples, mas esclarecedor desta profunda lição do idealismo. De fato, se o conhecimento objetivo, em estilo galileano, conduzisse a verdades absolutas e independentes do ponto de vista de um sujeito epistêmico, então, por exemplo, nada poderia ser dito a respeito da ebulição dos líquidos a não ser que entram em ebulição – pois seus diferentes pontos de ebulição são relativos a diferentes sistemas de medidas que marcam a presença do sujeito epistêmico: a água ferve a diferentes temperaturas, ou melhor, a tantas temperaturas quantas forem as escalas de temperatura propostas para medir seu ponto de ebulição. Este simples exemplo é válido para outras situações mais complexas e que parecem levar consigo consequências maiores: as medidas de velocidade, como a do som e a da luz, que são a base para medir distâncias astronômicas e microscópicas como, também, biológicas. Para Deus, que tem conhecimento absoluto da verdade, essas distinções não fariam o menor sentido, por serem relativas à presença do sujeito epistêmico. A matematização e formalização dos modelos científicos é a garantia de sua objetividade, segundo o paradigma galileano, e, ao mesmo tempo, é a garantia de que nos afastamos do conhecimento absoluto da verdade. Ao relativizar a verdade do conhecimento objetivo da ciência galileana, o idealismo mostra que o conhecimento universal assim obtido jamais será absoluto. Em outras palavras, o idealismo esclarece o sentido do conceito de conhecimento universal ao situá-lo no domínio das ações humanas, como o consenso a respeito de procedimentos metodológicos, e afastá-lo de supostas conotações metafísicas.
Da mesma maneira, o idealismo mostra que o sujeito epistêmico é o autor dos critérios usados para justificar que o conhecimento científico seja considerado como objetivo – por oposição a outras formas de abordagem da experiência consideradas como subjetivas. Legou-nos, enfim, o esclarecimento da situação conceitual em que o conceito de objetividade tende a ser aplicado de maneira dogmática, ou melhor, em que se aplicam os mesmos procedimentos do paradigma galileano a todos os setores da experiência, para garantir a objetividade dos resultados, inclusive àqueles setores que se mostram imunes a tal aplicação – como, no caso que aqui nos interessa, às ligações entre sentidos de conceitos, não entre fatos naturais. Legou-nos, por assim dizer, o antídoto contra esses excessos.
2. Cientificismo e saber prático
Esclarecer esta situação implica que seja possível detectar o pressuposto da aplicação generalizada do paradigma, a saber, como já indicamos, a ilusão de que a verdade objetiva é autônoma e não necessita de qualquer outro fundamento além do próprio objeto. A ilusão consiste, está claro, em conceber a existência de objetos em si próprios como entidades independentes de qualquer outra instância – ilusão, na verdade, muito próxima de nossa atualidade, e com a qual estamos convivendo, a ponto de gerar a necessidade de textos como este que se lê…. O esclarecimento permite com que apliquemos o conceito de objetividade, por assim dizer, com mais objetividade, ou melhor, sem supor que seu sentido seja absoluto e independa de outro fundamento além de sua própria aplicação, segundo o paradigma científico. O fundamento do sentido deste conceito, como o de conceitos em geral, repousa na constante atividade do sujeito do conhecimento que, como dissemos, cria e transforma critérios para o sentido dos conceitos que irá aplicar à experiência. Eis a marca de sua profunda relatividade: as convenções em torno das quais convergimos, mas que é necessário sejam explicitadas e a todo momento retomadas e colocadas em seu devido lugar, a saber, no lugar das humanas convenções – e não na de entidades metafísicas autônomas.
Se conseguirmos afastar o dogmatismo cientificista, graças ao esclarecimento conceitual fornecido pelo idealismo – aliás, sob todas as suas formas, desde Descartes até as fenomenologias modernas –, teremos uma chance de evitar a consequência ideológica dele decorrente que consiste, como já mencionamos, em transformar relações conceituais de sentido em relações entre unidades espacializadas através de índices numéricos. A ilusão metafísica originária conduz, imperceptivelmente, às atitudes e decisões marcadas ideologicamente que excluem tudo o que não se submeter ao padrão de objetividade assim assumido.
Relações conceituais de sentido não são passíveis de quantificação, mas, apenas, de compreensão. Avaliar não é o mesmo que medir: avaliar significa criar critérios para julgar o valor, enquanto que medir significa criar unidades discretas para quantificar extensões. Ora, ao quantificar juízos de valor, conforme ao paradigma galileano de objetividade, com a finalidade de criar critérios para avaliar a produção intelectual – ainda que sem pretender reduzir julgamento a quantificação –, são convencionadas unidades de valor – como tipos de publicações e tipos de atividades – e a elas são atribuídos índices numéricos. As boas intenções, mais uma vez, neste caso, conduzem para bem longe do paraíso… De fato, ao quantificar um juízo de valor, assim como ao quantificar qualquer outro fato ou processo, será preciso, primeiramente, neutralizar o seu eventual valor para, somente depois, numerar. Todavia, seria legítimo neutralizar o valor do que deve, justamente, ser avaliado? É no ato de neutralização do valor que podemos indicar o movimento ideológico, neste processo de quantificação da qualidade. De fato, o valor é neutralizado ao suprimir-se o ato de julgar e substituí-lo por uma “pontuação”. Não faz sentido afirmar que a unidade livro deve valer mais ou menos pontos do que a unidade artigo ou do que a unidade aula, etc. Cada uma dessas unidades não possui a priori qualquer valor que pudesse ser traduzido em quantidade de pontos, i.e., submetido a um padrão para medidas de extensões. O valor não é uma substância que acompanharia cada objeto como se fosse sua extensão física, mas, sim, algo que se acrescenta a ele no uso que dele for feito. Por isso, ao tentar neutralizar o valor de uma dessas unidades, estaremos, na verdade, aplicando de maneira ideológica a legítima exigência de objetivação galileana para fatos naturais, a saber, estaremos agindo como se fosse menos exposto a erros e enganos discretizar o que não é discretizável do que emitir juízos de valor a partir de interpretações do sentido de conceitos.
Caso não seja possível escapar da atual conjuntura que nos coage a agir dessa forma – ou melhor, a quantificar processos simbólicos que são as atividades intelectuais na universidade, passíveis somente de interpretação e julgamento, mas, não de quantificação, e organizá-los sob a forma de planilhas contábeis para prestar contas públicas à sociedade –, que pelo menos tenhamos presente ao espírito o deslocamento ideológico aqui realizado, para que tentemos evitá-lo concentrando-nos no profundo desafio que consiste em sugerir critérios de avaliação compatíveis com a diversidade dessas atividades, inclusive, no interior das diferentes áreas.
Por outro lado, não seria menos importante que conseguíssemos escapar à imagem metafísica da objetividade presente no cientificismo, porque esta imagem favorece outra vertente ideológica forte presente, por sua vez, em nossas sociedades atuais, a saber, aquela que estabelece ligações íntimas entre conhecimento científico e atividade tecnológica. É a ligação, acima mencionada, entre sucesso e eficácia empíricos de implementações técnicas e verdade objetiva do conhecimento científico – como se o sucesso em fazer uma máquina movimentar-se e manipular o ambiente fosse consequência necessária de teorias da aprendizagem e do movimento dos corpos. De fato, e pelo contrário, agimos naturalmente sem qualquer teoria – comemos e nadamos, e, mesmo, podemos até aprender imitando, como, p.ex., a falar –, sem qualquer conhecimento prévio de uma teoria que pudesse fundamentar nossas respostas a respeito do que fazemos. Esse é o ponto de vista da tecnologia, a saber, a implementação prática de esquemas teóricos, e não a construção de teorias a respeito de como são os fatos. A ligação ideológica é, aqui, muito forte, porque coloca em jogo conceitos da tradição filosófica, tais como a tríade platônica entre a verdade, o bem e o belo. Uma vez suposta a conquista da verdade objetiva por meios tecnológicos, tal como ficaria demonstrado pela eficácia de seus sucessos práticos, então teríamos atingido o bem, com justiça para todos e equidade – posto que, atualmente, a entidade social mercado é investida de autonomia e de racionalidade, sendo capaz de distribuir seus produtos segundo as necessidades expressas nas demandas sociais – e, por consequência, o belo – estado social contemplativo de fruição das belas coisas, a ser garantido pela estabilidade econômica, inatingível pelas mazelas do turbilhão da política. Neste esquema, o conhecimento científico, conforme ao paradigma galileano de objetividade, é colocado a serviço do saber prático através de milionários convênios entre universidade e empresa – incentivando a tecnologização das atividades universitárias.
Ora, é fácil constatar que são muito diferentes as formas de uso e de concepção do tempo e do espaço no interior da vida universitária, bastando, para isso, atentarmos para as diferentes atividades que a constituem. Espaços concebidos para a assimilação paciente de conceitos, através de salas de aula, de porte médio, e de muitas salas individuais de leitura, em que mesmo as paredes e janelas são construídas para facilitar a assimilação ativa de conceitos, através de ouvidos atentos ao silêncio e de olhos sedentos de luz – contrastam com grandes espaços de laboratórios em que as ideias se materializam em microscópios e telescópios, ganham vida ao se dissolverem e reagirem com substâncias químicas ou forem projetadas no interior de aceleradores, misturando-se a partículas quase inapreensíveis. Grandes bibliotecas, verdadeiros museus do mais remoto passado, pequenas salas de aula e muitas salas de leitura, contrastando com grandes laboratórios e muitos periódicos atualizados, lugares onde as aulas teóricas se confundem, por vezes, com a manipulação dos conceitos no interior de tubos de ensaio. Por outro lado, por ser altamente individualizada, a assimilação de conceitos e sua interpretação, i.e., e a produção de meta-conceitos, não obedece ao mesmo ritmo das reuniões em grupo e ao trabalho partilhado. Neste último caso, o tempo de produção é mais célere, pois altamente determinado pelo teste dos fatos, através da verificação das hipóteses, e a divisão de tarefas pode ser uma estratégia eficaz, incentivando o trabalho em grupo. Daí o hábito salutar de publicações também partilhadas, com vários autores – hábito, contudo, dificilmente concebível como podendo ser profícuo, na área das humanidades.
Estas diferenças se aprofundam, ao considerarmos as atividades na área da tecnologia. O espaço para laboratórios torna-se o fator mais importante, ampliando e, com frequência, substituindo-se ao espaço dos laboratórios tradicionais da pesquisa científica. Livros e periódicos são substituídos por publicações de “pré-prints”, prenunciando ideias incompletas, mas testáveis por ensaio e erro; hipóteses sobre a possibilidade de fatos são substituídas por soluções ad hoc, a serem testadas ao sabor dos materiais e das circunstâncias empíricas. Assim, também, o tempo de produção torna-se mais célere, pois isto é o que se espera do saber prático – espera-se que saibamos nadar, se jogados ao mar, ainda que não tenhamos aprendido regras de natação.
São essas algumas diferenças na organização espacial e temporal de quem procura construir uma máquina que se locomova adequadamente em uma determinada situação; de quem procura compreender o movimento para tornar-se capaz de responder à pergunta sobre como é ele possível; e de quem procura esclarecer o sentido do conceito de movimento, i.e., de que algo se mova.
Dentro deste quadro é que havíamos sugerido acima a questão das humanidades.
Para quê as humanidades, em uma época estéril?
Uma sugestão de resposta poderia ser o presente texto: sem nada produzir, nem pretender imprimir qualquer transformação nos fatos do mundo, apenas lança uma expectativa de esclarecimento, para o pensamento, sobre o sentido de alguns conceitos.
Desta maneira, sem critérios precisos para responder sequer a essa questão, não podemos evitar a tentação de levantar uma dúvida definitiva a respeito da possibilidade de se apresentar critérios internos aos processos simbólicos que permitam julgar sua qualidade. Em outros termos, não seria mera ilusão procurar julgar objetivamente o que é vivenciado sob a forma da significação, e não do fato, a saber, processos que nós próprios construímos e com os quais estamos inteiramente envolvidos?
Caberia a todos os que estamos envolvidos com as humanidades a tarefa de tentar sugerir formas de julgar a qualidade de nossa produção, no interior da universidade tecnológica em que cada vez mais somos inseridos.
*Arley Ramos Moreno (1943-2018) foi professor titular de filosofia na Unicamp.
Publicado originalmente como capítulo em Formação humana e gestão da educação: a arte de pensar ameaçada (org. Águeda Bernadete Bittencourt e Naura Syria Carapeto Ferreira, São Paulo: Cortez, 2008). Republicado em Em defesa das humanidades (org. e apresentação Rafael Lopes Azize, Salvador: EDUFBA, 2020). Disponível em http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/33450).
Nota
[1] Gilles-Gaston Granger, Formes, Opérations, Objets (Paris: Vrin, 1994, p.14).