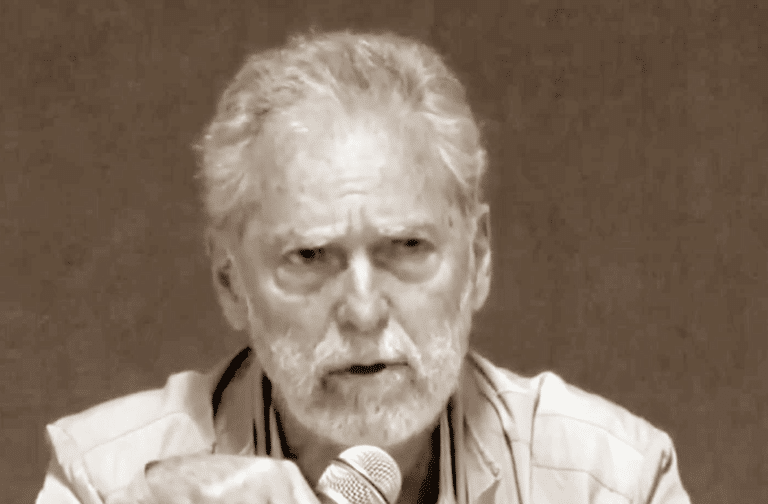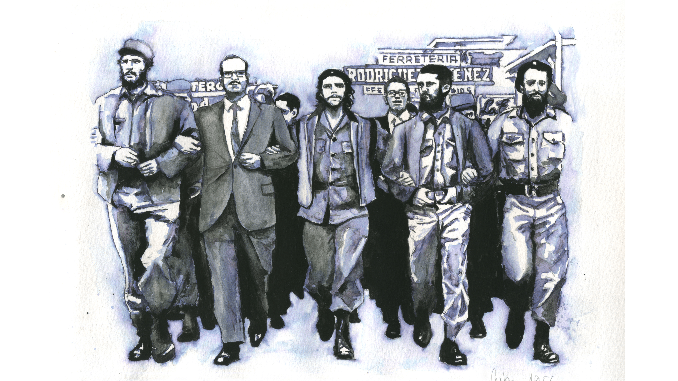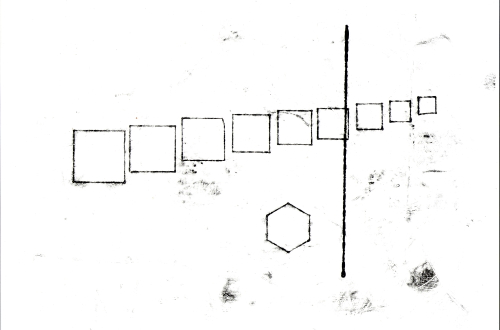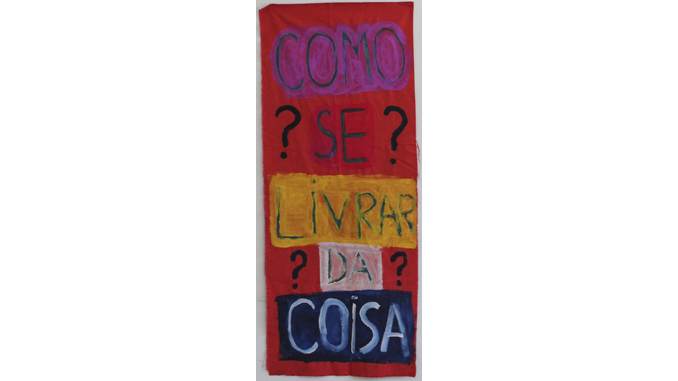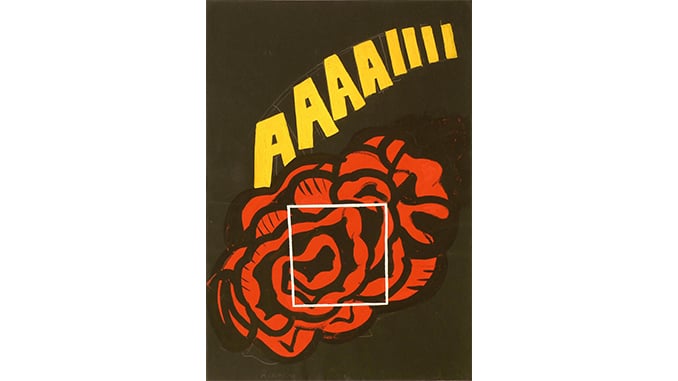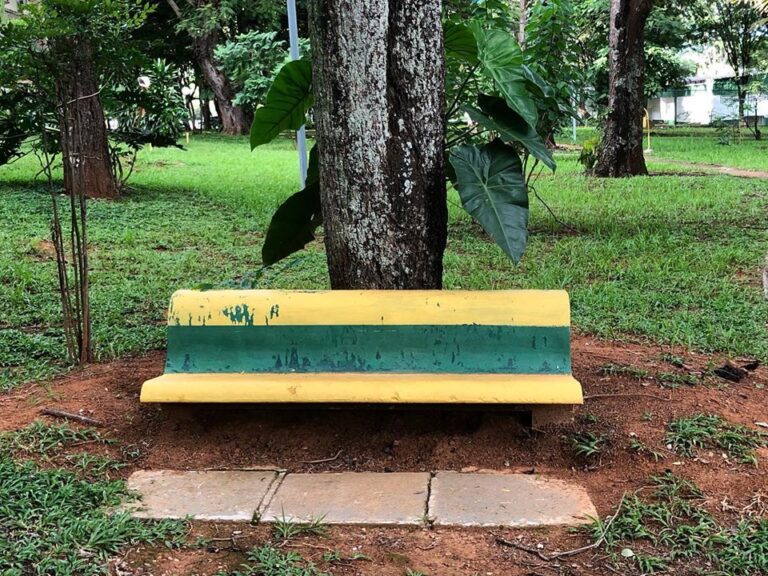Por RODOLPHO VENTURINI*
É possível conceber uma expressão distinta do autoritarismo que funciona pela dispersão e multiplicação das instâncias na qual a “forma autoritária” se manifesta
Publiquei um artigo no site A terra é redonda no qual fiz a sugestão de que o sentido do governo Bolsonaro poderia ser captado a partir da ideia de “autoritarismo micropolítico”. Com esse termo quis apontar para o fato de que é possível existir uma forma autoritária de gestão da vida social, uma forma autoritária de exercício do poder político, que não necessariamente passa, como se costuma imaginar quando se trata de “autoritarismo”, pela mera concentração de poder. Ao contrário, é possível conceber uma expressão distinta do autoritarismo que funciona pela dispersão e multiplicação das instâncias na qual a “forma autoritária” se manifesta.
A formulação dessa hipótese tinha como principal objetivo sugerir que a concentração de poder por parte de Bolsonaro, especialmente no que diz respeito às polícias e às forças armadas, não seria a única e nem talvez a principal ameaça representada por seu modo de operação. Se essa concentração autoritária é sempre um risco, inversamente, a dispersão autoritária também o é. Essa dispersão se dá, muito claramente, por exemplo, pelo incremento da autonomia das formas policiais, pela multiplicação de milícias e pela organização de movimentos de vigilantismo e justiçamento. Ou seja, a dispersão autoritária apareceria como um processo de multiplicação e proliferação de organizações que atuam ou passam a atuar sistematicamente de forma autoritária e violenta em um nível micro, uma espécie de autoritarismo “streetlevel”.
Gostaria de retornar a essa hipótese do autoritarismo micropolítico para fazer algumas observações. Em primeiro lugar, esclareço que parto do pressuposto de que, para entender o bolsonarismo como um modelo autoritário é fundamental levar em conta as experiências históricas do fascismo e do nazismo. No entanto, parece-me que antes de procurar descobrir se de fato o autoritarismo de hoje cai sob o conceito geral de “fascismo”, se pode ser classificado como uma forma ou uma derivação do fascismo, mais interessante parece ser recorrer a essa comparação para tentar entender aquilo que, na verdade, diferencia essas formas, de modo que seja possível captar os traços específicos da forma atual. E o mesmo vale para se pensar a sua relação com a experiência histórica brasileira. Ao levar em conta a relação do bolsonarismo com a ditadura militar, por mais que exista uma ligação óbvia, interessa mais compreender como o bolsonarismo se diferencia enquanto um modelo específico da vida nacional danificada do que simplesmente afirmar que se trata de um resquício ideológico de modelos autoritários anteriores.
Em segundo lugar, o que estou chamando de autoritarismo micropolítico não deve ser confundido com o autoritarismo social característico da sociedade brasileira, a personalidade autoritária nacional. Que essa sociedade tenha fortes traços autoritários, não parece estar em questão. A questão, na verdade, é compreender as razões pelas quais esse autoritarismo social encontra um modo particular de expressão política, e não outro, em um determinado momento. Em outras palavras, com a hipótese de um autoritarismo micropolítico, não se trata de rearfirmar a tese de que a sociedade brasileira é historicamente autoritária, mas de levantar a hipótese de que, atualmente, esse autoritarismo social parece encontrar uma forma particular de expressão política. O autoritarismo social que marca a sociedade brasileira, hoje, encontraria, segundo essa hipótese, expressão em uma forma política que estou etiquetando como autoritarismo micropolítico.
Certamente, é possível argumentar que os processos de dispersão da forma autoritária e concentração do poder em um núcleo centralizado podem ser tomados como sendo um só e o mesmo processo. Separá-los completamente não faria sentido. Nota-se uma retroalimentação entre a dispersão de instâncias de administração social violenta e concentração de poder político por um núcleo centralizado. Não há dúvidas de que os regimes nazista e fascista nasceram e se fortaleceram justamente graças a essa retroalimentação. Nesses regimes, porém, parece ser legítimo afirmar que os processos de dispersão são como que capturados pelos processos de concentração, de modo que o sentido último do processo como um todo é dado pelo núcleo que dirige o poder político, uma lógica geral de centralização em que a concentração é como que o saldo geral.[1] Essa direção da seta fica evidente quando olhamos para o processo de oficialização e incorporação de grupos armados paramilitares no corpo do estado. A SS é um caso paradigmático. De guarda pessoal do dirigente de um partido, a SS tornou-se talvez a organização mais importante da administração nazista ao ser incorporada ao estado e tornar-se órgão oficial responsável pela gestão violenta da vida social. Por mais que as coisas sejam demasiado ambíguas, o movimento atual, no Brasil, parece ser o inverso. A seta parece ir para o sentido contrário. O que se vê é um processo de descolamento das instituições de gestão violenta, que passam a se articular com organizações não estatais e, inclusive, financiar-se por meios “alternativos”.
Antes da estatização característica dos regimes ditos totalitários, o que parece ocorrer, por aqui, é uma aceleração do processo de autonomização dos órgãos de controle social que antes atuavam em nome do estado. Um processo de decomposição e desmanche que é o inverso da composição e construção modernizadora do III Reich. Em resumo, pode-se dizer que, no Brasil, antes de uma policização de milícia e facções, como foi o caso da SS, temos uma milicianização e faccionalização da polícia. Ao fim e ao cabo, talvez, essa distinção seja, de fato, sutil e ambígua, mas sugiro que talvez seu sentido mereça ser explorado se quisermos entender a forma singular de gestão do social de que o modelo bolsonarista parece ser a expressão. No limite, tratar-se ia de um fenômeno de “desestatização” incipiente da administração da violência, um processo de dissolução do suposto monopólio do uso legítimo da força e de relegitimação da violência privada. Depois da redemocratização, temos uma democratização da violência e da participação na gestão violenta da vida. A proliferação dos condomínios fechados e das empresas de segurança privada já era primeiro momento desse processo de desconstrução.
O bolsonarismo e o governo Bolsonaro, certamente, não são a causa da dispersão autoritária, mas eles operam segundo a sua lógica e como aceleradores desse processo, sem dúvida ligado ao declínio da legitimidade estatal e à luta por bens escassos em um contexto de crise. Em tal contexto, temos uma multiplicação e intensificação dos conflitos sociais em um nível micro[2] somado ao enfraquecimento de uma mediação institucional que permitiria uma resolução não violenta desses mesmos conflitos. Sem tal mediação, a força e a violência cumprem essa função. Ou seja, o que estou sugerindo é que o autoritarismo micropolítico é uma resposta a um processo de decomposição econômica e institucional. Ele é uma forma de autogestão da vida social para um momento em que não há gestão possível.
Para tentar colocar de forma talvez demasiado direta, não há dinheiro no Brasil para a construção de um aparato centralizado de controle aos moldes da imagem que fazemos dos regimes totalitários.[3] Se algo como uma forma de totalitarismo periférico emergir do bolsonarismo, esse “totalitarismo” só poderá se apoiar em uma democratização da violência, uma dispersão dos mecanismos de gestão violenta do social que deverá constituir um arquipélago muito mal conectado de organizações e grupos operando em grande medida de forma independente entre si, segundo seus próprios interesses, e não direcionados pela vontade de um núcleo central que seria o rosto e o cérebro da gestão enquanto tais grupos seriam os braços.[4] Assim como a gestão pacífica do social deixou as mãos do estado para ser assumida por uma infinidade de organizações independentes, ONGs, associações de moradores, etc. O que se vê em um regime de autoritarismo micropolítico é este mesmo processo, porém, agora tendo em vista a gestão violenta do social. O principal, no entanto, é que tudo indica que esse fenômeno transcende o atual governo, queira ele dê um golpe ou não, queira ele seja reeleito ou não.
*Rodolpho Venturini é doutorando em filosofia na UFMG.
Notas
[1] Isso talvez se explique fundamentalmente pelo fato de tais regimes estarem orientados por um projeto de construção nacional e estatal, um projeto modernizador carreado por uma economia favorável.
[2] Na medida em que tais conflitos não parecem hoje conseguir assumir uma expressão em um nível macro.
[3] E talvez o colapso financeiro das UPPs seja um indicativo desse fato.
[4] A tal “guerra híbrida” não é uma tática centralizada, mas uma hipótese frouxa que visa botar ordem em um processo que na verdade é caótico. A “guerra híbrida” brasileira é uma “guerra civil” por recursos escassos em que diversos atores avocam para si a tarefa de botar “ordem” nas coisas de modo autoritário e violento.