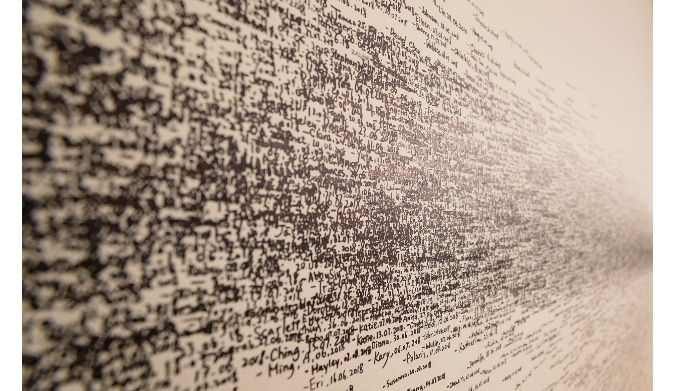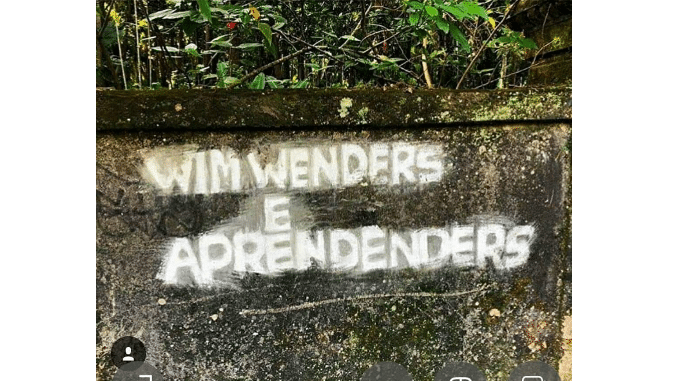Por EMILIO CAFASSI*
O progressismo, vítima de seu próprio caudilhismo, vê a direita avançar. A lição boliviana é clara: nenhum projeto emancipatório sobrevive à confusão entre um líder e o movimento
Até apenas duas décadas atrás, a Bolívia parecia condenada à instabilidade eterna, à expropriação de suas maiorias indígenas e ao banquete das elites crioulas que governavam em seu próprio nome. O surgimento do Movimento ao Socialismo (MAS), primeiro nas urnas e depois na arquitetura institucional, foi uma tempestade que abalou a velha ordem.
Não foi apenas uma mudança de governo, mas uma virada histórica: pela primeira vez, as vozes de camponeses, trabalhadores, comunidades indígenas e setores esquecidos se tornaram lei. O MAS inaugurou um ciclo que não apenas mudou a distribuição da riqueza, mas também restaurou a dignidade daqueles que durante séculos haviam sido condenados à marginalização.
A Constituição de 2009, com seus 411 artigos, foi muito mais do que um texto legal: ela se posicionou como a pedra angular de um Estado plurinacional que ousou reconhecer em si a diversidade de línguas, culturas e visões de mundo. Onde antes até mesmo a existência de povos indígenas era negada, surgiu um pacto legal que fez dos princípios ancestrais – Ama Sua, Ama Llulla, Ama Qhilla (não roubar, não mentir, não ser fraco) – a bússola ética da convivência coletiva. Os direitos sociais foram ampliados, o acesso à saúde e à educação multiplicado, as oportunidades de emprego foram distribuídas e os recursos naturais estratégicos foram recuperados para atender à maioria.
Aquele furacão popular varreu antigas certezas oligárquicas e, em seu lugar, semeou uma esperança sem precedentes na região. A Bolívia deixou de ser a caricatura de um país condenado a golpes de Estado e à servidão externa: tornou-se um laboratório político que irradiava movimentos progressistas dos Andes ao Rio da Prata.
No centro desse ciclo pulsava uma convicção simples e radical: a de que democracia não se trata apenas de votar, mas de reconhecer, dar voz e redistribuir; de abrir canais para a voz silenciada e de entregar poder real àqueles que haviam sido historicamente marginalizados.
Golpe e interregno
A força desse processo não foi linear nem isenta de ameaças. Em 2019, a conspiração das elites políticas, econômicas e midiáticas, em conluio com a OEA e com a aprovação de potências estrangeiras, interrompeu brutalmente o ciclo democrático. O que havia nascido como uma revolução de urna colidiu com a velha maquinaria golpista, reciclada em retórica modernizada, mas com os mesmos fundamentos oligárquicos e racistas de sempre. A repressão, os massacres de Sacaba e Senkata e a perseguição de líderes sociais expuseram de forma contundente até que ponto os poderes constituídos não estavam dispostos a tolerar uma Bolívia plural e soberana.
No entanto, o golpe não pode ser compreendido sem abordar a desculpa que o precipitou. A oposição e a OEA teceram a narrativa de fraude com base na interrupção do sistema de transmissão de resultados (TREP). Essa pausa de 24 horas, seguida por uma oscilação percentual que deu a vitória a Evo Morales no primeiro turno, foi apresentada como prova irrefutável de manipulação. Protestos em massa, deserção policial e a “sugestão” dos militares completaram o cenário: a renúncia forçada do presidente e um colapso institucional tão calculado quanto brutal.
Mas por trás da desculpa também havia uma constatação incômoda: Evo Morales buscava um quarto mandato, embora um referendo de 2016 – patrocinado por ele mesmo – tivesse rejeitado a reeleição por tempo indeterminado. Foi o Tribunal Constitucional, sob sua influência, que lhe concedeu o direito de concorrer, argumentando que impedi-lo violava seus direitos políticos.
Esse excesso de poder personalizou o processo, corroeu a legitimidade e aprofundou o cansaço de um governo que já se aproximava de 14 anos. A desculpa do golpe foi, portanto, construída em terreno fértil tanto pela intransigência oligárquica quanto pela arrogância de um líder que confundiu a força de um projeto coletivo com sua própria permanência.
No entanto, essa fratura não conseguiu enterrar o espírito popular. Apenas um ano depois, a votação se repetiu, devolvendo o MAS à liderança do país e expondo a farsa do golpe. A vitória de Luis Arce em 2020 não foi apenas mais uma eleição: foi a restauração da vontade democrática e a prova de que, apesar da violência e da desinformação, a maioria manteve a memória e uma visão. Na Bolívia, a democracia não foi uma concessão das elites, mas uma conquista que o povo defendeu mesmo em suas noites mais sombrias.
Fratura e desencanto
As eleições de domingo confirmaram a erosão desse ciclo. O que aconteceu não foi simplesmente uma votação: foi um espelho distorcido que refletiu tanto as feridas do progressismo quanto as fissuras da democracia boliviana.
A direita, dividida entre projetos rivais, conseguiu garantir o segundo turno graças a um presente imerecido: a fragmentação do MAS, que se tornara um arquipélago de lideranças conflitantes e desconfiança mútua. A velha máquina popular que outrora varria multidões como um furacão agora parecia exausta, sem uma bússola comum, relegada a um quarto lugar que revela mais de mil diagnósticos.
O ex-vice-presidente Álvaro García Linera foi contundente em seu recente artigo no jornal argentino Página 12: “Um governo progressista ou de esquerda perde eleições por seus erros políticos”. E, neste caso, esses erros se concentram na gestão econômica: inflação de alimentos próxima de 100%, filas intermináveis para combustível e um dólar que dobrou de valor no mercado negro.
Essa deterioração diária atinge onde mais dói: o bolso daqueles que antes viam no MAS um garantidor de dignidade e estabilidade. Mas à crise material somou-se uma crise política: a guerra interna entre um presidente sem épico, determinado a tirar Evo da cena, e um líder histórico que não pode mais ganhar eleições, mas pode dinamitar o cenário político se marginalizado. Foi, nas palavras de García Linera, “o resultado final deste fratricídio miserável”: a demolição do projeto coletivo mais ambicioso que a Bolívia viu em décadas.
Evo Morales, por outro lado, optou por uma interpretação diferente: celebrar o voto nulo como uma vitória. “Votamos, mas não escolhemos”, escreveu após saber que 19% dos bolivianos haviam optado por essa opção. Somado ao voto em branco, o número subiu para 22%, com uma participação de 88%, semelhante à de eleições anteriores com voto obrigatório. Para ele, esses votos expressaram uma mensagem de rebelião contra a corrupção e a “privatização com justiça privilegiada ”.
Em suas palavras, a Bolívia exige “recuperação econômica, estabilidade, crescimento e mais democracia”. Morales insistiu que o voto nulo não era apatia ou indiferença, mas uma forma de interpelação política. Se esses votos fossem somados aos obtidos por candidatos vinculados ao MAS, o número chegava a 30,4%: uma massa significativa que, no entanto, permanecia desarticulada.
Conforme mapea o jornal francês Le Monde Diplomatique, o que antes era a força política mais poderosa da história boliviana agora se fragmentou em quatro pedaços: um MAS pró-governo liderado por Del Castillo, mortalmente ferido nas urnas; Andrónico Rodríguez, o herdeiro deserdado; Eva Copa, uma estrela fugaz projetada de El Alto; e “EVO Pueblo”, a marca pessoal do líder cocaleiro, sem autorização legal , mas com um núcleo firme de seguidores. A tragédia boliviana reside neste paradoxo: o instrumento que nasceu para unificar os povos indígenas e comuns acabou celebrando a rejeição em vez da representação. Um gesto simbólico que, como alerta o jornal, se torna um triunfo moral para Evo Morales, mas ao preço de deixar o campo aberto para a direita.
O paradoxo é brutalmente dramático: o MAS, que outrora personificou o poder transformador dos humildes, agora parece reduzido a facções rivais, consumidas pela melancolia de suas glórias passadas. E enquanto o voto de protesto é celebrado como uma vitória moral, a direita, com uma retórica vingativa e racializada, prepara-se para desmantelar duas décadas de conquistas. A Bolívia, que ensinou ao continente que democracia pode ser sinônimo de dignidade, agora enfrenta o abismo de ver sua democracia reduzida às sombras de seu próprio desencanto.
No início deste século, Bolívia, Equador e Venezuela tentaram o que parecia ser uma refundação democrática. Não incluo Chile e Uruguai: no primeiro, o projeto que emergiu da Assembleia Constituinte foi rejeitado nas urnas; no segundo, o congresso da Frente Ampla deixou a iniciativa no limbo, remetendo-a ao Plenário Nacional.
Mas nos três primeiros países, as novas constituições foram apresentadas como uma carta magna sem precedentes na região: mais ampla, mais ousada, mais inclusiva. Incorporaram direitos sociais até então negligenciados, reconheceram a plurinacionalidade e a interculturalidade e concederam status legal à Pachamama.
A Venezuela inaugurou a democracia participativa com mecanismos de revogação para todos os cargos; o Equador colocou Sumak Kawsay no centro, o “Bem Viver” como horizonte da vida comunitária; a Bolívia reconheceu suas 36 nações indígenas e consagrou a justiça plural e os direitos da Mãe Terra. Os eixos estão delineados nesta tabela bastante concisa.
Reformas constitucionais latino americanas
Mas, no cerne dessas conquistas, uma tensão não resolvida estava se formando. Todas as constituições fortaleceram o papel do Estado na economia e expandiram os mecanismos da democracia direta, mas, ao mesmo tempo, ampliaram – e, em alguns casos, eliminaram – os limites à reeleição presidencial.
Na Venezuela, a reforma de 2009 abriu caminho para a reeleição por tempo indeterminado; no Equador, a reforma de 2015 fez o mesmo, até que um referendo em 2018 a reverteu. Na Bolívia, o Tribunal Constitucional decidiu em 2017 que a reeleição por tempo indeterminado era um direito humano, permitindo assim a controversa candidatura de Evo Morales em 2019.
Essa oscilação pendular – entre a democratização radical e a concentração de poder – acabou enfraquecendo as próprias conquistas. O que inicialmente foi concebido como uma expansão de direitos tornou-se, no imaginário da oposição, um álibi para uma autopreservação autoimposta. E assim, o ciclo progressista que nasceu sob a promessa de ser “mais” democrático acabou sendo denunciado, às vezes com razão, como uma democracia refém de seu líder.
A tentação da reeleição
A reeleição não é uma simples anomalia institucional ou um capricho de líderes carismáticos: ela constitui a pedra angular de uma profunda deterioração da arquitetura republicana e da distribuição de poder. Aqueles que a defendem frequentemente a minimizam com o argumento de que “o que importa são os interesses em jogo” e não a permanência de um rosto na cédula. Mas esse argumento ignora o ponto essencial: que a democracia não se limita a eleger líderes, mas a garantir a circulação do poder, a rotatividade de cargos, a revogabilidade de mandatos e o controle cidadão, entre muitas outras ações possíveis.
A rotação é talvez a forma mais eficaz de erodir o caudilhismo, romper a reprodução de hierarquias e conter a burocratização. Quando a reeleição se torna a norma, a política se torna personalizada e degradada: a sociedade deixa de discutir instituições e programas, passando a discutir indivíduos.
Basta olhar para trás, desde a reforma menemista radical de 1994 na Argentina até o presente com Bukele, que transformou El Salvador em uma vitrine da modernidade autoritária, com trens e criptomoedas como pano de fundo para a repressão massiva, o exílio jornalístico e a demolição de freios e contrapesos, apesar de, há uma década, se definir como chavista. O destino da reeleição ilimitada é sempre o mesmo: um cesarismo plebiscitário que confunde legitimidade eleitoral com legitimidade democrática e acaba corroendo ambas.
A esquerda, no entanto, não se debruçou sobre esse debate. Tanto os partidos marxista-leninistas (comunistas, trotskistas, maoístas) quanto os partidos democráticos e social-democratas construíram estruturas institucionais com padrões democráticos extremamente baixos. Todos eles, em maior ou menor grau, reproduzem formatos oligárquicos por meio da dominação de minorias ou elites. Explorar esses desvios em detalhes exigiria uma análise mais aprofundada; basta observar aqui que a raiz do problema é comum: o desprezo pela rotação como princípio vital da democracia.
A experiência histórica latino-americana mostra que as pessoas pagam um alto preço pela ilusão de líderes “insubstituíveis”. Onde a rotatividade foi quebrada, o caudilhismo, a burocratização e a corrupção se consolidaram. O argumento de que impedir a reeleição “abreviava o processo de transformação” obscurece uma verdade mais profunda: nenhum projeto emancipatório se sustenta pela eternidade de uma figura, mas sim pela democratização radical do poder em direção às bases, vítimas das decisões dos líderes.
O cerne da democratização não está na extensão de mandatos, mas na multiplicação de súditos. Uma cidadania com capacidade de mudança e controle permanente sobre seus representantes é mais forte do que qualquer líder reeleito. O oposto não democratiza a política: não multiplica súditos, não consulta os afetados pelas decisões; é apenas uma ficção disfarçada de popular para ocultar um monopólio: a concentração das chaves do Estado em uma única mão. E qualquer mão que se perpetue no poder, mesmo que tenha nascido com slogans populares, acaba servindo à mesma lógica de dominação que dizia combater. É preciso pensar em Bukele ou em Ortega?
O labirinto do líder
No alvorecer do século XXI, o progressismo latino-americano conseguiu o que parecia impossível: transformar a letra morta das constituições em um arsenal vivo de direitos sociais, culturais e coletivos. Mas, ao mesmo tempo, abriu uma passagem por onde a velha sombra do personalismo se infiltrou. Em nome da continuidade de projetos emancipatórios, os limites da reeleição presidencial foram recuados.
O que começou como garantia de estabilidade diante das ofensivas das elites acabou se tornando um atalho para perpetuar a liderança. Assim, reproduziu-se o caudilhismo paternalista, que induz a crença em líderes insubstituíveis e facilita tanto a concentração quanto a eternização do poder. E assim, o mito do líder indispensável se restabeleceu no cerne das novas arquiteturas institucionais, sem qualquer oposição da esquerda ou dos movimentos progressistas.
A Bolívia personifica de forma flagrante esse paradoxo. O MAS foi derrotado não apenas pela direita, mas também pela incapacidade de separar a força de um projeto da permanência de um homem. Evo Morales, que em seu auge foi um símbolo de dignidade para os marginalizados, acabou se tornando o espelho dessa confusão: a ideia de que sem ele não havia processo, de que a própria história não poderia continuar sem seu nome nas urnas. A arrogância pessoal não apenas corroeu a legitimidade, mas também forneceu à oposição a desculpa perfeita para reativar a máquina golpista.
Hoje, enquanto o voto anulado é celebrado como uma vitória moral e a direita esfrega as mãos, o dilema que se desenrola na Bolívia afeta toda a região: o progressismo pode se reinventar sem líderes eternos? Pode articular novas maiorias sem tornar a democracia refém de uma reeleição indefinida? A resposta não admite demora: o que está em jogo não é a biografia de um líder, mas a persistência de conquistas coletivas que custaram gerações inteiras de luta.
Se a reeleição é politicamente antidemocrática, é também culturalmente autoritária. Reforça papéis hierárquicos, consolida a separação entre líderes e liderados, alimenta a burocratização – e com ela, a corrupção –, instila uma superioridade imaginária no “líder profissional”, desencoraja qualquer avaliação crítica de custos e benefícios, organiza a rede de cooptação e protege seus beneficiários.
O destino do ciclo progressista reside nesta encruzilhada: deixar o personalismo para trás, para que as constituições da esperança permaneçam uma bússola, não um mausoléu. Caso contrário, na América Latina, toda conquista popular continuará fadada a se perder no turbilhão do líder que a escreveu em seu nome.
*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires.
Tradução: Artur Scavone.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA