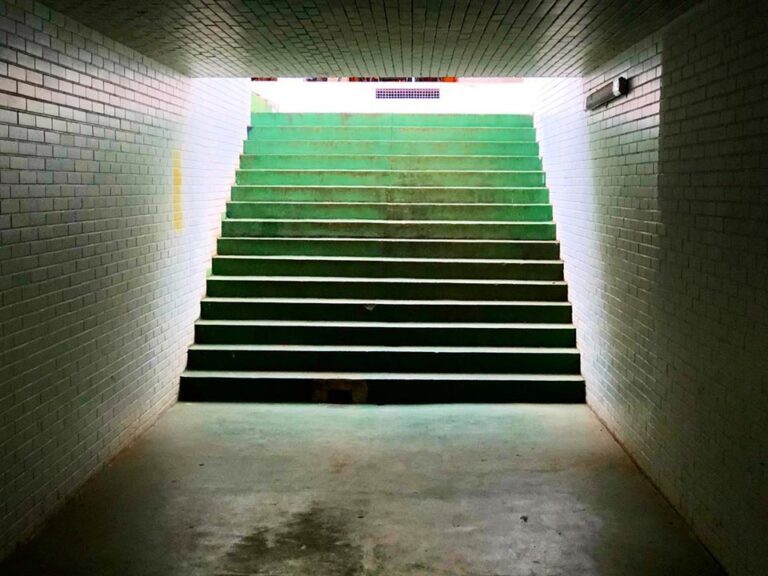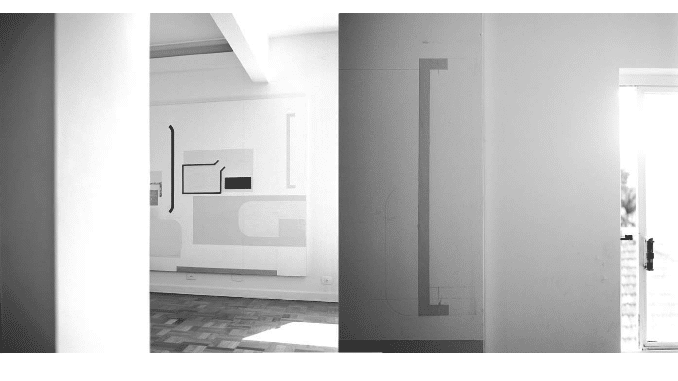Por CARLOS ZACARIAS DE SENA JÚNIOR & MAÍRA KUBÍK MANO*
Defender a universidade, nos dias de hoje, é defender os sujeitos reais que estão no seu interior
A propósito do texto “Quem tem medo dos movimentos sociais”, que publicamos no site A Terra é Redonda , em resposta ao professor da Universidade Federal da Bahia Rodrigo Perez Oliveira, tivemos uma tréplica do colega que pretendeu comentar algumas das questões que colocamos e também lhe foram interpostas por Fábio Frizzo, Marco Pestana e Paulo Pachá, em artigo publicado na Folha de S. Paulo no dia 2 de outubro.
Em sua tréplica, intitulada “Sobre relações entre movimentos sociais de esquerda e universidades”, publicado na revista Fórum (04/10/2024) Rodrigo Oliveira afirma que “Muitos colegas concordaram [com o seu texto ‘Professores universitários odiados à direita e à esquerda’, saído na Folha, em 15/09] e a publicação chamou atenção para a necessidade de criação de um Observatório Nacional com o objetivo de monitorar relatos de todo tipo de violência laboral contra professores universitários”.
O argumento usado por Rodrigo Oliveira segue a mesma linha do que vem afirmando em seus artigos na revista Fórum e em sua intensa atuação na rede social, tema sobre o qual nos debruçamos no nosso texto. Entretanto, o professor da UFBA acrescenta que teria nos faltado empatia frente aos quatro casos que trouxe e que optamos por não discutir e também que “a pressuposição de que em casos de reincidência os tribunais do cancelamento seriam legítimos, com militantes colocando-se na posição de acusadores, julgadores e executores”.
É quase dispensável dizer que não defendemos “tribunais de cancelamento” e nem julgamos legítimo que militantes dos movimentos sociais se coloquem na posição de “acusadores, julgadores e executores”, mas é risível supor que frente a eventuais tensões que são cada vez mais comuns entre assediadores (ou supostos assediadores) e suas vítimas, não raro os estudantes buscam suas organizações e atuam em favor da punição daqueles que consideram culpados. Ignorar isso é desconhecer o funcionamento do conflito numa sociedade de classes, pautada na exploração e opressão dos segmentos subalternizados, que para o colega da UFBA são uma ameaça ao exercício da docência.
Por fim, Rodrigo Oliveira lamenta que a universidade venha sendo cooptada por grupos específicos, o que se insere no mesmo raciocínio do também colega da UFBA Wilson Gomes, que em setembro de 2023 chegou a dizer, entre outras coisas: “Um dos lugares mais insalubres para se trabalhar hoje são as universidades. Ao menor interesse contrariado, à menor reivindicação de hierarquia pedagógica, à mera indicação de bibliografia pode corresponder uma acusação de gravíssimo crime identitário. Crime hediondo, sentença automaticamente cumprida”.
Se é como dizem, e não há hipótese de estarmos em universidades distintas, porque todos somos da UFBA, talvez fosse mesmo o caso de apoiarmos a proposição de criação de um Observatório para monitorar o tema e nos proteger dos tais identitários, esses supostos canceladores violentos, que não respeitam hierarquias, querem impor suas bibliografias e suas lógicas sobre todos aqueles que não rezam em suas cartilhas. Todavia, nós não entendemos desse modo, tanto porque vivenciamos experiências distintas das dos colegas na mesma universidade, quanto porque acessamos dados que desmentem uma visão que consideramos distorcida e superestimada do fenômeno que abusivamente chamam de “identitarismo”.
Nosso objetivo nesse texto não é continuar o debate com Rodrigo Oliveira, nem mesmo apontar os problemas do argumento de Wilson Gomes, algo que, aliás, já foi feito por Joyce Alves, Patrícia Valim e Rosângela Hilário (“A invenção do ‘Tribunal Identitário’”, Folha de S. Paulo, 01/11/2023), mas tratar de questões que têm mobilizado uma parte da academia e dos movimentos que expressam insatisfação com posturas que chamam “identitarismo”.
Nossa intenção, portanto, não é personalizar o debate, mas responder às acusações que vem ganhando espaço no debate público, que dizem que professores são atacados pela esquerda “identitária” como se o grande problema das esquerdas fossem as identidades, e não sua letargia, seu reboquismo e a conciliação de classes defendida pelos partidos hegemônicos e pelo governo Lula que escolhe negociar com Arthur Lira e com o Centrão, ao invés de apostar nas lutas, na mobilização dos trabalhadores e nos movimentos sociais.
A universidade como um espaço de reprodução da violência
A universidade não é, obviamente, isolada do restante da sociedade. Em função de sua missão formativa e de ser um espaço para o exercício de um conhecimento crítico, os conflitos transversais presentes nas relações sociais em seu interior aparecem e, quiçá, são ainda mais ressaltados. Não simplesmente porque haja mais violência, mas porque este deve (ou deveria) ser um ambiente propício a confrontá-la. As salas de aula, em especial, supõe-se que sejam um lugar de questionamentos, de indagação. Afinal, fazer ciência, que é parte da vocação central da universidade, não é fazer perguntas? Não é isso que ensinamos?
Entre os conflitos sociais que se expressam de maneira aguda na universidade, podemos ressaltar aqueles que explicitam as desigualdades de gênero, raça/etnia e classe social imbricadas. Nos últimos anos, graças a um novo momento de fortalecimento dos movimentos feminista, negro, indígena, LGBTQIA+ e de pessoas com deficiência (PCDs), combinado com o acesso à universidade por esses grupos ditos subalternizados via políticas públicas de expansão de vagas e de cotas, têm sido cada vez mais frequentes denúncias de machismo, racismo, LGBTfobia e capacitismo, vindas tanto de estudantes quanto de docentes e técnicas-administrativas. Como resultado, temos visto a implementação de políticas – ainda tímidas na maioria das instituições de ensino superior – de enfrentamento à violências e assédios, tanto moral quanto sexual.
Ressaltamos esse novo momento porque, há alguns anos, seria impensável a exoneração de um docente por assédio sexual, como aconteceu recentemente na própria Universidade Federal da Bahia, onde lecionamos. Tais processos, que se multiplicam, conforme aumenta o número de denúncias, porém, têm muito a avançar, como demonstra o longo tempo transcorrido entre denúncia, reação e resolução. O mais comum, entretanto, é que não haja movimentação institucional da universidade para responder a tais situações. E por universidade leia-se nós, docentes, que ocupamos os cargos de gestão.
Geralmente, a falta de solução leva a descontentamentos, ao desânimo e, em casos extremos, ao adoecimento, à evasão e ao abandono da universidade. Em um projeto de extensão realizado entre 2017 e 2018 na UFBA, quando questionadas sobre encaminhamentos à situações de violência de gênero, seja moral ou sexual, estudantes, docentes, servidoras técnico-administrativas e terceirizadas demonstraram sua descrença na capacidade da universidade em lidar com denúncias.
Ao mesmo tempo, as depoentes fizeram denúncias bastante contundentes do que escutavam, em especial de docentes, homens, heterossexuais, mas também de discentes. O humor aparecia como arma frequente dos agressores, mas também houve quem relatasse o extremo da violência física, como o estupro.
Ressaltamos este contexto porque é diante de um ambiente onde a violência é o que prevalece para os grupos ditos subalternizados que têm acontecido algumas mobilizações que poderiam ser consideradas mais radicalizadas em termos de ação social. E perguntamos: caso a violência não fosse o cotidiano, tais ações, ou melhor, reações, se dariam dessa forma? Certamente não.
Apagamento epistêmico e representatividade
O recente acesso à universidade dos grupos ditos subalternizados via política de cotas também trouxe consigo uma intensa reflexão sobre seu apagamento epistêmico. Nas salas de aula, é cada vez mais frequente a reivindicação por referências bibliográficas que sejam mais representativas de uma pluralidade de pensamento e não se restrinjam aos cânones europeus. Onde estariam autores que não aqueles oriundos de quatro ou cinco países na Europa e dos Estados Unidos?
Constatar a existência de tal reivindicação, contudo, não significa que ela apareça na forma de imposição ou de quebra de hierarquias, como apontam alguns. Na maioria dos casos, a simples constatação da pouca diversidade da literatura utilizada por parte de docentes sensíveis e atentos às transformações, redunda em diversificação. Nessas situações, mesmo sem se ignorarem os cânones, a ampliação das referências incorporando-se a diversidade e, eventualmente, outras epistemologias, contribui para o reforço da universidade como espaço da crítica e do confronto de ideias.
Ao refletir sobre a estrutura de conhecimento nas universidades ocidentalizadas, Ramón Grosfoguel aponta uma relação direta entre os saberes considerados legítimos pela academia com eventos históricos que significaram o apagamento, por meio da violência, de outras formas de conhecimento: “O privilégio epistêmico e a inferioridade epistêmica são dois lados da mesma moeda. A moeda é chamada racismo/sexismo epistêmico, na qual uma face se considera superior e a outra inferior (…). As estruturas fundacionais do conhecimento das universidades ocidentalizadas são epistemicamente racistas e sexistas ao mesmo tempo” (Grosfoguel, 2016).
Ramón Grosfoguel questiona-se sobre quais foram os processos históricos que produziram as estruturas do conhecimento fundadas no racismo/sexismo epistêmico e a resposta, segundo o autor, concentra-se em quatro epistemicídios: a conquista de Al-Andalus; a invasão do continente americano; as populações africanas tiradas à força da África e escravizadas no continente americano; e o assassinato em massa das mulheres indo-europeias acusadas de bruxaria e queimadas vivas pela Igreja cristã.
A universidade brasileira, que tem como ato fundacional a criação da Faculdade de Medicina da Bahia, em 1808, por D. João VI, está, desde sua criação, diretamente ligada a esses eventos históricos e, portanto, assentada sobre o racismo, o sexismo e o colonialismo. Nascida pelas mãos da monarquia portuguesa, ela pouco se transformou no século seguinte, quando o principal evento que faz marca é a missão francesa na Universidade de São Paulo na década de 1930.
A mudança mais significativa veio a partir dos anos 1960, com o acesso da classe média a esse espaço antes predominantemente ocupado pelas classes dominantes. O resultado direto desta expansão da universidade foi o movimento estudantil ter se tornado um ator político relevante no cenário nacional, simbolizando o enfrentamento à ditadura militar. Ainda assim, a universidade permaneceu um espaço pouco representativo do conjunto da sociedade brasileira, em especial no que diz respeito à raça/etnia.
É apenas com a política de cotas, implantada a partir de 2002 inicialmente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que há uma transformação da universidade. Junto com uma ostensiva política de financiamento das universidades privadas, via Prouni – com todos os problemas que ela acarreta – vimos então, Brasil afora, testemunhos orgulhosos de filhas e filhos da classe trabalhadora que conseguiram alcançar uma formação no ensino superior.
Se o ingresso é uma conquista, a permanência mostrou-se desafiadora. As políticas públicas de assistência estudantil, com cada vez menos orçamento, não dão conta de atender a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como resultado, temos um corpo discente que é também trabalhador e que desdobra seu tempo entre a formação acadêmica e o exercício profissional, muitas vezes precarizado. No caso das mulheres e de pessoas que exercem papeis sociais femininos, há ainda a sobrecarga de tarefas de cuidado. Depoimentos não faltam de estudantes que colocam o estranhamento de vivenciar mundos tão distantes: a universidade e o restante de suas vidas.
Ao refletir sobre sua posição enquanto acadêmica negra em espaços predominantemente brancos, Patrícia Hill Collins recorre à formulação da outsider within (forasteira de dentro), pensada a partir da experiência de trabalhadoras domésticas negras em casas de famílias brancas, para tratar desse estar dentro e fora da academia ao mesmo tempo (Collins, 2016 [1986]). Dominar a linguagem do modo de vida branco e viver entre pessoas negras adquire, nesta leitura, um potencial de privilégio epistêmico.
Ser uma mulher negra trouxe a Patrícia Hill Collins inquietações acadêmicas que um homem branco não teria e, consequentemente, fez surgir diferentes perguntas de pesquisa, trouxe distintas construções epistemológicas e moldou de outra forma relações interpessoais na universidade, inclusive nas relações com o corpo discente.
Seguindo as sugestões de Patrícia Hill Collins, uma sala de aula diversa deveria ser um alento, um refresco, um convite para outros pensares e fazeres. O que não estamos perguntando sobre determinados assuntos? Quais autoras/es não estamos lendo? Parte de nossos colegas, porém, responde de maneira reativa a essas oportunidades, pouco afeita a transformações e desconfortos propositivos. Ademais, é fato que embora o corpo discente tenha se transformado substancialmente e adotado uma postura protagonista para reivindicar alterações epistemológicas, o corpo docente é majoritariamente branco.
As cotas para o serviço público encontram dificuldades em serem implantadas nas universidades, sob a justificativa de poucas vagas por especialidades. E quando se pensa que se avançou na questão da reparação via reserva de vagas pelas cotas, não raro candidatas (os) da ampla concorrência questionam os resultados na justiça e obtém sucesso, o que representa um imenso risco para essa importante política pública arrancada aos governos pelos movimentos sociais.
Assim, além de não se ver representado nas bibliografias, estudantes cotistas também se ressentem de uma falta de representação na docência. A política da presença importa. E quantos de nós, docentes brancos, fomos ler, por exemplo, Bell Hooks ou outra/o autora ou autor negra(o) para refletir sobre isso? Quantos de nós, brancos, enegrecemos nossas bibliografias e o quanto lutamos pela ampliação da equidade no acesso às vagas na universidade da parte de pessoas brancas, negras e indígenas? Quantos autores indígenas tomamos como referência?
Identidade e “identitarismo”
Faz-se fundamental acrescentar outra camada à análise feita até aqui: o período de avanço da extrema direita na sociedade brasileira e, em especial, na política institucional, coincide com aquele de transformação mais intensa das universidades. Perguntamo-nos, então, se é possível estabelecer relações entre esses dois fenômenos.
As mudanças nas universidades têm como protagonista uma nova geração que se apresenta mais fluida em termos de identidade de gênero, sendo também bastante marcada por um novo momento dos movimentos feminista, negro e indígena. Em 2015, jovens mulheres ocuparam as ruas das principais cidades brasileiras para contestar um projeto de lei do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que restringia o acesso à pílula do dia seguinte à pessoas vítimas de estupro. No mesmo ano, as mulheres negras organizaram uma marcha à Brasília onde reivindicaram o bem-viver.
Em 2018, o #EleNão foi um movimento massivo e, ao que tudo indica, fundamental para impedir a vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições. Em 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, foi a vez das mulheres indígenas protestarem corajosamente na capital federal. Nossas e nossos estudantes estavam lá, presentes nessas manifestações democráticas e isso deve ser motivo de orgulho para nós que estamos na universidade.
Tais movimentações, contudo, não passaram incólumes. As pesquisas no campo de estudos de gênero mostram que, somadas a avanços recentes, tais como a adoção por casais LGBTs, o reconhecimento do direito de mudar o nome e o gênero sem cirurgia de redesignação sexual e a expansão – tímida – do direito ao aborto legal, incluindo fetos anencéfalos, essa ascensão dos movimentos sociais gerou uma reação conservadora em parte da sociedade brasileira. E também dentro do campo progressista, inclusive entre nossos colegas que enxergam esses movimentos como “identitários”.
Tal reação não é exatamente nova. Durante a década de 1970, os novos movimentos sociais se fortaleceram, por meio de uma onda feminista no Norte global, somada às lutas negras, estudantis, pelo livre exercício da sexualidade e ecologistas. As reivindicações feministas provocaram tensionamentos nas organizações classistas – sindicatos e partidos políticos –, sob desconfianças e acusações de divisionismo.
A partir dos anos 1990, com a consolidação dos estudos de gênero como campo do conhecimento, fortaleceram-se os debates sobre a identidade como categoria analítica. Em Problemas de gênero (1990), Judith Butler foi além da indagação de Simone de Beauvoir (1949) sobre o que é tornar-se mulher para perguntar quem seria, afinal, o sujeito das lutas feministas. Em 1996, Stuart Hall lança a questão: quem precisa de identidade (Hall, 1996)? Nos movimentos sociais, a produção de identidades coletivas é reforçada e a nomeação dos sujeitos políticos se multiplica, como, por exemplo, a identidade queer. A sigla GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) é alterada para GLBT e os movimentos são acusados de fazerem uma “sopa de letrinhas” (Facchini, 2002).
Atualmente, vivemos uma intensificação dos ataques a esses movimentos sociais, característicos de um momento de fascistização social e política. Sob a ótica da extrema direita, tudo está combinado em uma realidade unidimensional: a universidade estaria repleta de esquerdistas, feministas, LGBTQIA+, antirracistas e é um lugar a ser combatido. O novo documentário da produtora negacionista Brasil Paralelo, que supostamente trata da universidade (dizemos “supostamente” porque é uma universidade que não existe que é apresentada na série), é o exemplo mais nítido disto.
Deveria surpreender que, diante desses ataques, nossos colegas, ao invés de defender uma estudante linchada publicamente via redes sociais, se somem à artilharia pesada. O que Tertuliana Lustosa, mestranda da UFBA que viralizou na internet após um evento no Maranhão, fez que provocou também a eles, a ponto de não serem solidários e, pior, culparem-na por um suposto dano à imagem da universidade? Como uma discussão legítima e necessária sobre identidades, práticas acadêmicas e pedagogias alternativas se transformou em repulsa imediata, utilizando-se, inclusive, de táticas da extrema direita ao espalhar memes e expor a pessoa nas redes sociais?
Não cabe aqui aprofundar a legitimidade de sua pesquisa acadêmica e da pedagogia que propõe. Leandro Colling, também professor da UFBA, já explicitou, em artigo recente, como esse novo momento nas universidades trouxe saberes que “transformaram o queer (branco, cisgênero, estadunidense e sudestino) em cuir ou kuir (pensado pelo cu do mundo, pelas nossas abjeções e insultos locais) e se misturou com o feminismo negro, o transfeminismo e o decolonial. Aquele queer inicial não existe mais” (Colling, 2024).
A reação conservadora por parte dos colegas parece apontar para um incômodo latente das mudanças recentes na universidade. Uma incompreensão a respeito do atual corpo discente e de seu potencial. Em uma instituição onde aquelas/es que agora ingressam ainda têm muita dificuldade de se sentirem parte e que é permeada por violências cotidianas, performances radicalizadas e provocativas não deveriam causar espanto. A performance de Tertuliana Lustosa sintetiza um tensionamento que já está presente na universidade. Afinal, o que cabe dentro dela e o que está “fora do lugar”?
Defender a universidade e os movimentos sociais
Defender a universidade, nos dias de hoje, é defender os sujeitos reais que estão no seu interior, com toda diversidade que é observável e lhe é peculiar. É também reconhecer que o produto dessas transformações que diversificaram a universidade repercute na expectativa de diversificação de saberes, alguns dos quais produzidos a partir das identidades dos diferentes sujeitos. Identidades pensadas nesse sentido, como fenômeno real e incontornável, como aponta Asad Haider, “corresponde ao modo como o Estado nos divide em indivíduos, e ao modo como formamos nossa individualidade em resposta a uma ampla gama de relações sociais” (2019).
Nesse sentido, parece ser impossível não apontar que uma universidade formada por uma maioria de trabalhadoras(es), mulheres, negras e negros, LGBTs e PCDs, precisa estar atenta ao que lhe é demandado por sujeitos que se reconhecem a partir da interseção de muitos lugares.
Construir uma universidade capaz de lidar com os desafios colocados pelo século XXI é, portanto, recusar o lugar de desimportância que o atual estágio do capitalismo lhe atribui. É construir resistências, operar a partir das margens, recusando os “identitarismos”, mas assumindo as identidades de onde pessoas reais existem, em busca de outras sociabilidades e outros mundos possíveis.
Com efeito, inscrevemo-nos a partir dos lugares do feminismo dos 99%; do lugar do feminismo negro, dos homens negros, das pessoas LGBTs e dos PCDs, todas trabalhadoras e trabalhadores, que modificaram para sempre a feição da universidade. É, portanto, na interseção desses sujeitos, que é a nossa própria condição de estar no mundo, como docentes e militantes dos movimentos sociais, que pretendemos defender a universidade, seus movimentos sociais e tudo aquilo que construímos nas últimas décadas. Faremos isso contra a ofensiva da extrema direita e de todos(as) aqueles(as) que receiam perder seus privilégios e se imaginam capazes de mover a roda da história no sentido inverso.
*Carlos Zacarias de Sena Júnior é professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
*Maíra Kubík Mano é professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA