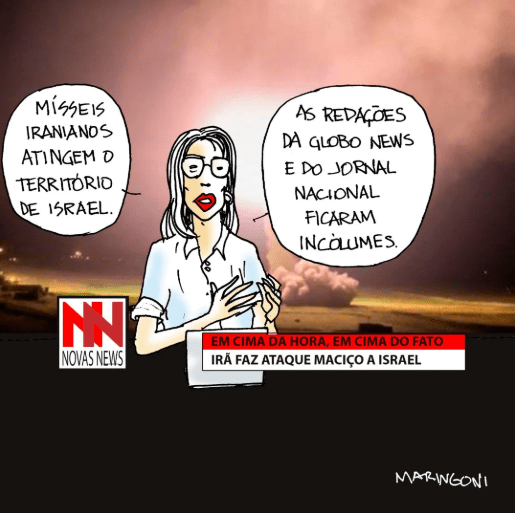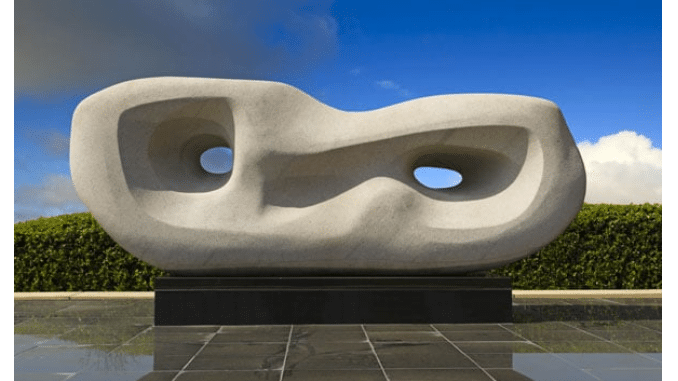Por FLÁVIO R. KOTHE*
As coisas existem, porém, com algum eu ou sem nenhum eu, não dependem dele
A tradição autoritária excomungava a contradição. Era considerada prova de erro, não um registro de problemas que ainda precisavam ser mais bem pensados. Ela queria unidade, obediência. Só no final do século XVIII, quando já havia ocorrido a grande eclosão da burguesia e dos movimentos populares, é que surgiu a formulação da dialética com Fichte, mas como um problema de lógica: o eu gera o não-eu; o não-eu gera o eu.
Essas duas assertivas, embora uma seja o contrário da outra, seriam ambas verdadeiras. Como duas assertivas que se negam entre si poderiam ser ambas verdadeiras? Seria possível também dizer que ambas não são verdadeiras. Seria possível supor que o não-eu existe antes de qualquer eu, só que ele não poderia ser chamado de não-eu se não houvesse um eu: só pode ser chamado de não-eu em função de um eu que o funda. Isso significaria que o eu gera tudo. Cada eu seria um deus criador de tudo. Esse idealismo absoluto pode ser projetado na figura de Deus ou ser a tradução de Deus no sujeito.
As coisas existem, porém, com algum eu ou sem nenhum eu, não dependem dele. Existiam antes do homem e vão continuar a existir depois dele. Só se conhece o não-eu, porém, à medida que ele passa a participar do eu. Se há não-eu no eu, o inconsciente é parte formante do eu. O eu é formado por consciente e inconsciente; o não-eu também é formado por dimensões que podemos conhecer e outras que nos permanecem ignotas. Para o eu conhecer o não-eu, ele precisa interiorizar o não-eu. Haveria, portanto, um não-eu no eu (que seria inconsciente, ou o inconsciente).
Autoconsciência seria o eu tomar conhecimento de si mesmo. Se, no entanto, esse si mesmo teria uma dimensão inconsciente no sujeito cognoscente, ela seria ampliada pelo fato de haver também a dimensão do que não conhecemos nas coisas que existem. Portanto, além do inconsciente do sujeito teríamos de admitir o inconsciente das coisas, nas coisas. Elas não coincidem exatamente com nossos objetos de conhecimento. Esses objetos não são idênticos às coisas.
Schelling achava que teria o Absoluto quando o subjetivo e o objetivo coincidissem. Assim teria Deus, o eu seria deus. Impávido engano. O sujeito pode até supor que o que ele imagina que as coisas sejam, fingindo que pensa, é idêntico ao que existe dentro dele. Tudo se transcende: não existe ab-soluto, algo separado de tudo. Um eu que pretende se colocar como contrapartida a tudo o que existe é uma megalomania sem lógica.
Schelling não havia questionado o conceito central da filosofia, a verdade. Continuava achando que ela seria, mais que a coincidência, a equivalência do subjetivo com o objetivo. Não sabia que esse conceito escolástico de verdade era falso. O que está na mente pode ser objetivo para o sujeito, mas é apenas “objetivo” na dimensão subjetiva. Pode pouco ter a ver com as coisas que existem. Um senhor me disse que acreditava na vida após a morte: eu respondi que para mim só era verdadeiro que ele acreditava nisso. A crença era real, mas não tornava real o que era objeto da crença.
A passagem pela tese contrária permite testar a tese postulada. Só temos noção do antitético, no entanto, quando além do tético temos certa noção do que supera cada uma delas e ambas em conjunto. É preciso um espaço de liberdade que os transcenda. Esse espaço não é, porém, apenas a disputa entre o tético e o antitético, cada qual querendo ter razão sobre o outro. O sintético não é mera junção ou soma, mas transcendência.
Nietzsche afirmou que a própria definição de verdade (como adequação: de ad aequum, X = Y) é falsa. Formulou, portanto, uma antítese à tese dominante, fazendo com que fosse vista como apenas uma tese, algo tético. O que disse pode ser verdadeiro, mas não era uma solução. Kant ter dito que tendemos a considerar verdadeiro aquilo que corresponde à nossa vontade (Wille) não a promovia a dona da verdade. Isso também não ocorreu com seus desdobramentos em Schopenhauer (o mundo como vontade e representação) ou Freud (Wunsch, o desejo de algo, vontade bemolizada).
A noção de Wille zur Macht, de vontade direcionada ao poder, pareceu ao Nietzsche da década de 1880 uma simplificação, uma resultante de forças contraditórias, umas conscientes, outras inconscientes, mas repletas de desejos, frustrações, limitações, motivações. Seria preciso desdobrar o conceito em seus componentes, para perceber que ele é demasiado impreciso para reunir o que se quer subsumir nele. Enfatizar a vontade no sentido de que ela se volta para o poder significaria ter de se abrir para os fundamentos da questão política (por exemplo, a noção de igualdade).
Afamada tem sido no Brasil a concepção de que, para Heidegger, a verdade seria uma clareira (Helle). Ela não é sequer a verdade da floresta, mas uma exceção que permite vislumbrar aspectos dela ao redor, totalmente diferentes da clareira. Uma floresta feita de clareiras não é uma floresta, mas uma devastação. Pode ter sido outrora, depois deixou de ser.
O próprio Heidegger enfatizou, na parte final de sua obra, que o revelar de algo não é apenas um desvelar, mas contém um novo velamento. O gesto de apontar para algo, mostrar algo, serve para desviar os olhos de outros aspectos, que podem ser mais relevantes, mas que não se quer que sejam vistos. Quando o filósofo se reuniu com psicanalistas, em Zollinger, várias questões básicas deixaram de ser aventadas.
Isso Freud já havia visto no “dizer sim, dizer não”, em que concordar com a reconstituição de uma cena traumática pode, com o sim, servir para desviar a atenção de qual teria sido a efetiva cena, assim como um não enfático poderia sugerir que estava dizendo sim. Outras vezes, o dizer sim poderia ser complementado com detalhes, assim como o dizer não, negando a reconstituição, poderia despertar a cena que realmente teria ocorrido. Portanto, o sim pode significar sim ou não, assim como o não pode ser não ou sim.
A questão é mais complexa, porém, do que optar por algo tético ou algo antitético ou ver o tético no antitético e o antitético no tético. Será que essa opção entre sim e não, dia e noite, resolve a questão da verdade, consegue captar a natureza das coisas? Dizer que não acaba não resolvendo a questão.
Heidegger tentou de várias formas enfrentá-la: rezou no templo do seu oráculo Hölderlin, ouviu pitonisas da poesia hermética (Trakl, Rilke, Stephan George etc.), escreveu centenas de poemas herméticos, encheu centos de páginas sobre “Ereignis”, outras milhares de páginas ficaram guardadas nos Cadernos negros, fez ensaios portentosos. Pode-se dizer que chegou a uma definição mágica da verdade? Há um conceito que reúna tanta andança? Onde ficam os limites do seu pensar, para que se possa entender o seu “sistema”?
Ele queria examinar a diferença e conexão entre ente e ser (Sein), mas ele passou a escrever “Seyn”, em cuja grafia temos a inserção de um antigo y no lugar do i e ainda um riscar o termo, por não ser adequado ao que deveria expressar. Que entidade é essa? Quando aparece e se revela? Pode haver um “evento”, um Ereignis, o acontecer do aparecer de algo que transcende o ente em que ele aparece. Deve gerar um estranho quarteto mágico: céu – terra – deuses – homens.
Quem procria deuses precisa ser um deus. Que deus é esse? Não pode mais ser o deus cristão, apesar da formação e origem católica do pensador. Ele está riscado. Também não pode mais ser o Ser da tradição metafísica, pois então não precisaria ser riscado nem escrito de modo inusual.
Kant observou que a mente humana só consegue pensar em termos de coisas finitas. Ainda que haja o infinito matemático como algo que fica além do nosso horizonte, quando se chega a esse além se descobre que ele é feito de finitudes. Aristóteles, ao falar do espaço, tomou como modelo uma ânfora em que se coloca vinho: o líquido é circunscrito pelo que o contém, a ânfora é circunscrita pela sala, que está dentro de uma casa, que está numa rua, que está numa cidade, que está numa região, num país, num planeta e assim por diante.
Em suma, a coisa maior precisa ser cercada por outra ainda maior. Toda última coisa se torna penúltima da próxima que a circunscreve. A escolástica “resolveu” isso fazendo de conta que haveria “Deus” a fazer tudo, e ser o primeiro e último de tudo. Não sabemos o tamanho do cosmos, mas ao usar esse termo está-se falando de algo organizado, finito. Colocar “espaços siderais” não vai resolver isso também: sempre se tem a redução a um “Ser” sendo ditado pelo homem. O conceito de “tamanho”, mesmo contado em anos-luz, não seria adequado, pois ele é uma distância entre corpos. A noção de espaço deriva da percepção do distanciamento entre corpos, dos movimentos que os aproximam e afastam entre si. Os distanciamentos geram a noção de espaço, mas é o espaço que torna possível haver distanciamentos.
Esse “Seyn” de Heidegger (que tem sido traduzido por Seer, quando talvez “Çer” poderia ser mais sintoma do ignoto) procria deuses como homens, céus e terras. Para Kant, a mente finita do homem não seria capaz de entender a infinitude. O saber infinito de Deus seria mistério para o homem (mas não para a Igreja). Então “Ele” só poderia ser caracterizado pelo não ser, por aquilo que “Ele” não seria. Ele não se revelaria. Seria um “Atheos absconditus”.
Não poderia ser propriamente um deus, pois deuses se mostram aos homens. Como se queixar de que vivemos numa era sem deuses se esses deuses não se mostram e não podem ser confundidos com “influencers, ícones culturais, famosos”. O panteísmo não seria solução, pois seria o prenúncio da morte de deus na natureza.
Há de receber tal debate contribuição decisiva dos nossos filósofos? Provavelmente não, já porque as traduções que existem de Heidegger estão erradas nos termos básicos. Como esperar que alguém vá além se não chegou a uma ampla e competente dos grandes pensadores? De cursos como Letras, Jornalismo, Artes e assim por diante, dificilmente há de vir uma intuição precisa, uma definição que dê um salto adiante. Não é hábito nosso o embate denso de conceitos abstratos. Não interessa. Achar que basta a sociologia para examinar a literatura é miopia.
O que acontece num aforismo ou num haicai é a captação de um ente, uma espécie de flagrante de uma fulguração em algo, no qual se prenuncia e enuncia uma transcendência, algo que vai além desse algo. Daí o sujeito se põe a caçar milhares dessas fulgurações, como se fosse um catador de vaga-lumes e pirilampos. Mesmo que saiba distinguir entre luz na dianteira ou na traseira do bicho, não vai conseguir mais que encher um frasco de bichinhos, condenando-os à morte, vítimas da sanha científica. Criar um cemitério particular achando que é iluminismo constitui doce ilusão.
Não basta dizer a que espécie pertence o ente no qual se tenta captar a diferença, o “Unterschied”, a divisão, a disjunção, a separação que se esconde lá embaixo. O problema principal nem é a différance (diferensa) apregoada por Derrida em vez de différence (diferença), como se fosse grande solução escrever com “a” o que costuma ser escrito com “e”, ou com “s” o que vem normalmente com “ç”. Deslocar a diferença para a grafia atrofia a fala, como se fosse menos relevante, como se erudição fosse um saber superior. Embora a pronúncia seja a mesma, há uma identidade própria em cada versão gráfica, que não aponta para uma unidade na fala.
O exemplo de Derrida não é feliz. Ao se falar em diferença, pressupõe-se uma identidade. Mesmo o “jogo de diferenças” que Saussure propôs como solução para a fala, com vários tipos de fonemas, só é possível porque cada fonema tem uma identidade: ele é o que ele é. Se não é o seu par oposicional, ele não é o seu antitético. Na metáfora, o leitor se depara com um ente como unidade inicial, para algo em que o autor viu uma identificação com outra coisa, uma união daquilo que em si se diferencia. Como é que algo pode ser certo ente e ser algo outro ao mesmo tempo?
Há uma identidade na diferença, seja escrita de um jeito ou de outro: nela mesma está aquilo que ela pretende negar. Derrida achar que a linguística de Saussure podia ser a chave para esse jogo oposicional de fonemas como diferenças era não perceber que já havia uma identidade em cada fonema, que havia uma lógica identitária ao propor pares oposicionais. Derrida não considerou aí a pesquisa feita pelo linguista suíço ao buscar palavras ocultas em textos latinos. Não basta, porém, a caça de acrósticos antigos para achar que se chegou a uma nova chave hermenêutica.
Quando nos diferenciamos de nós mesmos, nosso antigo rosto se torna máscara que não se usa mais. A penúltima que usamos é a mortuária, antes de chegarmos à caveira do ser ou não ser, estar ou não estar, viver ou não. É bastante fácil distinguir o ente de uma cena reproduzida num curto poema e apontar para uma conclusão moral, assim como podemos partir de uma reflexão para depois chegar à sua demonstração, sua “mostração” fática. Difícil é “definir” a sua conjunção.
O problema é que a própria busca de uma definição que conjugue milhares de exemplos, de fulgurações captadas com precisão verbal cirúrgica acaba levando a uma abstração dos casos concretos, em favor de uma abstração lógica, como as “ideias” na mente divina. Em vez de ir para a frente, regride-se à escolástica medieval. Da qual se pode não ter boa noção, mas se sabe bem que não se sustenta senão na crença e abdicação da lógica.
*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Benjamin e Adorno: confrontos (Ática). [https://amzn.to/3rv4JAs]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA