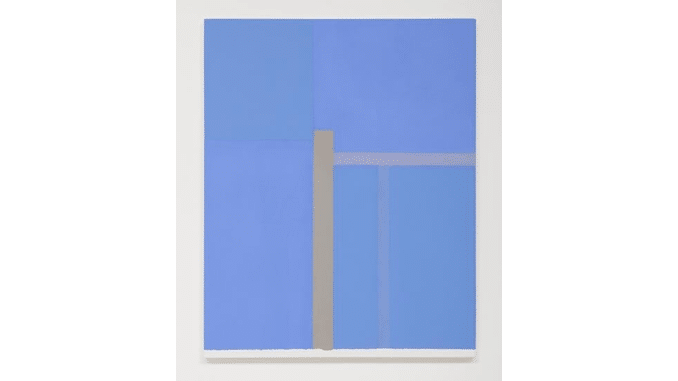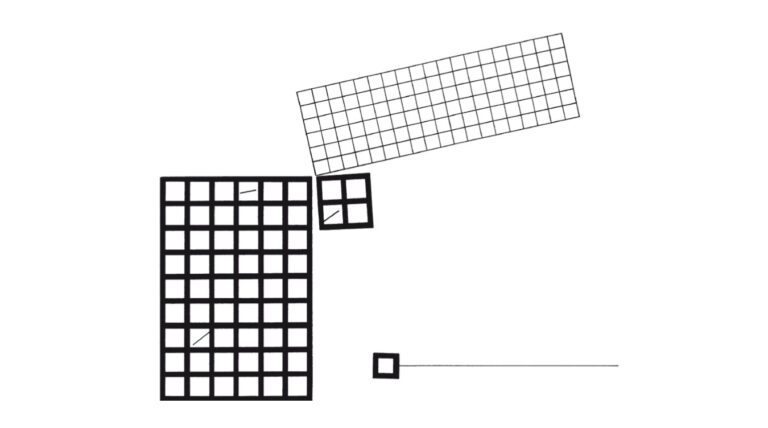Por MÁRCIO MORETTO RIBEIRO*
A ausência de proteção ameaça a criação artística, já que modelos de inteligência artificial se alimentam de acervos produzidos por artistas humanos sem compensação ou consentimento
1.
Na última semana, o estilo visual do Studio Ghibli tomou de assalto as redes sociais – não por meio de novas animações japonesas, mas por uma avalanche de imagens geradas por inteligência artificial. A estética artesanal, onírica e sutilmente melancólica dos filmes de Hayao Miyazaki foi capturada – ou melhor, simulada – por sistemas treinados com grandes volumes de dados visuais, em muitos casos sem qualquer consentimento dos artistas originais.
Vale lembrar que Hayao Miyazaki é notoriamente contrário ao uso de inteligência artificial na criação artística. Ainda assim, a viralização do chamado “efeito Ghibli” gerou entusiasmo entre usuários, que se divertiram ao ver suas próprias fotos transformadas no estilo visual do estúdio japonês. Ao mesmo tempo, o fenômeno provocou inquietação entre ilustradores, que denunciaram o uso não autorizado de estilos pessoais como mais um passo na automatização predatória da cultura. Assim, o episódio reaqueceu um debate antigo: como proteger a criação artística sem sufocar a inovação tecnológica?
Para começar, vale a pena voltar algumas décadas no tempo para colocar o debate em perspectiva. Durante os anos 2000, o movimento da cultura digital aberta expressava uma crítica ampla à forma como a indústria do entretenimento usava o aparato jurídico do copyright para conter a inovação e preservar modelos de negócio em declínio. A cultura da internet nascente – feita de blogs, fóruns e wikis – dependia da liberdade de transformar obras existentes em novas criações.
A defesa da circulação irrestrita de conteúdos não era apenas uma rebelião contra o velho mundo midiático, mas uma aposta no potencial emancipador das redes. Nesse espírito, autores como Yochai Benkler enxergavam na interconexão digital e na abundância de recursos computacionais a base para uma nova forma de geração de valor: a produção social em rede. Assim como a riqueza das nações havia sido explicada pela troca no mercado, a nova riqueza das redes viria da colaboração voluntária entre indivíduos conectados.
Projetos como a Wikipedia e o movimento “software livre” mostravam que pessoas motivadas por valores sociais, afetivos e intelectuais podiam produzir e distribuir bens culturais relevantes fora da lógica do lucro. Essa forma de organização otimizava o uso das capacidades técnicas, ampliava a autonomia individual e democratizava o acesso à cultura e à informação.
2.
Naquele momento de entusiasmo tecno-otimista, os grandes vilões eram os lobbies da indústria do entretenimento que pressionavam por uma regulação mais rígida de direitos autorais e propriedade intelectual. Esses lobbies eram vistos como forças conservadoras que tentavam sufocar a inovação para proteger modelos de distribuição e estruturas de poder em declínio. A retórica predominante era de que a regulação – especialmente aquela centrada em copyright – impedia a livre circulação do conhecimento e ameaçava os próprios fundamentos da nova economia digital. A resistência a essas tentativas de controle era, ao mesmo tempo, uma defesa da liberdade de expressão e uma aposta em novas formas de produção e distribuição cultural baseadas na colaboração e no compartilhamento.
É importante lembrar que o copyright não é uma forma de propriedade no sentido tradicional, mas uma ferramenta regulatória criada para incentivar a produção e a difusão cultural. Como ideias e expressões criativas não são bens rivais, seu uso não exclui o uso por outros – por isso, o direito autoral é um monopólio temporário conferido artificialmente para estimular a criação.
Esse mecanismo, no entanto, foi historicamente distorcido pela indústria do entretenimento, que usou o copyright para bloquear reinterpretações e prolongar monopólios. Ironicamente, hoje vemos o movimento oposto: é a ausência de proteção que ameaça a criação artística, já que modelos de inteligência artificial se alimentam de acervos produzidos por artistas humanos sem compensação ou consentimento. Sem garantias mínimas, o risco é desestimular a produção cultural e empobrecer a diversidade estética.
A crença de que as redes digitais ampliariam a liberdade individual e fortaleceriam a democracia teve seu auge no início dos anos 2010, com mobilizações como a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street e, por aqui, os protestos de Junho de 2013. As mídias sociais eram vistas como instrumentos de organização horizontal e de renovação da esfera pública, capazes de contornar estruturas de poder consolidadas.
Mas esse otimismo logo deu lugar ao ceticismo, à medida que as mesmas plataformas passaram a ser dominadas por estratégias de desinformação, manipulação algorítmica e polarização. O que antes parecia um espaço de emancipação se transformou em um ambiente marcado por radicalização e erosão dos consensos democráticos.
Em ambos os momentos históricos, o problema não está simplesmente na tecnologia, mas no uso do poder para operar sistemas complexos em benefício próprio. No primeiro caso, era a indústria do entretenimento que mobilizava o aparato jurídico e os mecanismos estatais para reforçar direitos autorais em moldes mais restritivos, tentando conter a transformação digital que ameaçava seus modelos de negócio.
No segundo, vemos populistas de extrema direita operando o sistema de comunicação digital criado pelas plataformas – um ecossistema desenhado para maximizar engajamento, não para promover o debate público ou o bem comum.
3.
Diante desses desafios, respostas individuais – como a desobediência civil que desafiava o copyright no passado ou o boicote ao ChatGPT hoje – se mostram insuficientes. A crítica atomizada, por mais legítima que seja, não consegue enfrentar formas de poder que operam de maneira organizada e estratégica. Repetir a aposta de que as plataformas digitais poderiam, por si só, organizar de forma justa a comunicação e a cultura seria reincidir no erro dos tecno-otimistas do começo dos anos 2010.
Confiamos demais na arquitetura técnica das redes e negligenciamos o papel das instituições. Proteger a cultura exige uma resposta coletiva, com base em regras explícitas e legitimidade democrática – não um movimento espontâneo guiado por gestos simbólicos.
A produção artística é de interesse comum. Ela enriquece a vida pública, dá forma à memória coletiva e inspira inclusive os sistemas de inteligência artificial que hoje tentam simulá-la. Mas a Inteligência artificial não cria a partir do nada: ela depende de uma base vasta de conteúdos humanos. Sem proteção adequada aos criadores, essa base cultural corre o risco de empobrecer ou mesmo se esgotar.
Proteger quem cria não é frear a inovação, mas garantir que ela continue existindo de forma justa, plural e viva. Se queremos um futuro onde a cultura tenha espaço para florescer, não basta boicotar. É preciso regular.
*Márcio Moretto Ribeiro é professor de Políticas públicas na EACH-USP.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA