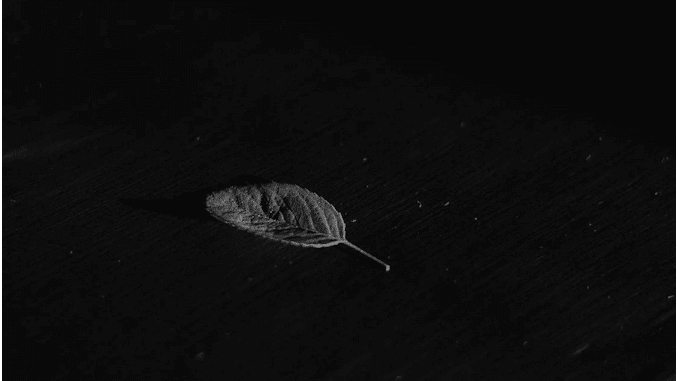Por JULIO DA SILVEIRA MOREIRA*
Confundir a Doutrina Monroe de 1823 com a ação de Trump é um anacronismo político: a primeira visava afastar potências europeias; a segunda impõe, pela força, uma hegemonia regional
1.
A recente violação e o bombardeio do território venezuelano pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, acompanhados do sequestro de seu chefe de Estado, têm sido relacionados, em parte da imprensa, à Doutrina Monroe, frequentemente resumida pelo lema “América para os americanos”.
O próprio Donald Trump, em coletiva concedida em 3 de janeiro, recorreu a esse enquadramento, reproduzindo uma leitura historicamente imprecisa e politicamente funcional, marcada por um empobrecimento do debate público que não difere, em substância, das simplificações recorrentes nos discursos da extrema direita no Brasil. No dia 5 de janeiro, o Departamento de Estado dos EUA publicou nas redes sociais o slogan “Este é o nosso hemisfério”. Ao contrário de Donald Trump, que quer re-colonizar a América Latina, Monroe lançou sua política externa pela erradicação do colonialismo.
A associação de James Monroe a Donald Trump conduz a um duplo equívoco. De um lado, desloca a Doutrina Monroe de seu contexto histórico original. De outro, apaga as disputas políticas que marcaram o continente desde as independências, entre projetos de integração latino-americana e projetos de hegemonia regional. Ao confundir a Doutrina de 1823 com seus usos imperialistas posteriores, perde-se de vista que, desde o início do século XIX, já estavam em disputa dois caminhos distintos para a América: um centrado na consolidação dos Estados Unidos como potência hemisférica e outro voltado à integração política entre as novas repúblicas, associado ao pensamento e à prática política de Simón Bolívar.
James Monroe, quinto presidente dos Estados Unidos, governou entre 1817 e 1825, período frequentemente descrito na historiografia norte-americana como a chamada “era dos bons sentimentos”, marcada por relativa estabilidade interna após a Guerra de 1812. Sua mensagem anual ao Congresso, em 2 de dezembro de 1823, tornou-se célebre por enunciar o que mais tarde seria chamado de Doutrina Monroe. Mas o sentido daquela declaração só pode ser compreendido à luz do contexto internacional extremamente específico em que foi formulada.
A Europa vivia o momento de restauração conservadora após a derrota de Napoleão. As monarquias da Santa Aliança, especialmente Rússia, Áustria, Prússia e, em certos momentos, a França, discutiam mecanismos de repressão a movimentos liberais e republicanos. No horizonte diplomático, existia o temor real de que essas potências apoiassem a Espanha em tentativas de reconquista de suas ex-colônias americanas, justamente quando os processos de independência avançavam de forma decisiva sob a liderança de figuras como Simón Bolívar e San Martín.
2.
Nesse cenário, a posição britânica também é relevante. O Reino Unido, interessado em manter mercados abertos para seu comércio e sem interesse no restabelecimento de monopólios coloniais, chegou a propor aos Estados Unidos uma declaração conjunta contra qualquer tentativa de recolonização europeia. O governo norte-americano recusou a iniciativa e optou por uma manifestação unilateral, não por pretensão hegemônica continental, mas para afirmar sua autonomia diplomática e sua própria leitura da ordem internacional nascente.
A mensagem do presidente James Monroe ao Congresso em 1823 articulou uma doutrina de não-intervenção recíproca, estruturada em três pilares: (i) a proibição de novas colonizações europeias nas Américas; (ii) a declaração de que qualquer intervenção europeia nos Estados independentes do hemisfério seria vista como uma ameaça direta aos Estados Unidos; e (iii) o compromisso correspondente de que os Estados Unidos não interfeririam nos assuntos políticos da Europa nem nas colônias que as potências europeias ainda mantinham no continente. Este posicionamento refletia, acima de tudo, uma postura defensiva e geopolítica de uma nação em consolidação, que buscava afastar rivais do seu entorno imediato enquanto consolidava seu próprio projeto nacional.
No entanto, a trajetória histórica demonstrou que o terceiro pilar (o compromisso de não-intervenção) foi o primeiro a ser abandonado. As sucessivas invasões do território mexicano, resultantes de uma expansão territorial agressiva justificada pelo “Destino Manifesto”, já sinalizavam essa ruptura prática. Meio século depois, a Guerra Hispano-Americana de 1898 consumou a inversão da doutrina: ao declarar guerra à Espanha, anexar Porto Rico, Guam e Filipinas, e estabelecer um protetorado sobre Cuba, os Estados Unidos violaram explicitamente o princípio de respeito às possessões coloniais existentes. Este conflito marcou a transição do país para uma potência imperialista de projeção extracontinental.
Esses pontos indicam que a Doutrina Monroe, em sua formulação original, não se dirigia contra as repúblicas americanas, mas contra as monarquias europeias. Não se tratava de um projeto de tutela hemisférica, mas de um princípio de contenção do colonialismo em um momento de transição histórica. Além disso, os Estados Unidos de 1823 não dispunham de meios militares para impor uma política de controle regional.
Sua marinha era modesta, seu exército era reduzido e sua capacidade de projeção externa era limitada. Internamente, a nação estava profundamente consumida pelas tensões seccionais em torno da escravidão, o mesmo conflito estrutural que, quatro décadas depois, a mergulharia na Guerra Civil (1861-1865), e por disputas sobre a expansão territorial e o equilíbrio político entre estados livres e escravistas.
Não por acaso, em seu momento inicial, a Doutrina Monroe foi vista com relativa simpatia por setores das lideranças latino-americanas, na medida em que parecia alinhar-se à defesa da soberania recém-conquistada. Ainda que os interesses estadunidenses estivessem longe de ser altruístas, a convergência tática com o objetivo de impedir a restauração colonial era real.
3.
Enquanto a Doutrina Monroe se formulava como princípio de política externa de um Estado ainda em processo de consolidação política, marcado simultaneamente pelo genocídio dos povos nativos e por uma expansão continental que avançava rumo ao Pacífico e que, duas décadas depois, se estenderia às custas do território mexicano, o projeto político de Simón Bolívar surgia como uma visão transnacional, voltada à construção de uma confederação de repúblicas latino-americanas.
Na Carta da Jamaica, de 1815, Simón Bolívar já defendia explicitamente a necessidade de união política e militar entre as novas nações para garantir a independência frente a qualquer tentativa de dominação externa. O Istmo do Panamá aparecia como espaço simbólico e estratégico para sediar essa articulação continental.
Esse projeto transcendia a mera independência política ao aspirar a uma genuína emancipação continental, portando um conteúdo republicano e integracionista profundamente avançado para sua época. Vinculava a soberania à construção de uma nova ordem regional baseada na cooperação e na defesa mútua, propondo uma alternativa solidária ao modelo de Estados-nação rivais que se consolidava na Europa. O Congresso do Panamá, em 1826, constituiu um feito diplomático pioneiro e a tentativa mais ambiciosa de seu tempo para institucionalizar uma comunidade de repúblicas soberanas.
Os processos de independência não se esgotaram em batalhas militares. A consolidação das novas repúblicas exigiu reconhecimento internacional, tratados diplomáticos e inserção formal no sistema de Estados. O Direito Internacional foi utilizado como instrumento prático de ruptura do pacto colonial e de legitimação da soberania. O reconhecimento por terceiros Estados, como Estados Unidos e Inglaterra, foi decisivo para estabilizar politicamente os novos governos. O Direito Internacional, longe de ser apenas um discurso normativo, funcionou como tecnologia jurídica de constituição das soberanias americanas.
O Corolário Roosevelt (1904) representa a cristalização doutrinária de uma prática imperial que já havia redefinido a Doutrina Monroe na ação. A Guerra Hispano-Americana de 1898 inseriu-se num contexto em que os movimentos de resistência cubano, porto-riquenho e filipino já haviam desgastado decisivamente o domínio colonial espanhol. Os EUA intervieram nesse cenário para interceptar e redirecionar os processos de independência, anexando Porto Rico, Guam e Filipinas, e estabelecendo um protetorado sobre Cuba.
Neste mesmo contexto, em 1903, Theodore Roosevelt orquestrou a secessão do Panamá da Colômbia, garantindo o controle estadunidense sobre a futura via interoceânica. Este ato de engenharia geopolítica serviu como caso empírico imediato para a formalização do Corolário, que transformou a doutrina de 1823 em uma alegação de autoridade unilateral para intervir nos assuntos internos de nações soberanas, sob o pretexto de manter a ordem e prevenir intervenções europeias.
O percurso histórico revela, portanto, uma lógica de acumulação imperial: da interceptação de processos emancipatórios (1898), passou-se ao controle estratégico de pontos-chave (Panamá, 1903) e, finalmente, à elaboração de uma doutrina de tutela permanente (1904).
4.
É nesse período que se multiplicam ocupações militares, protetorados informais e ingerências diretas nos governos do Caribe e da América Central, ao mesmo tempo em que se consolida a construção e o controle do Canal do Panamá, após a separação forçada do território panamenho da Colômbia. Esse deslocamento coincide com a fase clássica do imperialismo, caracterizada pela exportação de capitais e pela disputa por zonas de influência.
É justamente nesse momento de transição que o pensamento do cubano José Martí adquire centralidade. Vivendo nos Estados Unidos e acompanhando de perto sua transformação econômica e política, José Martí percebe com clareza a distância entre os ideais republicanos que haviam inspirado as independências e o novo expansionismo que se consolidava.
Seus textos alertam para o perigo real que os Estados Unidos passavam a representar para os povos da América Latina e para a necessidade de construção de uma identidade política própria, capaz de resistir tanto ao colonialismo europeu quanto à nova forma de dominação hemisférica. A noção de “Nossa América” expressa essa tentativa de afirmar uma autonomia cultural, política e social frente à crescente pressão externa.
Quando Donald Trump retoma, em 2020, a retórica de que o hemisfério ocidental seria uma área de responsabilidade exclusiva dos Estados Unidos, não está recuperando o sentido original da Doutrina Monroe, mas reiterando a lógica intervencionista consolidada desde o início do século XX. Não há, nesse discurso, qualquer oposição ao colonialismo, mas sim a governos que historicamente afirmam um grau de autonomia e de política nacionalizante.
Trata-se de um uso retórico que ecoa mais o Corolário Roosevelt do que a declaração de Monroe. Ao apresentar a soberania latino-americana como condicional à compatibilidade com os interesses estratégicos de Washington, esse discurso reproduz exatamente a lógica de tutela que José Martí denunciava ainda no final do século XIX. A diferença é que agora esse argumento se articula à retórica da segurança, do combate ao narcotráfico e da contenção geopolítica em um cenário multipolar.
Confundir a Doutrina Monroe de 1823 com a política intervencionista contemporânea não é apenas um erro acadêmico. É uma operação política que empobrece a crítica ao imperialismo ao apagar os processos históricos que levaram à sua consolidação. Não se trata de absolver os Estados Unidos de suas responsabilidades históricas na América Latina, mas de compreender que a hegemonia não foi um dado original, e sim uma construção vinculada a mudanças estruturais do capitalismo, da geopolítica e das correlações de força internacionais.
A Doutrina Monroe surgiu em um contexto de convergência tática contra o colonialismo europeu. O imperialismo estadunidense emerge em outro momento histórico, quando os Estados Unidos já são potência industrial e financeira. Misturar essas temporalidades significa confundir princípios defensivos com práticas expansionistas e reduzir a complexidade das relações interamericanas a uma narrativa contínua e linear.
*Julio da Silveira Moreira é professor de direito internacional na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).