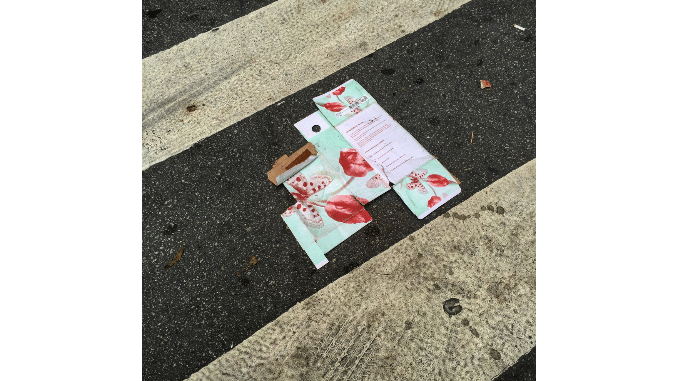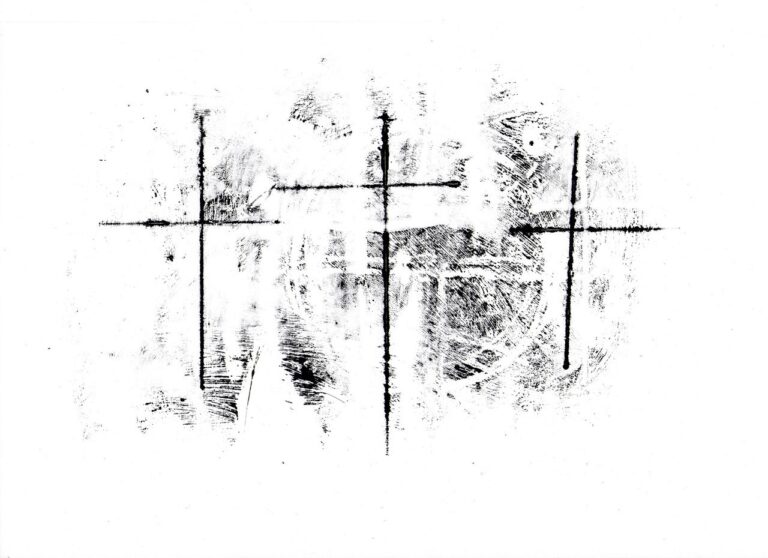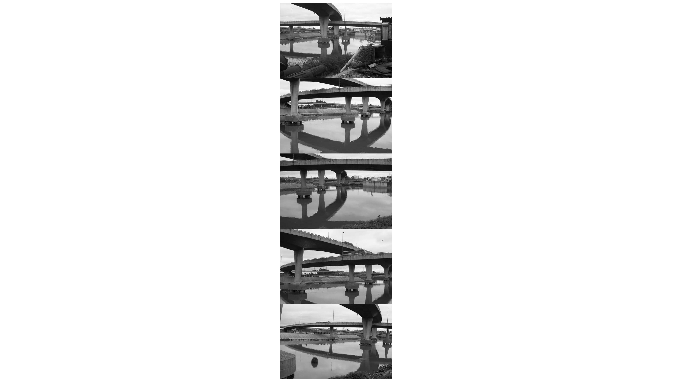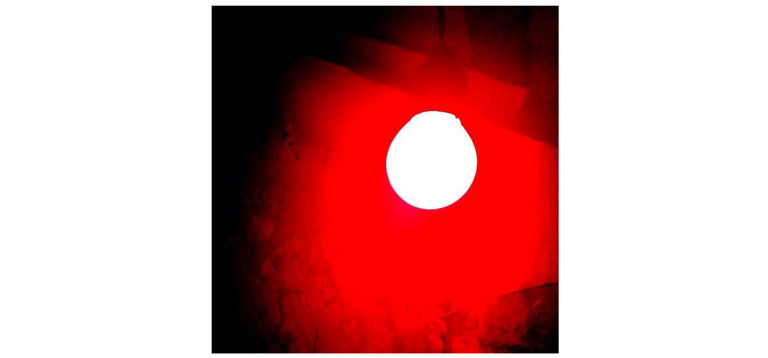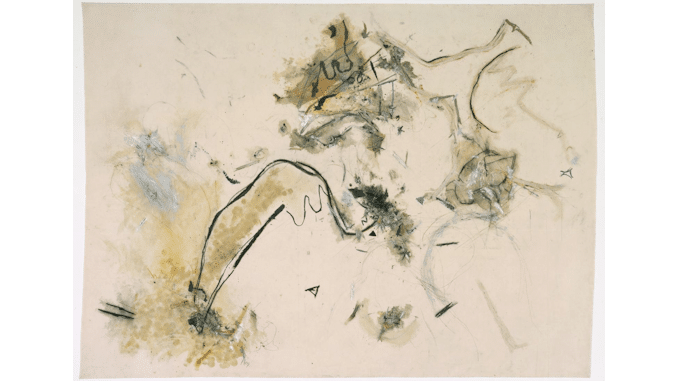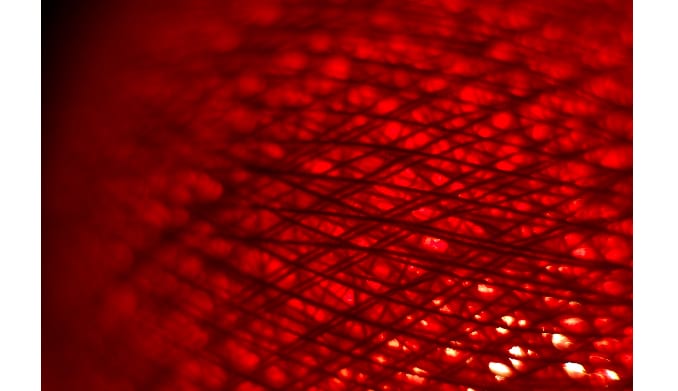Por OSVALDO COGGIOLA*
Reflexões sobre a gênese do atual regime político brasileiro
As peculiaridades do desenvolvimento político brasileiro foram distintamente captadas por Mário Pedrosa, em textos da década de 1930 publicados nos jornais das organizações trotskistas às quais pertencia. Ele constatava que os primeiros partidos políticos brasileiros de abrangência e atuação nacional eram o PCB e o fascismo integralista. O que na Europa (e, parcialmente, também nos EUA) era o arremate de um longo desenvolvimento político, que passara pelos clubes liberais e radicais da Revolução Francesa, o jacobinismo, o liberalismo (inglês, em primeiro lugar), o conservadorismo restaurador, o nacionalismo universalizante e democrático dos anos 1840, o nacionalismo exclusivista e elitizante (e racista/antissemita) da fase final do século XIX, era, no Brasil, não a culminação de um processo secular, mas o primeiro passo em direção de uma política de âmbito nacional. A história política brasileira progredia per saltum. Da política regionalista do Império e da República Velha havia se passado, sem escalas intermediárias, para as expressões extremas e “finais” do arco político histórico/mundial.
A classe operária do país não era a exceção. Os primeiros e difíceis passos do movimento operário brasileiro (que raramente integraram os escravos recém libertos) não conseguiram superar o nível estadual ou mesmo regional, tanto nas suas expressões sindicais como políticas. O anarquismo foi a tendência dominante, com o socialismo reformista reduzido a uma expressão marginal. A indústria estava pouco desenvolvida, com um número reduzido de grandes fábricas e muitas pequenas oficinas, sobretudo em Rio de Janeiro e em São Paulo. Nos demais estados a indústria era mais raquítica, não passando o movimento sindical e operário de uma vida molecular. Na medida em que os “partidos socialistas” se propunham uma progressão no plano eleitoral, não podiam superar por si sós a fragmentação geográfica da vida política brasileira. A implantação da República agravou esse problema.
De conjunto, o regime civil brasileiro teve um caráter autoritário, com forte presença militar, desde os primórdios da vida republicana. O processo econômico nas últimas décadas do Império caracterizou-se pela paulatina penetração das relações capitalistas, as quais, no entanto, não quebraram o quadro das atividades tradicionais (produção primária em grandes lavouras com vistas à exportação). Esse processo, no entanto, acabou gerando uma incompatibilidade com o sistema social (escravocrata) e político (monárquico centralizado) vigente. Seus efeitos foram o crescimento das cidades e uma progressiva dissolução das velhas relações agrárias, assim como o aparecimento de uma classe média e de um proletariado urbano. A transição da Monarquia para a República deu-se sob a forma do golpe militar, que “limpou” a cúpula do Estado, preservando os interesses das classes dominantes, e o domínio de seus representantes políticos, que continuaram controlando os estados como feudos privados, com grande autonomia.
A abolição da escravidão, junto com a grande imigração, despejou no mercado de trabalho uma mão de obra pagada simbolicamente (às vezes nem sequer formalmente assalariada) que manteve a rentabilidade da grande lavoura nas condições da chamada “grande depressão mundial”, ao mesmo tempo em que forneceu a base humana para uma nascente indústria atrasada, artesanal e de baixa composição orgânica, e para uma mão de obra doméstica semi-escrava. A super-exploração do trabalho imbricou-se estreitamente com a opressão étnica da população negra. A república oligárquica (dita “Velha”) garantiu três décadas de relativa estabilidade política, nas quais floresceram os interesses dos grandes proprietários aliados ao capital estrangeiro.
A crise político-institucional em que concluiu a República Velha refletiu a contradição entre as aspirações à democracia política e a raiz oligárquica do Estado: entre 1922 e 1938 todas as frações políticas brasileiras pegaram em armas para apropriar-se ou pressionar o Estado (revoltas tenentistas em 1922-24, “revolução” de 1930, revolta “constitucionalista” de 1932, putsch da ANL em 1935, golpe varguista de 1937, putsch integralista de 1938), que conheceu um processo de desintegração que a ditadura do Estado Novo conteve. Na década de 1920, embora empreendendo uma “guerra revolucionária”, os tenentes mantiveram a concepção de que constituíam uma vanguarda que podia e devia substituir o povo brasileiro. No decorrer da Coluna Prestes, por outro lado, os tenentes continuaram aliados a setores oposicionistas civis, dissidências da própria oligarquia. No Maranhão aliaram-se ao Partido Republicano, e no Rio Grande do Sul tentaram nova revolução, em 1926, com os “Libertadores” de Assis Brasil, oligarca “dissidente” que se manteve desde 1924 como chefe civil da “revolução”.
Certamente, o Integralismo, com sua divisa de “Deus, Pátria e Família” ficou conhecido como “fascismo brasileiro” por associação, pois não se apresentava como revolucionário (como o faziam o fascismo ou o nazismo, embora também se apoiassem numa mitificação do passado) mas como tradicionalista: a figura divina ocupava o cume da estrutura hierárquica, sendo a pátria definida como “nosso lar”, a unidade da população brasileira em contraposição à divisão da sociedade em classes. Os integralistas pretendiam alcançar essa unidade através da constituição de um “Estado Integral”, com a família como unidade básica de organização social. O integralismo era um movimento nacionalista no sentido mais retrógrado (antissocialista), autoritário e tradicionalista, semelhante, no entanto, ao fascismo pela sua proposta política.
Na época, Leon Trotsky constatava, a respeito dos regimes latino-americanos, que “os governos dos países atrasados, coloniais e semicoloniais, assumem um caráter bonapartista, e diferem uns dos outros no fato de que alguns tentam se orientar numa direção mais democrática e tentam buscar apoio junto aos trabalhadores e camponeses, enquanto outros instauram uma forma de ditadura militar e policial”. A estratégia revolucionária no Brasil teve como ponto de partida a comprovação da incapacidade histórica da burguesia nacional para resolver tarefas históricas: independência e unidade nacionais, questão agrária, igualdade perante a lei e erradicação do racismo explícito.
A revolução de 1930 foi a expressão da crise do “Estado oligárquico”, no quadro da crise econômica mundial. A “revolução”, que se iniciou como um movimento de unidade nacional contra o federalismo oligárquico, acabou em uma ditadura bonapartista que centralizou burocraticamente o Estado, sem golpear as raízes da oligarquia, e atrelando as massas através da arregimentação política. O período varguista demarcou o esgotamento da burguesia nacional como classe com pretensões de estruturar um Estado independente e democrático, viabilizando desse modo sua hegemonia sobre as massas oprimidas.
A miragem econômica nacionalista, no entanto, teve fôlego no Brasil, em virtude do seu atrasado ponto de partida e do empurrão fornecido por um mercado de abrangência nacional: a produção industrial do país aumentou, entre 1907 e 1943, 43 vezes, passando de um valor de US$ 35 milhões em 1907, para US$ 1,4 bilhões em 1950. Mesmo assim, as exportações primárias (em primeiro lugar, o café) ainda representavam, sob Vargas, mais de 75% da pauta total de exportações, em relação à indústria e serviços. Só na década de 1980, essas percentagens se inverteriam.
No século XX, o crescimento econômico do Brasil superou o do restante dos países da América Latina, atingindo um dos mais elevados percentuais de crescimento do mundo. Mas esse “desenvolvimento” agravou a dependência financeira e tecnológica, acentuou as disparidades regionais, abaixou ou dificultou o nível de vida da população.
O desenvolvimento tardio do capitalismo brasileiro foi pensado como modelo, segundo João Manuel Cardoso de Mello, “da história econômica dos países latino-americanos como a história do nascimento e desenvolvimento de capitalismos tardios”. Os regimes mais identificados, na história do Brasil, com a “representação da nação”, Vargas, Kubitschek e Goulart, não tocaram a estrutura agrária latifundiária, e adotaram medidas nacionalistas de cunho limitado, inclusive se comparadas com as de outros governos nacionalistas latino-americanos. Do seu lado, no marco da República oligárquica, os socialistas se apresentavam menos como os portadores de um interesse de classe, e mais como defensores da modernidade e da moralidade pública.
O PCB, fundado em 1922, foi considerado o primeiro partido político nacional, não só da classe operária, mas do país todo. Os primeiros trotskistas brasileiros constataram, como já dito, que só existiam dois partidos políticos estruturados nacionalmente: o comunismo e o fascismo integralista. Na Europa, essas tendências eram o resultado último do desenvolvimento político precedente: no Brasil, elas eram seu ponto de partida. Entre 1932 e 1937 inúmeros partidos foram formados para concorrerem às eleições para a Constituinte de 1934, quase todos regionais e sem expressão nacional, a exceção da Ação Integralista Brasileira – AIB, e da Aliança Nacional Libertadora – ANL, sob orientação do PCB. A ANL foi dissolvida e seus membros reprimidos no final de 1935, logo após o levante de Natal e Rio de Janeiro, e a AIB foi fechada em 1938, após tentar um golpe de estado. Os partidos burgueses de expressão nacional foram organizados a partir do Estado, durante a ditadura de Vargas (1937-1945).
A ANL foi considerada uma variante brasileira da política internacional de Frentes Populares impulsionada pela Internacional Comunista. Na notícia a respeito no CPDOC, lê-se: “Em reação ao crescimento da Ação Integralista Brasileira (AIB), formaram-se pequenas frentes antifascistas que reuniam comunistas, socialistas e antigos “tenentes” insatisfeitos com a aproximação entre o governo de Getúlio Vargas e os grupos oligárquicos afastados do poder em 1930. No segundo semestre de 1934, um pequeno número de intelectuais e militares começou a promover reuniões no Rio de Janeiro com o propósito de criar uma organização política capaz de dar suporte nacional às lutas populares que então se travavam.
Dessas reuniões surgiu a ANL, cujo primeiro manifesto público foi lido na Câmara Federal em janeiro de 1935. O programa básico da organização tinha como pontos principais a suspensão do pagamento da dívida externa do país, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a proteção aos pequenos e médios proprietários, a garantia de amplas liberdades democráticas e a constituição de um governo popular…
“No mês de março, constituiu-se o diretório nacional provisório da ANL… No final do mês, a ANL foi oficialmente lançada em solenidade na capital federal à qual compareceram milhares de pessoas. Na ocasião, Luís Carlos Prestes, que se encontrava na União Soviética, foi aclamado presidente de honra da organização. Prestes, que nessa época já aderira ao comunismo, desfrutava de enorme prestígio devido ao seu papel de líder da Coluna Prestes… Nos meses seguintes, calcula-se que dezenas de milhares de cidadãos filiaram-se formalmente à ANL, embora o número exato dessas filiações jamais tenha sido conhecido. Diversas personalidades, mesmo sem se filiar, mostraram-se simpáticas à Aliança… A entidade promoveu concorridos comícios e manifestações públicas em diversas cidades e teve sua atuação divulgada por dois jornais diários a ela diretamente ligados, um do Rio de Janeiro e outro de São Paulo”.[i] A ANL aparecia mais como uma frente nacionalista com participação dirigente do PCB, uma “Frente Popular armada”.
Derrotadas as tentativas insurrecionais (1935) ou putschistas (1938) do PCB e do Integralismo, o bonapartismo varguista apareceu como a expressão de um “empate político” e como tradução do impasse histórico da constituição de um Estado representativo no Brasil. A configuração de uma burocracia sindical no período varguista completou a estruturação do regime bonapartista. A estrutura institucional que originou sua existência, com a integração dos sindicatos ao Estado, permaneceu, basicamente, inalterada. A burocracia “trabalhista” viu-se obrigada a admitir, no entanto, na década de 1950, a existência de direções sindicais vinculadas ao PCB. A base material da burocracia trabalhista foi o Imposto Sindical, criado pelo regime varguista, ao qual se acrescentam outras taxas compulsórias (taxa assistencial, negocial, federativa, confederativa) cobradas do conjunto dos assalariados, e recebidas por mais de dez mil sindicatos, metade deles “de carimbo” (constituídos para receber esses impostos e taxas), com milhares “sindicalistas” de “carteira esquentada”, que “representam” categorias nas quais nunca trabalharam, e que às vezes sequer conhecem pessoalmente.
Além disso, montou-se uma “carreira” pós-sindical, na administração do FAT, do FGTS e outros fundos estatais tirados do salário dos trabalhadores, sem esquecer do negócio florescente dos fundos de pensão privados, favorecidos pelas reformas previdenciárias de FHC e de Lula,[ii] em cima das quais montou-se uma burocracia sindical “gestora”, encabeçada por setores da burocracia cutista. Em 1981, 5.030 militantes sindicais, na 1ª Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras (Conclat), considerada o embrião do “novo sindicalismo”, Lula e os “novos sindicalistas” defenderam a necessidade de que os sindicatos se desatrelassem economicamente do Estado. Prometeram lutar para quebrar a espinha dorsal das entidades “pelegas”, fechando a torneira dos recursos financeiros compulsórios, que depois, no governo, mantiveram, consolidaram e incrementaram.
O governo Lula, cuja base política pretérita repudiava o Imposto Sindical, finalmente aperfeiçoou esse instrumento de arregimentação, reformulando-o. Pela nova lei,[iii] as centrais que comprovassem “representatividade” podem abocanhar 10% do total arrecadado com o imposto sindical. Por decreto, Lula concedeu ao Ministério do Trabalho o poder de atuar como instância de conciliação no caso de conflito entre entidades que disputassem a representação de uma mesma categoria de trabalhadores ou de atividade econômica. O mecanismo de arregimentação burocrática da classe operária no Brasil leva até suas últimas consequências as tendências à integração dos sindicatos ao Estado próprias do capital monopolista. A montanha de dinheiro que jorra sobre a burocracia sindical constituiu um dos eixos da manutenção da subordinação da classe operária brasileira.
Não foi um resultado aleatório, mas o produto da história. A “redemocratização” de pós-guerra resultou da pressão do imperialismo, diante dos índices de crise do Estado varguista: a “democracia populista” (1945/64) expressou a desagregação das forças que aquele tinha unificado compulsoriamente, e se baseou, não na representação democrática das diversas classes nas instituições, mas na proscrição política (do PCB e até de certos setores varguistas) e na colaboração da burocracia sindical. Essa “democracia” foi a fachada parlamentar de uma composição oligárquica e burocrática. O regime se baseava em dois partidos (PSD e PTB) que representavam, o primeiro, os governadores e suas camarilhas tradicionais nos estados; o segundo, os pelegos sindicais do Ministério do Trabalho e parte da burocracia estatal. Foi o período de auge dos investimentos do capital imperialista.
A ditadura militar que a sucedeu não foi um simples regime de repressão sangrenta e negação das liberdades democráticas contra todas as classes exploradas. A contrarrevolução de 1964 foi o castigo pelo qual teve que passar a nação brasileira como resultado do esgotamento do nacionalismo.[iv] A ditadura militar, longe de significar um retorno ao regime oligárquico, foi um instrumento das tendências centralizadoras do grande capital nacional e imperialista, para aprofundar a submissão da economia nacional ao imperialismo (domínio mundial do capital financeiro), e o disciplinamento dos diversos Estados à União. A centralização autoritária da bota militar levou a extremos a desigualdade do desenvolvimento econômico e político da nação e de seus estados, o que se manifestou na aparição de tendências centrifugas.
O resultado duradouro da ditadura militar foi o de entrelaçar, em muito maior escala, a burguesia nacional com o imperialismo, e as oligarquias estaduais com a burocracia do Estado nacional. Com isso se aprofundou a dependência econômica e a subordinação das economias estaduais ao orçamento nacional. O Estado militarizado agiu diretamente como agente do capital contra o trabalho: em 1964, do total do imposto sobre a renda recolhido na fonte, 18% se referia a rendimentos do trabalho e 60% a rendimentos do capital. Em 1970, os mesmos percentuais foram da ordem de 50% e 17% respectivamente.
Reduziu-se drasticamente o poder de barganha dos sindicatos, submetidos ao padrão de salários e de reajustes (arrochados) do governo militar, de acordo com os ditames de sua política econômica; a legislação do trabalho, da qual a substituição da estabilidade no emprego pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) foi o protótipo, beneficiou a acumulação acelerada de capital, acelerando o turn-over dos empregados e a expulsão da força de trabalho dos maiores de 40 anos, contribuindo para o aumento da taxa de exploração.
Mas, com a crise em que entrou a economia mundial e o esgotamento do ciclo expansivo da economia nacional, na segunda metade da década de 1970, a nação como um todo e cada estado em particular caminharam para a bancarrota. A dívida externa e o crescente déficit orçamentário foram as expressões dessa falência.[v] A vitória da oposição (MDB) nas eleições estaduais de 1974, a convocatória do I Congresso Metalúrgico do ABC paulista (1975), por parte da direção sindical “autêntica”, colocando a questão da luta contra o arrocho salarial. evidenciaram a crise do regime militar e o início da superação da atomização política da classe operária, que seria seguida, quatro anos depois, pelo início de um poderoso movimento agrário no Sul do país, que foi a base do MST.
Os interesses da casta militar haviam crescido à sombra da incapacidade histórica da burguesia de estruturar seu domínio com base em instituições representativas. A crise desse processo se deu sob a dupla pressão da crise econômica mundial e da recomposição do movimento das massas, da qual a derrota eleitoral da ARENA em 1974 foi uma expressão. O regime político, surgido de sérias derrotas políticas do proletariado e das massas, começou a entrar em contradição com uma etapa política marcada por novas relações de força entre as classes.
A contradição estourou de forma aberta quando, em 1978, o proletariado, através de sua ação direta, ocupou um lugar de destaque na situação nacional. O governo militar, com Geisel, havia tomado a iniciativa de desencadear um processo de “abertura política”, buscando modificar certos métodos de dominação da ditadura, com o propósito de abrir válvulas de escape para o regime.
A abertura tinha como objetivo abrir um espaço no aparelho estatal para frações burguesas afastadas do poder, e inaugurar um período de manobras políticas, para manter um regime que não podia mais se sustentar só com a repressão. Os fatos demonstraram que a mudança nos métodos de dominação não podia ser realizada sem choques e atritos graves. A primeira manifestação foi o fechamento do Congresso (abril de 1977) e o lançamento do Pacote de Abril, que anulou as eleições diretas para governadores e instituiu a bionicidade parlamentar, visando manter a maioria do governo no Senado.
Nesse contexto, o MDB lançou a bandeira da Constituinte. Esta tinha um caráter preventivo: foi também a reação de setores burgueses que temiam que o plano de abertura fosse abortado, pois para aqueles que estavam afastados do poder, a abertura não era só uma tentativa de controlar as massas, mas também um recurso para dividir os custos da crise econômica entre as diversas frações capitalistas.
Nesse quadro, e diversamente do divulgado pela hagiografia historiográfica, o PT não nasceu de uma evolução natural ou linear do operariado, mas de um conjunto de contradições e processos políticos abrangendo diversas classes sociais. Na etapa aberta em 1978-79, o proletariado não estava disposto a reeditar as velhas experiências de conciliação, nem a burguesia a tentar um período amplo de conciliação de classes, pois sua dependência do imperialismo tinha se acentuado, e o proletariado era mais forte e concentrado do que no passado. Com essas tendências combinou-se a crise do regime militar, em especial a crise do sistema de atrelamento dos sindicatos, que deu lugar, na própria estrutura atrelada, ao “novo sindicalismo”, fornecendo a base política para o lançamento da proposta do PT.
Um fator histórico que contribuiu para que essa crise se expressasse com mais força em São Paulo, além do fato da região contar com o proletariado mais numeroso e concentrado, foi o fato do PTB, expressão histórica do alinhamento político dos sindicatos, não somente não vicejar em São Paulo, como também passar por fases em que quase desapareceu neste Estado, por ter potencial para se tornar uma fração muito forte: num estado onde o sindicalismo era poderoso e o eleitorado decisivo, as lideranças nacionais do partido procuraram desestimular seu crescimento.
A tendência para a independência classista esteve presente em toda a história do operariado brasileiro. Ela continuou nas lutas contra o regime militar. A criação do PT a expressou de modo deformado, pois surgiu de um acordo político que tinha por centro um setor do sindicalismo atrelado, que confiscou e até excluiu os setores que expressavam mais diretamente o desenvolvimento classista, as “oposições sindicais”. Já no XI Congresso de Metalúrgicos de São Paulo, em janeiro de 1979 em Lins, em que foi tomada a decisão de se lançar a formação do PT, ficou acertado entre “autênticos” (“novo sindicalismo”) e “unidade sindical” (pelegos e PCB) que os representantes das “oposições sindicais” não participariam. Os “autênticos” que deram origem ao PT se situavam numa frente política instável com o sindicalismo atrelado.
A posterior ruptura autênticos/pelegos, (que defendiam a subordinação ao MDB), que foi projetada também ao plano sindical (ruptura CUT/CONCLAT), e inclusive à aliança com as oposições classistas, não altera o fato de que a feição original do PT foi dada por uma aliança política com centro num setor originário na estrutura de subordinação das organizações operárias. O PT não surgiu “do interior dos sindicatos”, mas de um processo de recomposição política, não somente no seio da classe operária, mas também da ala esquerda da pequena burguesia (com reviravoltas nas posições de todos os setores de esquerda entre 1977 e 1981). Lula não era contrário a formar um partido com a esquerda emedebista, mas não estava disposto a abrir mão da hegemonia do processo de formação do partido, já que era a liderança da classe operária que se mobilizava.
Boa parte da intelectualidade, o PCB e o PC do B, ficaram no MDB, que ficou melhor estruturado; por outro lado, uma série de grupos menores, muitos vinculados à Igreja, entrou ao PT, que ficou com os sindicalistas lulistas na liderança. Se, de um lado, a proposta do PT teve vigência prática desde sua origem, graças à ascensão do movimento operário, ao qual as direções do PT estavam ligadas, de outro, a proposta dos sindicalistas autênticos se realizou graças ao fracasso das negociações com a esquerda emedebista.
Na verdade, a direção sindical, não tendo nos partidos existentes ou em formação nenhum tipo de representação política, e frente à reformulação partidária, lançou o PT como um meio de buscar um lugar no novo arranjo político. Era, no entanto, uma direção situada por cima do movimento das massas, sujeita e sensível à pressão da burguesia.
A expressão do caráter do PT foi a sua definição programática. Um partido operário inscreveria em seu programa que a satisfação das aspirações elementares da população trabalhadora seria impossível nos marcos da sociedade capitalista e do Estado burguês, ou seja, proclamaria a necessidade da abolição da propriedade privada capitalista. O PT assumiu um programa democratizante, não consequentemente democrático, propondo “a desvinculação das empresas estatais dos monopólios”; “a nacionalização do latifúndio improdutivo”, e não a reforma agrária através da expropriação do capital agrário, culminando na “democratização do Estado”, que deveria ser “submetido ao controle das organizações sociais e do povo”. Quanto ao “socialismo”, foi inicialmente recusado, e posteriormente admitido (1981) como “o socialismo que será definido pela luta diária do povo brasileiro”, o que rechaçava uma definição do socialismo como regime político de classe baseado na expropriação do capital.
Sobre essas bases políticas e de organização foi se desenvolvendo o PT, estendendo-se nacionalmente, obtendo a sua legalização eleitoral (1981) e seu primeiro resultado eleitoral expressivo (11% dos votos nas eleições para governador em São Paulo, em 1982), que deu a base para a sua projeção futura, baseado principalmente no voto da classe operária, o que foi expresso pela palavra-de-ordem que presidiu na campanha (“vote no três, o resto é burguês”).
O PT gozava de ampla simpatia nas massas. Mas os militantes que atuavam eram recrutados na pequena-burguesia e foram fornecidos pelas organizações de esquerda. Durante a campanha eleitoral de 1982 não foi recrutado um número significativo de militantes operários; o PT se configurou como um partido da pequena-burguesia radical e da franja de ativistas sindicais e de bairro. Uma frente única de tendências de esquerda, dirigentes sindicais e ativistas católicos, com presença de intelectuais universitários, unidos na perspectiva de progredir politicamente seguindo um atalho, o do prestígio dos dirigentes sindicais, um conglomerado unificado pela perspectiva de um êxito rápido, garantido pela presença de Lula (transformado nesse momento, com Lech Walesa, em figura mundial da perspectiva democratizante impulsionada pelos EUA).[vi]
A crise econômica mundial da década de 1970, que levou à crise do “milagre brasileiro”, colocou duas opções capitalistas básicas: resgatar uma parte do ativo fixo em mãos do Estado ou da burguesia nacional para pagar os credores externos, ou impor uma disciplina ao grande capital imperialista e o intervencionismo estatal. A política de Delfim Netto, em 1979, expressou um curso intermediário, ao tratar de resolver o impasse com métodos antigos: subsídios às exportações, desvalorizações, controle limitado dos preços, redução do orçamento das empresas estatais. O resultado disso, nas condições de recessão de 1980/82, foi o agravamento da crise social (aumento do custo de vida) e a ruína progressiva do sistema financeiro (mercado negro, fuga de capitais, inflação fora de controle). Enquanto o crescimento anual médio do PIB atingiu 7,1% no período 1947/1980, essa taxa se reduziu a 1,6% nos anos 1980.
Nas condições de crise, a continuidade política da ditadura até meados da década de 1980 foi possível pela existência de um acordo de fundo com a oposição burguesa, que limitava suas divergências à questão das datas do calendário da abertura, evitando formular qualquer medida de ruptura com a grande finança internacional (no máximo colocava, como fez Celso Furtado, uma renegociação governamental da dívida do Brasil com os governos dos países credores). A irrupção das massas, presente no cenário político a partir das greves do ABCD em 1978-79, questionou esse acordo até pô-lo em crise, crise cuja expressão foi a campanha pelas “Diretas-Já” (1984).
Neste ano, o movimento operário retomou o caminho iniciado no ABCD, diante da expropriação salarial. Lançada pelo PT, a campanha, que levou milhões às ruas, poderia ter sido a projeção política da luta contra a exploração, encabeçada pela classe operária. Não foi isso, devido a que sua direção – aceita pelo PT – limitou sua projeção à pressão sobre as instituições existentes (emenda Dante de Oliveira) surgidas no ventre da ditadura militar.
Para contornar a crise, o regime teve que pagar o preço da divisão da ex ARENA (PDS, do qual se cindiu o PFL, representando setores oligárquicos nordestinos) e transferir o governo para a coalizão civil resultante dessa divisão, a Aliança Democrática (PFL/PMDB), estruturada com base no candidato de consenso Tancredo Neves. Isto evidenciou a continuidade da tendência para uma saída bonapartista, por cima das instituições representativas, mas agora com centro civil. A morte de Tancredo pareceu coroar a operação, realizando de maneira oblíqua os planos de Geisel-Golbery (transferência do governo a um civil da ARENA), cooptando a oposição burguesa no quadro de um regime tutelado, ao levar à presidência o ex-presidente da ARENA, José Sarney. Mas, dez anos de crise e lutas populares não tinham passado em vão, e o personalismo sarneyzista foi uma espécie de bonapartismo às avessas.
Foi para enfrentar a ascensão das massas (em 1985 as greves bateram recordes históricos, feito repetido nos primeiros meses de 1986), assim como para condicionar as eleições de governadores e o processo da Constituinte, que Sarney lançou uma iniciativa pela via do decreto, o Plano Cruzado de “combate à inflação”. A iniciativa – com os “fiscais de Sarney” e o hipotético “partido do presidente” – visou adiar um enfrentamento político de classe, intervindo na crise partidária.
Os trabalhadores deveriam aceitar salários reduzidos, para evitar o aumento da massa salarial, fixando também um limite para a expropriação salarial, resultante de congelar os preços no pico e os salários na média. Essa tentativa de estruturar um poder-árbitro entre as classes teve fôlego curto, devido à própria magnitude da crise econômica, mas serviu, junto com o PNRA (Reforma Agrária), para modelar em grande medida o processo eleitoral posterior, apoiando-se nos condicionamentos antidemocráticos do regime militar.
Assim, o PMDB foi o grande vitorioso em novembro de 1986 (vencendo em 22 dos 23 estados) e a Constituinte, iniciada em 1987, concluiu em 1988 pondo só restrições formais à penetração do capital estrangeiro em setores estratégicos. As “conquistas trabalhistas” incorporadas ao texto (40 horas semanais, licença maternidade/paternidade, direito de greve para o funcionalismo público) visaram contemporizar com direitos já existentes de fato, aguardando uma regulamentação que iria anulá-las na prática.
A Constituinte não fechou a crise política, nem criou um regime político democrático: o país continuou sendo governado através de decretos. No entanto, no segundo semestre de 1988, fracassou a tentativa de Sarney em subordinar o processo constituinte ao seu próprio poder. O fracasso do Plano Cruzado refletiu a incapacidade do governo em estruturar uma arbitragem entre as classes.
A tendência democratizante, imposta pelo aprofundamento da luta de classes, no entanto, se esgotaria só quando este aprofundamento alcançasse um ponto incompatível com a estabilidade do Estado. No Brasil, como em toda a América Latina, a transição política para regimes civis foi motivada pelo esgotamento econômico e político dos regimes militares, no quadro de uma crise econômica mundial (a “crise das dívidas”, em 1982, evidenciou a incapacidade em continuar pagando a dívida externa),[vii] de crises internacionais cada vez maiores (guerras civis e internacionais na América Central, guerra Equador-Peru, e Guerra das Malvinas, em 1982) e de mobilizações populares sem precedentes (guerrilha em toda a América Central e na Colômbia, mobilizações nos países do Cone Sul, greves de massa e mobilização pelas “Diretas Já” no Brasil).
Em meio a agudas disputas e crises políticas, os regimes democratizantes surgiram sob a hegemonia preservada do capital financeiro internacional, e da burguesia local associada, preservando a os interesses das camarilhas militares. Os meios usados foram, em primeiro lugar, a chantagem econômica e militar do imperialismo norte-americano e europeu (como na guerra das Malvinas, ou na organização da “contra” na América Central).
Ao mesmo tempo, a política democratizante foi impulsionada diretamente pelo imperialismo norte-americano, surgida no bojo dos problemas criados pelo conjunto da crise política: ela foi impulsionada pelo governo Reagan (1980-1988), com o objetivo explícito de reverter as tendências políticas internacionais, caracterizadas pelo retrocesso mundial do imperialismo ianque, depois das derrotas nas guerras do Vietnã e do Sudeste asiático. Essa política capitalizou o entrelaçamento inédito das burguesias nacionais com o capital financeiro internacional e a crise da burocracia do Kremlin e de sua política mundial. O imperialismo e a burguesia nacional procuraram os regimes democráticos como um recurso preventivo de emergência.
O imperialismo sustentou os “processos democráticos” latino-americanos: em todas as crises militares da Argentina, onde militares direitistas entraram num atrito profundo com o governo Alfonsín, o governo Reagan e os governos europeus apoiaram o poder civil, por achar que, nas condições de crise mundial, só governos que cooptassem as oposições populares em um marco constitucional, poderiam sustentar o Estado e continuar a pagar a dívida externa. Nenhum desses regimes foi um desenvolvimento democrático genuíno.
Na Constituinte brasileira, os cinco anos de mandato para Sarney foram arrancados por uma pressão organizada pelos empresários ligados à ditadura militar e pelos próprios militares. Em nenhum caso, a mudança do regime militar para um regime civil significou a implantação de uma democracia política, mas uma fachada constitucional para instituições com origem na ditadura militar. Os compromissos internacionais, eixo do processo de exploração internacional da América Latina, paridos pelos regimes militares, foram respeitados, em especial a dívida externa.
Foi uma característica continental. A condicionalidade dos regimes democratizantes latino-americanos com os regimes militares precedentes foi clara: no Brasil, os militares garantiram a sua participação direta no poder através dos ministérios militares; no Chile, a oposição aceitou governar na base da Constituição pinochetista de 1980, e garantir oito anos de mando de tropa para os comandantes do ditador; no Peru, a Constituinte legislou sob o governo militar de Morales Bermúdez; no Uruguai, o regime civil se baseou no “Pacto do Clube Naval”, que garantiu a impunidade militar, reforçada em plebiscito; na Argentina, as crises militares foram aproveitadas pelos “democratas” para institucionalizar o poder militar no Conselho de Segurança Nacional, e para inocentar os militares genocidas através do “ponto final” e da “obediência devida”; no Paraguai, o governo civil sequer transcendeu os limites familiares, pois o general Andrés Rodriguez era parente do ditador Stroessner.
A política democratizante, por outro lado, não foi o contrário do intervencionismo militar externo: foram os democratas bolivianos os que admitiram a intervenção de tropas ianques, sob pretexto de combate ao tráfico de drogas; o mesmo pretexto foi usado para o bloqueio naval da Colômbia; foi reforçado o cerco militar de Cuba, e invadida a ilha de Granada; foi militarizada a América Central, através da “contra” nicaraguense e do envio de tropas norte-americanas a Honduras e El Salvador e, caso extremo, mas exemplar, foi invadido o Panamá para impor um governo “democrático”.
No Brasil, isto foi favorecido pela conduta da direção sindical “autêntica”, encabeçada por Lula, que limitou o processo grevista do ABC, adaptando-o à estratégia conciliadora da oposição (MDB) com a “abertura” patrocinada pela ditadura militar. A juventude, inexperiência e escasso desenvolvimento político do movimento operário, de algum modo, faziam desse o resultado mais provável do “sonho petista”. Os partidos “dos trabalhadores”, ou trabalhistas, diversamente dos socialdemocratas, não se constituem sobre a base de um programa, e sim sobre a base do movimento espontâneo dos trabalhadores. Por isso, neles desempenham um papel importante os dirigentes sindicais. Esta característica, em que as colocações políticas se acomodam às necessidades práticas, acaba por inviabilizar esses partidos como entidades de real debate político ou ideológico.
Segundo os intelectuais do PT, um programa deveria ser elaborado “de baixo para cima”, um despropósito que conduziu a um programa de vulgaridades liberais. A legalização do PT, no quadro do regime militar, comportou dois aspectos: uma derrota política da burguesia, assim como a evidência de que o proletariado continuava submetido politicamente a variantes bastardas. A legalização do PT, nos termos em que ocorreu, refletiu o refluxo do movimento de massas, após as greves de final da década de 1970,[viii] assim como sua escassa diferenciação política. Essa legalização PT ratificou, no entanto, que, durante um bom período, esse partido seria o quadro político principal para as correntes de esquerda.
Foi, portanto, por motivos políticos, e não devido a uma “decorrência natural”, que nas “transições democráticas” ocupou um lugar central a cooptação política, direta ou indireta, das lideranças democráticas, operárias e populares, incluídas as que, até um passado recente, se reivindicavam do campo da revolução, à qual renunciaram em nome da “adesão à democracia” (que encontrou uma elaboração ideológica nas teorias da “democracia como valor universal”). Esse fator foi decisivo para limitar e castrar o alcance da revolução na Nicarágua e em El Salvador (Fidel Castro indicou, nesse momento, que “a revolução socialista não resolvia os problemas”, ao tempo em que lançou a proposta de “Nova Ordem Econômica Internacional” – propondo o “perdão” das dívidas externas – como saída para a crise latino-americana e mundial).
Foi no quadro de uma crise política galopante (degringolada do governo Sarney, afundamento das candidaturas e partidos oriundos da oposição burguesa à ditadura militar) que o PT conheceu um espetacular desenvolvimento eleitoral, até obter 32 milhões de votos no segundo turno das eleições presidenciais de 1989, se credenciando como alternativa e fator político decisivo do país. A base desse desenvolvimento foi dada também pela virada histórica do proletariado, que teve na CUT (criada em 1983) a sua primeira central operária nacional.
Isto estava em contradição com a política democratizante da direção petista, e até com a participação do PT em importantes instâncias do Estado (em 1989, o PT já dirigia três das prefeituras mais importantes do país). Para resolver essa contradição, o PT lançou a candidatura presidencial de Lula, em 1989, não como candidato independente dos trabalhadores, mas de uma frente de colaboração de classes (adotada no VI Encontro Nacional do PT, em 1989), numa frente política que a direção petista pretendeu estender até os representantes da burguesia paulista e aos sobreviventes políticos do varguismo.
A derrota no segundo turno de Lula para a candidatura aventureira de Collor, deveu-se à exploração política que este fez das contradições da Frente Popular; de pouco serviu que a FBP declarasse a intangibilidade da propriedade privada e dos grandes bancos, assim como da dívida pública, nessa altura já atingindo os 300 bilhões de dólares. Uma vitória de Lula, ainda assim, teria significado uma derrota da burguesia.
A precária saída política achada pela burguesia ao derrotar Lula por uma margem pouco relevante (as 14 milhões de abstenções e votos brancos ou nulos superaram em quase quatro vezes a diferença de 4 milhões de votos em favor de Collor) não ocultou a derrota política sofrida pela classe operária. Dizer que houve uma “vitória política” porque Lula e o PT atingiram níveis inéditos de votação para a esquerda e as candidaturas operárias no Brasil, significa esquecer que na semana prévia ao segundo turno as pesquisas apontavam a possível vitória de Lula. O preço a pagar pela precária vitória burguesa foi a monumental crise política que levou à derrubada de Collor em 1992.
O relativo sucesso eleitoral do partido (se medido pela quantidade de votos), no entanto, permitiu ao PT ser o motor da esquerda em todo o continente: o Foro de São Paulo, criado em 1990 (através de um acordo com o PC cubano), iniciou a preparação política da esquerda continental como alternativa de governo, projetando internacionalmente a política frente-populista. O PT tomou a iniciativa e aglutinou quase toda a esquerda latino-americana na reunião, convidando não apenas partidos de esquerda, como também partidos burgueses menores.
Nessa reunião foi debatida a situação internacional, discussão aprofundada numa segunda reunião no México, depois na Nicarágua, em 1993, e finalmente em Cuba em 1994. A reivindicação da democracia contra o “golpismo de esquerda” precedente (guerrilhas incluídas) e a integração no mercado mundial capitalista foram as conclusões estratégicas com as quais a esquerda latino-americana, com o PT à sua cabeça, preparou sua candidatura ao governo, na década de 1990.
Depois das moratórias latino-americanas, determinadas pela exaustão financeira, o pagamento das dívidas foi retomado através dos Planos Baker e Brady, que incluíram a privatização “a preço de banana” (com títulos públicos podres) dos ativos estatais. Os planos visavam eliminar qualquer espécie de “renegociação soberana” e, sobretudo, de suspensão do pagamento da dívida; segundo os “economistas” já não era possível renegociar, pois se no passado havia um número limitado de bancos credores, com o “Brady” a dívida externa foi transformada em títulos públicos (os “bradies”) vendidos pelos bancos no mercado internacional, sem que se conhecesse a identidade dos donos desses títulos, que começaram a pairar no mundo inteiro.
Ou seja, o Plano Brady era menos um plano econômico do que uma manobra política (o default argentino de 2001 fez aparecer os proprietários desses títulos nos lugares mais inimagináveis, incluindo os cafundós agrários da Itália, e as montanhas tirolesas da Áustria…). A essa operação de entrega nacional e exploração social foi dado o pomposo nome de “neoliberalismo”, atribuindo um caráter ideológico a uma fraude econômica carente de qualquer outra “ideologia”, além do saque das finanças estatais e das economias nacionais periféricas.
O governo Sarney, produto de eleições indiretas, caíra em meio a um fracasso econômico contundente, com uma hiperinflação galopante (que atingiu 53.000% anual, determinando várias mudanças de moeda), provocada pela especulação financeira com os títulos públicos. O governo Collor, surgido das eleições de 1989, assim como os outros governos “democráticos” latino-americanos (cujo conteúdo econômico não foi o de opor uma resistência limitada ao imperialismo, mas o de aprofundar a entrega nacional, levando-a a níveis inéditos, até quando comparada com as ditaduras militares) aceitou o princípio do pagamento dos juros,[ix] como garantia para a renegociação do pagamento da dívida impagável, e o princípio de “capitalização da dívida”, liquidando o aparelho produtivo nacional, entregando-o em troca de títulos desvalorizados da dívida, aceitos pelo seu valor nominal.
Collor acabou com a histórica reserva de mercado para setores estratégicos (informática e petroquímica), e elaborou o primeiro plano econômico em que a privatização das empresas estatais passou a ser eixo da política do Estado. Os vitupérios posteriores contra o “presidente-ladrão” (que cobrou seu preço por ter livrado à burguesia do “sapo barbudo” montando uma roubalheira baseada num esquema de saques, comissões e desvios de verba) não mexeram o norte estratégico de sua política econômica.
O programa federal de privatizações, saneamento monetário e tributação regressiva exigido pelo imperialismo era incompatível com governos (como os de Sarney, Collor, depois Itamar Franco) sustentados em partidos demasiadamente comprometidos com as oligarquias regionais, com seus interesses disparatados e sistemas próprios de falcatruas. Do PMDB surgira assim o PSDB (com apoio também de frações de outros partidos), no qual, em que pese o papel de políticos regionais tradicionais (como Franco Montoro ou Mário Covas, de São Paulo, ou Tasso Jereissatti, do Ceará) a hegemonia política ficou nas mãos de representantes da intelectualidade paulista “de esquerda” (Fernando Henrique Cardoso, José Serra, e sua primeira geração de discípulos-agregados do Cebrap), que se propôs como substituta “moderna” da falida política oligárquica.
Até então, a participação política desse setor tinha sido periférica (e não muito bem-sucedida, como demonstrara o fracasso da candidatura de FHC para a prefeitura de São Paulo, derrotada por Jânio Quadros). Para dar estabilidade ao regime político, os velhos representantes oligárquicos (escaldados e debilitados depois do apoio prestado ao aventureiro alagoano) tiveram que abrir mão da sua hegemonia política, quase sem tê-la exercido, em favor da intelectualidade outrora perseguida pela ditadura militar.
Em novembro de 1991, o PT realizou, finalmente, seu Primeiro Congresso Nacional (entre sua fundação, em 1980, e essa data, quase doze anos depois, aconteceram oito “Encontros Nacionais”, não destinados, pela sua própria natureza, a discutir programa e estatutos). Depois da adoção da política frente-populista, o Congresso adotou o seu correlato organizativo, a “regulamentação das tendências internas”. O PT era já, a essa altura, uma federação de tendências de esquerda (funcionando na base do consenso), mas com as próprias tendências fortalecidas pelo forte movimento de recuperação classista acontecido em um número importante de sindicatos durante a década de 1980, movimento que não fora hegemonizado pela “Articulação”, a tendência “lulista” do PT (e da CUT).
O Congresso foi precedido por um “Manifesto” de Lula (lançado por fora de qualquer instância partidária), de conteúdo programático (pela “redistribuição da renda”; o Estado só deveria conservar “os setores estratégicos para o desenvolvimento nacional”) e, sobretudo, de conteúdo organizativo: “Concluiu o ciclo do partido organizado em tendências”, dizia o documento.
Esse foi o resultado do “programa elaborado pela base”. Sem a “normalização” do PT, a política de Frente Popular não o habilitaria como alternativa de governo, mesmo ampliando ad infinitum a política de alianças. A completa eliminação das tendências internas foi, no entanto, impossível, devido à precariedade do acordo político entre as tendências majoritárias e à força das tendências de esquerda, reflexo da radicalização e crescente politização dos trabalhadores e a juventude. A “esquerda” petista defendeu o “direito de tendência”, mas sobre bases puramente organizativas.
Nessas condições, a “normalização” do PT avançou aos trancos e barrancos, por etapas, e com “experiências piloto” (era impossível excluir a “esquerda” em bloco, sem provocar uma crise grave e, provavelmente, um novo reagrupamento político de esquerda, concorrente do próprio PT). As correntes trotskistas não foram excluídas do PT porque representassem uma ameaça de hegemonia na sua direção, mas como uma prova da capacidade de disciplinar o partido dentro de uma política situada dentro do regime social vigente.
Em todo esse processo, em menos de uma década, se agravaram os problemas crônicos da nação. “Modernidade” e pobreza, avanço técnico e fragmentação social, latifúndio improdutivo e mercado de futuros da soja se fortaleceram reciprocamente em um paradoxo aparentemente sem fim, expressão do desenvolvimento desigual e combinado das forças produtivas nacionais. Com a “guerra fiscal” entre os estados, destinada a criar melhores condições para os investimentos (estrangeiros, principalmente), originou-se um caos impositivo que questionou o próprio pacto federativo.
A guerra fiscal, por outro lado, foi e é paga pela população trabalhadora e pobre com cortes crescentes nos gastos sociais e no orçamento público, produto das isenções impositivas (“renúncia fiscal”) oferecida competitiva e compulsoriamente pelos estados ao grande capital, que foi obtendo lucros cada vez maiores no Brasil, especialmente no setor financeiro, cujos benefícios se situaram entre os mais altos do planeta (o lucro médio dos bancos no Brasil é de 26% ao ano, enquanto nos EUA varia entre 10% e 15%), setor que sofreu também um acelerado processo de concentração.
O eixo político, no entanto, foi se deslocando para a esquerda, com as vitórias e os governos do outrora outsider “marxista” Fernando Henrique Cardoso e, sobretudo, a vitória eleitoral de Lula e da coalizão montada pelo PT em finais de 2002, que deu início a quase catorze anos de governo ininterrupto do, ou tutelado pelo outrora vilipendiado “metalúrgico incapaz de governar”. O presidencialismo, com maioria própria ou “de coalizão”, manteve as bases bonapartistas do regime político. O eixo econômico central se manteve inalterado: os planos anteriores ao Real foram marcados pelos congelamentos de preços e salários (Cruzado, 1986; Bresser, 1987; Verão, 1989; Collor I e Collor II), seu insucesso foi creditado à “falta de credibilidade”, ou seja, à perda de capacidade reguladora e arbitral do Estado.
A virada dos anos 1980-1990 foi marcada pela crise desses “modelos de estabilização”, pela eclosão da hiperinflação e, ao mesmo tempo, pelo surgimento de outro “modelo”, baseado na introdução de âncora cambial. México (1989), Chile (1990), Argentina (1991) e Brasil (1994), além de vários outros países latino-americanos, asiáticos e do Leste europeu introduziram essa modalidade de estabilização.
A base para a implantação desse modelo foi o excedente de capital-dinheiro na economia mundial, resultante de várias fontes: a queda da taxa de juros dos Estados Unidos; o grande volume de recursos provenientes do crime organizado; a renegociação da dívida externa através do Plano Brady, que revitalizou um grande volume de recursos sob a forma de títulos públicos, passando a servir de base para novos créditos; e os recursos que advinham do crescente capital imobilizado, passava para a esfera financeira atuando no mercado de títulos públicos e no mercado de câmbio, somado aos grandes lucros financeiros que não conseguiam ser reinvestidos produtivamente, além da expansão dos fundos de pensões. A esquerda acabou aceitando (e, no caso do PT, finalmente, administrando) planos que eram um resgate do capital em crise.[x]
Planos que, também, preparavam uma crise ainda maior no futuro, quando a periferia capitalista fosse (e foi) golpeada pela crise financeira internacional. A direita escancarada, reduzida a expressão política marginal ao longo de três décadas e meia de regime civil brasileiro, refugiada em siglas eleitorais de aluguel desconhecidas e com escasso peso, reemergiu no quadro dessa crise retomando, com uma base social muito maior, e de modo certamente inconsciente, ignorante e degradado, os temas tradicionalistas da velha direita fascistóide de quase um século atrás, que tinham sobrevivido “culturalmente” de modo subterrâneo e silencioso, ao longo de décadas. Junto com ela reemergiu também a nunca erradicada tendência à militarização do Estado e da vida social, amparada e baseada nos interesses e privilégios específicos da casta militar, nunca submetidos ao crivo democrático (as viúvas e filhas de oficiais falecidos que o digam).
O bolsonarismo vitorioso em 2018 não foi o produto aleatório de uma combinação de circunstâncias, sem raízes históricas profundas. A história se repete (como tragédia, farsa ou o que seja), mas nunca sobre a base do ponto de partida precedente. A atual polarização política obedece, certamente, a uma lógica ditada pelas peculiaridades do desenvolvimento histórico do país. Ela não anuncia, porém, um retorno a uma normalidade que nunca foi “normal”.
A agonia do governo Bolsonaro se imbrica com a crise de todo um regime político. A sua saída não deriva só de uma lógica política independente, mas também da vigência, cada vez menos subterrânea, dos enfrentamentos de classe.
*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de História e Revolução (Xamã).
Nota
[i] https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/ANL
[ii] A Emenda Constitucional nº 20/98, que FHC fez aprovar no Congresso Nacional, inscreveu na Constituição Federal dispositivos que ajudaram a viabilizar a transferência dos sistemas de previdência para o setor privado.
[iii] Em 2003/2004, o governo Lula tentou aprovar, com o aval da CUT, uma reforma sindical que só não foi efetivada devido à sua rejeição por boa parte dos sindicatos. No entanto, em 2008, itens-chave daquela proposta foram implementados por meio da Lei nº 11648/08, chamada Lei das Centrais, que verticalizou a estrutura sindical e retirou a autonomia dos sindicatos de base.
[iv] Feita em nome da “revolução por etapas”: “A fim de derrotar o inimigo comum, é necessária a frente única das várias forças interessadas na emancipação e no progresso do Brasil. A aliança dessas forças resulta de exigências da própria situação objetiva. Como o imperialismo norte-americano e seus agentes internos constituem o inimigo principal, a frente única é muito ampla do ponto de vista de sua composição de classe. Pelo conteúdo das modificações que se propõe introduzir na sociedade brasileira e pela natureza das forças que a integram, é uma frente nacionalista e democrática”, dizia o PCB. A “burguesia nacional e democrática”, convocada pelo PCB, pariu e apoiou o golpe militar de 1964, e a consequente perseguição dos comunistas.
[v] O aumento do endividamento externo, “aproveitando a grande liquidez internacional de capitais”, ou seja, a sobre-acumulação mundial de capital, ocorreu no final da década de 1960. Em 1969, a dívida brasileira ultrapassou US$ 4 bilhões, após permanecer pouco acima dos US$ 3 bilhões durante toda a década. A dívida subiu de US$3,3 bilhões em 1967 para US$ 12,6 bilhões, crescendo a uma taxa média de 25,1% ao ano. Além disso a estrutura da dívida alterou-se. Nesse período, a participação na dívida pública sobre a total cresceu. A dívida líquida saltou de US$ 6,2 bilhões em 1973 para US$ 31,6 bilhões em 1978, crescendo à taxa de 38,7% ao ano, financiando os déficits da balança comercial e de serviços. O peso da participação estatal no endividamento subiu de 51,7% em 1973 para 63,3% em 1978. Além disso, os empréstimos passaram a ser feitos a taxas de juros variáveis, que se tornariam cada vez maiores. O aumento da dívida bruta, a taxas de juros cada vez mais altas, tornaram o endividamento externo um processo autoalimentado e, em 1977/1978, o pagamento de juros já representava quase 50% do déficit em conta corrente. A transferência de recursos para o exterior, medida como a diferença entre exportações e importações de bens e serviços, aumentou de 0,4% do PIB em 1980, para cerca de 3% do PIB em 1981/1982, e atingiu 5% do PIB em 1983.
[vi] Num dos primeiros Encontros Nacionais do PT foi convidado o representante consular dos EUA, que aceitou o convite.
[vii] Apesar da curta declaração da moratória da dívida externa brasileira, ela chegou aos 115,5 bilhões de dólares. O governo Sarney pagou 67,2 bilhões de dólares de juros da dívida externa, ou seja, 58,2% do montante total devido: a moratória só expressou a falência financeira do país.
[viii] Em 1979, as greves atingiram 2,5 milhões de trabalhadores; a greve metalúrgica de São Paulo, Osasco e Guarulhos encerrou essa fase do movimento grevista. Em 1980, o número de grevistas recuou para 750 mil, número inchado pela greve de 250 mil canavieiros de Pernambuco.
[ix] O pagamento do serviço da dívida externa atingiu o limite de consumir todo o saldo da balança comercial. Entre 1970 e 1990, o Brasil pagou em juros US$ 122,77 bilhões, mais do que o total do estoque da dívida externa (US$ 111,91 bilhões). A descapitalização do país chegou ao ponto de, entre 1985 e 1989, o Brasil ter pago US$ 56,65 bilhões e recebido US$16,74 bilhões do exterior: uma transferência liquida de US$ 40 bilhões, ou 15% da produção nacional. Em apenas seis anos, a dívida passou de 26% do PIB (1978), representando 53% do PIB em 1984.
[x] José Menezes Gomes. Acumulação de Capital e Plano de Estabilização. Um estudo a partir da experiência de âncora cambial na América Latina dos anos 90. 2005. Tese de Doutorado em História Econômica, Universidade de São Paulo (FFLCH), 2005.