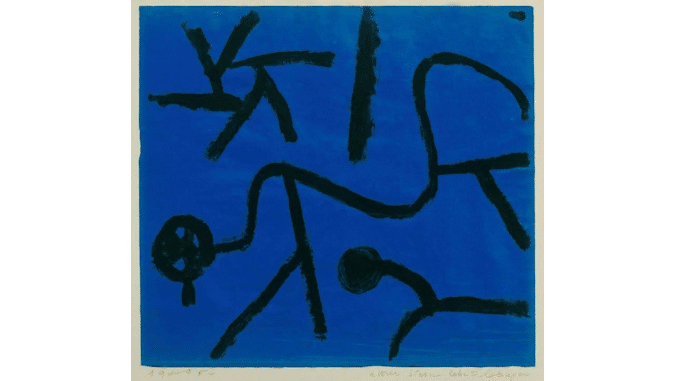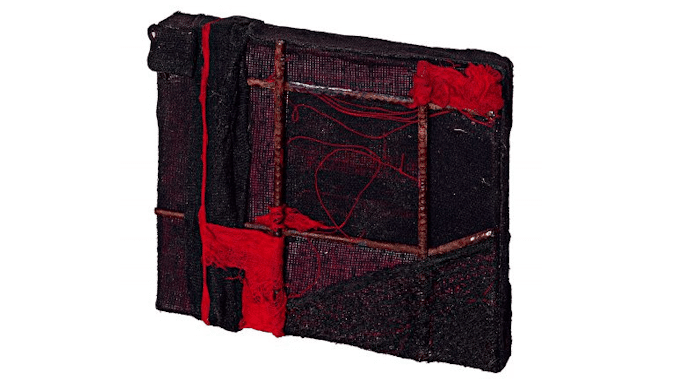Por HENRIQUE COSTA*
O empreendedorismo popular na pandemia
Introdução
Como se não bastassem as flexibilizações e a eliminação de direitos trabalhistas, a ascensão da robótica e da inteligência artificial a eliminar milhares de ocupações e o retorno da extrema direita, veio o vírus. A pandemia de Covid-19, que progressivamente alcançou o mundo todo, interrompeu fluxos financeiros, interpelou governantes e cientistas e implodiu as rotinas e os projetos de vida de literalmente bilhões de pessoas que se viram subitamente impedidas de trabalhar. Mais importante, o vírus não cessou de matar todos os dias desde que surgiu em Wuhan.
No Brasil não foi diferente, mas com peculiaridades diretamente resultantes da ascensão de Jair Bolsonaro à presidência da República e da mutação do lulismo, cujos programas sociais de sucesso se mantêm mesmo após a queda de Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores (PT) em 2016 (cf. COSTA, 2018).O lulismo é uma narrativa maleável que, entre políticas públicas e alguma redução na desigualdade da renda do trabalho, pretendeu transformar a sociedade brasileira numa “nova classe média” e fez com que jovens trabalhadores precários das periferias, viradores em geral, pequenos empresários seguidores da teologia da prosperidade e moradores dos enclaves cosmopolitas altamente qualificados e deliberadamente sem vínculos formais fossem atirados numa mesma categoria, a dos empreendedores.
Na situação-limite que se abateu com a pandemia, esse discurso dá mais um passo adiante, pois a precarização geral do mundo do trabalho se revela justamente na intensificação do teletrabalho, ainda que a experiência vivida dos trabalhadores continue distante, pois enquanto as classes populares temem pela subtração de sua renda, correm riscos de saúde mantendo suas atividades à revelia da lei ou recorrem ao auxílio estatal, outros em número muito menor podem “desfrutar” do home office[i]. No mundo do trabalho, o colapso, que não é novo, mostra agora sua face mais “democrática” de dessocialização pelo trabalho precário, atingindo outras ocupações outrora pouco vulneráveis aos seus impactos.
Com a revolução tecnológica, o autogerenciamento assumiu formas ainda mais avançadas, especialmente na chamada gigeconomy e no trabalho mediado por plataformas digitais, fenômeno que ficou conhecido como uberização, mas cujo mecanismo remete aos “modos de subjetivação relacionados às formas contemporâneas de gestão do trabalho e ao neoliberalismo, que nos demandam uma compreensão do engajamento, responsabilização e gestão da própria sobrevivência” (ABÍLIO, 2020, p. 113). A despeito das ferramentas inovadoras, o autogerenciamento atravessa todo o mercado de trabalho contemporâneo ao determinar a cada trabalhador que invista em seu “capital humano”. Na medida em que tanto o teletrabalho quanto os serviços de entrega por aplicativos se expandem, tornando-se cada vez mais presentes no imaginário popular com a aplicação da quarentena, essas novas tecnologias convergem com um empreendedorismo popular em ascensão.
Para Christophe Dejours (1999), gerentes e lideranças deliberadamente infligem sofrimento aos trabalhadores ao imporem ferramentas de “engajamento” e autogerenciamento que, naturalmente, se confundem com vigilância e controle. O teletrabalho ainda torna difuso o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, pois, “liberto do relógio de ponto, da baia de um escritório, da figura do gerente”, o trabalhador “tem seu tempo de trabalho e sua produtividade altamente controlados por novos mecanismos, como os das metas e entregas por produto” (ABÍLIO, 2020, p. 115). Visto como privilégio durante a pandemia, o home office — assim como os serviços de entrega por aplicativos, característicos do trabalho uberizado — integra um mesmo sistema de intensificação do trabalho que, por sua vez, sempre esteve presente nas modalidades de empreendedorismo popular.
Mas outras cisões se sobrepõem àquela entre o teletrabalho e a precarização, como a cisão entre trabalhos essenciais e não essenciais. Comércios, escolas, restaurantes, cinemas e qualquer estabelecimento público ou privado sujeito a gerar aglomerações — potencializando, portanto, o espalhamento do vírus — e que não fosse considerado “essencial” deveriam fechar, eventualmente atendendo por delivery. A expressão “vida loka”, corriqueira na quebrada, ganha na pandemia uma nova dimensão, quando a rotina de entregadores de aplicativos, cobradores de ônibus e profissionais da saúde, entre outros vivendo no limite entre a vida e a morte, revela justamente que as categorias consideradas essenciais são, por sua vez, as mais arriscadas e que quase sempre menos remuneram. Do home office à vida loka, a lógica que se impõe é a do autogerenciamento.
No mundo do trabalho, há elementos suficientes para afirmar que a pandemia chega para acelerar o processo de desfiliação em curso[ii], forçando o ethos empreendedor também para celetistas e funcionários públicos, obrigados a incorporar em suas rotinas tecnologias de autogerenciamento desenvolvidos para a viabilização do home office em larga escala. Corriqueiras no setor privado, formal e informal, a ascensão dessas ferramentas indica que parece não haver mais lugar seguro onde tempo de trabalho e tempo de não trabalho possam estar separados.
A pandemia nos impõe, ainda, outros interrogantes. Em todo o mundo, políticas de renda básica para o enfrentamento do desemprego em massa e da dramática questão social que emergiu das determinações de isolamento e de fechamento radical da economia foram a solução emergencial e mostram sua eficácia para a manutenção do sistema. Seria esse apenas um recuo tático para que a acumulação por espoliação volte em breve com toda a força? Ou o vislumbre de um novo pacto social e do retorno do Estado ao centro da organização da sociedade pela renda básica universal e pela revalorização dos sistemas públicos de saúde?
Estive em meados de agosto em Santo Amaro, região bastante desigual e razoavelmente próxima do centro expandido da cidade de São Paulo. Na rua Barão de Duprat, contínua ao Largo Treze e ao Mercado Municipal de Santo Amaro, algumas dezenas de comércios populares funcionavam normalmente, a não ser pelas já habituais máscaras e potes de álcool em gel na entrada das lojas. Lá segui o mesmo roteiro que havia cumprido alguns dias antes, a quase 30 km de distância. No distrito de Parelheiros, extremo sul da cidade, andei pelos comércios populares do bairro de Vargem Grande, caracterizado pelas ruas de terra batida e por estar situado sobre a Cratera de Colônia, área tombada como patrimônio geológico, parte de uma área de proteção ambiental (APA) e de proteção de mananciais da represa Billings e, portanto, povoada por ocupações irregulares onde vivem cerca de 50 mil pessoas (cf. VOIVODIC, 2017).
A dimensão subjetiva da crise aponta para complexidades que estão além de uma simples revisão do papel do Estado na vida pós-pandemia. Neste artigo, busco investigar essas tensões por meio de uma abordagem teórica que incorpora uma discussão sobre a nova centralidade do trabalho que emergiu nesta crise e o papel do Estado em sua regulação. Na sequência, agrego dados empíricos da etnografia que desenvolvi em duas regiões comerciais da Zona Sul de São Paulo com donos de pequenos negócios durante a pandemia[iii], uma periférica e outra mais central, revelando detalhes importantes para a compreensão desse setor da população, emblemático em uma sociedade “sem classes” e posicionado entre o ilusionismo do teletrabalho e a vida loka.
Da “nova classe média” à sociedade sem classes
Comentando o romance Estorvo, de Chico Buarque, Roberto Schwarz (1999) via no personagem central “um moço de família vivendo como joão-ninguém a caminho da marginalidade”, isto é, se alternando entre espaços de ilegalismo e privilégio e fazendo a síntese do Brasil redemocratizado. Seu lugar no tecido social se explicaria não pelo antagonismo entre ricos e pobres, mas repousaria “na fluidez e na dissolução das fronteiras entre as categorias sociais”. O cantor-romancista parecia antever nos escombros dos anos Collor a sociedade sem classes agora consolidada, em que o empreendedor, como fenômeno que atravessa as classes sociais, corporifica as contradições do discurso e os reelabora subjetivamente. O personagem de Buarque se tornaria protagonista na apoteose do lulismo e símbolo de intenção explícita do então presidente de vender o sucesso do país pela ascensão de uma “nova classe média”. Esse recorte, núcleo do que chamo de “sociedade sem classes”, compreendia à época quase metade da população brasileira[iv].
O que nos distingue é que o moderno e o arcaico são espelhos endógenos da acumulação, como apontou Chico de Oliveira (2003). A regra que impôs o autogerenciamento à maioria da classe trabalhadora brasileira, nascida em um mundo “já revirado” (cf. TELLES, 2005), é o que caracteriza o ornitorrinco atualmente. Diante do colapso da experiência lulista de pacificação social e inclusão pelo consumo, a “nova classe média” se mostraria, em sua essência, um conjunto de indivíduos viradores em uma busca permanente por qualificar seu capital humano e disputar um mercado de trabalho cada vez mais degradado.
A noção de classe média no Brasil andou na contramão de seu congênere consagrado na Europa e nos EUA, onde classes distintas se distinguiam por seu modos de vida, mas compartilhavam padrões de vida[v] semelhantes como consequência da sociedade salarial local e das políticas de bem-estar social. Como notou Guilluy (2020), no norte global o embaralhamento da noção de classe média serve ao propósito de confundir ricos e pobres, vencedores e perdedores da globalização, e ofuscar interesses de classe divergentes, pois sua ressignificação tem como objetivo ideológico entendê-la como “nova” e globalizada contra uma “velha” e ultrapassada.
No Brasil, esse intuito foi parcialmente alcançado com a narrativa, amplamente difundida nos anos 2010 pela mídia e pelos governos, da “nova classe média”, medida por critérios unicamente estatísticos (cf. NERI, 2008). Por mais que a lógica do discurso sobre a classe média seja semelhante (afinal, os discursos também foram globalizados), o caso brasileiro é peculiar, pois triunfante num país da periferia do capitalismo que nunca chegou a ter propriamente uma “classe média” no sentido europeu. Pelo contrário, longe da formação de uma sociedade salarial, o Brasil foi constituído desde a sua origem como país moderno, estimulando um “empreendedorismo popular” que se firmou dos viradores da periferia paulistana aos das facções de jeans no agreste de Pernambuco (cf. BRIGUGLIO et al., 2020; OLIVEIRA, 2003).
Ruy Braga (2019) vê na frustração daqueles que se endividaram nos últimos anos — sobretudo aqueles com renda familiar entre dois e cinco salários mínimos — a fonte dos acontecimentos políticos posteriores, visto que tais investimentos, incentivados pelas administrações petistas, exacerbaram, isto sim, o sentimento de meritocracia entre as famílias de trabalhadores. Esse é um recorte que combina de maneira bastante acurada com o que exponho neste artigo. Ainda mais árdua, a esperança daqueles que investiram anos e dinheiro em cursos superiores reemerge encharcada de ceticismo, como observei em minha pesquisa com bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni), um emblema do lulismo que prometeu fazer do filho de pedreiro, doutor (cf. COSTA, 2018), quando a realidade recente é que 40% dos formados no ensino universitário não conseguem vagas qualificadas (cf. LIMA e GERBELLI, 11/08/2020; MACEDO, 2019). Como efeito dominó, preenchem as vagas que seriam anteriormente ocupadas pelos que completaram até o ensino médio.
Nas periferias urbanas, a lógica empreendedora que atravessa evangélicos, “bandidos” e atores estatais, transformando todos eles também em operadores de mercado, universaliza a monetarização como único idioma possível da gestão do conflito social e urbano. Como destaca Feltran (2014, p. 14), “quando nem a lei, nem o que é considerado certo podem mediar a relação entre cortes populacionais e seus modos progressivamente autônomos de conceberem a si e aos outros, é o dinheiro que aparece como único modo objetivo de mediar suas relações”. No Brasil pós-lulista, marcado pela crise econômica profunda e pelo esfacelamento das políticas públicas, a política que emerge é mediada pela precariedade e pela frustração com a “inclusão pelo consumo”, restando apenas o “empreendedor” em suas múltiplas versões.
Parte considerável da energia gasta pelos últimos governos na “promoção” do mercado de trabalho brasileiro, aliás, se deu nessas bases. Em 2004, o Ministério do Trabalho lançava o programa Jovem Empreendedor, desenvolvido junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), voltado a estimular a entrada de jovens no mercado de trabalho com o propósito de “oferecer capacitação para acessar créditos, elaborar um plano de negócios e acompanhamento pós crédito. Mas fracassa em seus intentos, principalmente pela dificuldade, para os jovens, de ter acesso a créditos” (cf. TOMMASI, 2016, p. 111).
A crise econômica que se seguiu à reeleição de Rousseff — queda de 3,8% no produto interno bruto (PIB) de 2015, com recuo de 6,2% na indústria e 2,7% nos serviços, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2015) — aprofundou-se nos últimos anos e apenas ensaiava uma recuperação. Às vésperas do início da pandemia, a taxa de desemprego seguia em queda no patamar de 11%, mas o país terminava 2019 com 19,4 milhões de trabalhadores por conta própria na informalidade, quase 2% a mais do que em 2018 (IBGE, 2019). Já o número de microempreendedores individuais (MEI) saltou de 7,7 milhões para 9,4 milhões em um ano.[vi]
Essa é a atual realidade do mundo do trabalho que a pandemia agora intensifica, e é nesse contexto de dessocialização acelerada que a Covid-19 aportou no Brasil em 2020. Afora as mais de 100 mil mortes até meados de agosto, o país contabilizava uma taxa de desemprego de 13,1% no final de junho de 2020. Até a primeira quinzena de junho, 716 mil empresas fecharam as portas, de acordo com a Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, realizada pelo IBGE. Do total de negócios fechados temporária ou definitivamente, 40% (522 mil firmas) afirmaram ao instituto que o fechamento se deu por conta da crise sanitária.
Por outro lado, 67,2 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial de R$ 600,00 entre abril e agosto, para quem, segundo Gonzalez e Barreira (2020), o acréscimo de renda mais do que compensou as perdas derivadas da crise. Os números e os processos de trabalho que se generalizam na quarentena intensificam a expansão do autogerenciamento que vinha em curso: entre março e julho, 600 mil trabalhadores se tornaram MEIs, um crescimento de 20% em comparação com o mesmo período de 2019, resultado, em grande medida, do aumento do desemprego e do empreendedorismo por necessidade[vii].
A sociedade “sem classes” é o inevitável resultado da proliferação de indivíduos empresários de si, pois “parece haver indícios consideráveis que a corporação se converteu em uma instituição paradigmática da sociedade contemporânea e de que muitos de seus valores se difundem também para o resto da sociedade” (cf. LÓPEZ-RUIZ, 2006, p. 96, tradução minha). Igualmente, mas por outra perspectiva, essa sociedade se conforma pelo endividamento e pela responsabilização das famílias em detrimento do Estado (cf. COOPER, 2017; LAZZARATO, 2012), cujo título “nova classe média” representa sua versão conveniente e espetacularizada.
Do comerciante ao empreendedor
A caminho da Zona Sul de São Paulo vindo do Centro da cidade, seguindo de ônibus pela Marginal Pinheiros ou de trem pela linha Esmeralda da CPTM, avistam-se as pontes que adornam o maltratado rio que empresta nome à via. Durante boa parte do trajeto, edifícios espelhados e neoclássicos, sedes de multinacionais, hotéis de cadeias internacionais e templos de consumo de luxo se reproduzem na paisagem insólita da maior cidade do hemisfério sul. Por volta de junho de 2019, encontrava-se estampado na fachada de um desses prédios, de modo a ser visto a muitos quilômetros de distância, a frase “Bora empreender, Brasil”, uma campanha do Banco Santander. Cerca de um ano depois, com a pandemia ainda fora de controle no país, o mesmo banco divulgava na mídia a campanha de seu programa “Responsa prospera”, voltado a pequenos empreendedores em apuros pelas medidas restritivas e estrelado pela paulistana Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta.
O discurso do empreendedorismo positiva sua variante popular, a viração, e oculta sua essência de precariedade. Mas, para Adriana e outros “sujeitos periféricos”, trata-se quase de uma obviedade, pois na perspectiva que divulga na infinidade de eventos que participa, a população negra “sempre foi empreendedora”, indicando, nas entrelinhas, que a sociedade salarial sempre fora uma quimera para essa parcela majoritária da classe trabalhadora precária brasileira.
A tímida recuperação econômica que se verificava no início de 2020, em vez de caminhar para uma reestruturação do mercado de trabalho precarizava-o ainda mais, pois a queda na taxa de desemprego veio sustentada pelo aumento do número de empregados sem carteira de trabalho assinada no setor privado (41%, segundo o IBGE). Isso ajuda a explicar o sucesso do MEI no distrito do Campo Limpo e nos distritos vizinhos da Zona Sul de São Paulo, onde venho há alguns anos desenvolvendo estudo etnográfico: à época, dos 660 mil microempreendedores individuais formalizados na capital, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ele concentrava 26.870, menos apenas que o central distrito da Sé (cf. FONSECA, 06/08/2019).
O empreendedorismo popular está por toda parte na periferia paulistana. Os casos existem aos milhares e, mais ou menos bem-sucedidos, se identificam entre si pela necessidade de gerar renda, ou seja, o desafio de movimentar a economia em um lugar onde quase não há empregos qualificados e nem geração de valor endógeno. Inclui aqueles que sabem que são empreendedores e buscam a atenção do centro (pela ideia de “impacto social”) e aqueles que, à margem desse discurso, replicam a prática do empreendedorismo.
Esses antigos comerciantes periféricos ocupam os modestos centros comerciais de seus bairros quase que alheios ao restante da cidade. A Zona Sul de São Paulo, pelo seu gigantismo, abriga lugares tão desiguais que sua heterogeneidade chega a surpreender, como se nota na bem estruturada região do Campo Limpo em face do precário Jardim Maria Sampaio, com seu piscinão a céu aberto com aspecto de abandono. Centros comerciais existem em todos eles, quase sempre de perfil popular, e neles viradores e comerciantes mais estabelecidos dividem o espaço e a atenção de milhares de clientes fiéis ou em potencial.
Pedro Luís tem 50 anos e é dono de um petshop em Vargem Grande há mais de duas décadas. Ele tem apreço pelo bairro e considera que seus clientes, todos vizinhos, são, na verdade, amigos. Mas comenta uma diferença notável entre Santo Amaro e o seu bairro, que não tem nenhuma agência bancária nem lotérica. Diz ele que “nossos políticos aí estão devagar, eles não querem pôr lotérica aqui porque têm medo de roubo”. Geralmente toca o estabelecimento com um empregado, mas no momento da entrevista se virava sozinho. Reclama que “estava com um menino aí, mas o menino estava me fazendo raiva, aí mandei ele embora. Não, para passar raiva e gastar o dinheiro ainda, eu prefiro ficar sozinho”. Fanfarrão, fez a conversa vestindo uma máscara estampada com um sorriso ligeiramente sinistro e desconfortável para o interlocutor. Como estava sozinho na loja, interrompeu a entrevista inúmeras vezes para atender clientes e fornecedores. Pedro ainda tem um bar na mesma rua, que opera clandestinamente e que, por suposto, não fechou nem perdeu clientela na quarentena. “No momento, eu tô sonegando”, confessa, ao não legalizar o bar.
O dono do petshop e do bar irregular é um “empreendedor” da velha guarda, isto é, começou trabalhando no supermercado de um tio aos 12 anos, estudou até o ensino médio e nunca mais saiu do comércio. Trabalha dez horas diárias no petshop nos sete dias da semana. Obviamente exaustiva, tal rotina é bastante comum naquela região de comércio. Perguntado se não sente o cansaço, admite que sim, mas se resigna. Como uma padaria, diz, “não adianta um cara abrir uma padaria para ele não abrir no horário que todos abrem. Não é nem pela grana, é pelo cliente que tem que chegar e tem que tá aberto”. Pedro Luís conta que já chegou a se desfazer da loja por não conseguir conciliá-la com o casamento. A comprou de volta e enfureceu a esposa, que lhe fez escolher entre ela e o petshop. Ele escolheu o petshop e eles se separaram.
Como apontei anteriormente, o discurso neoliberal se disseminou e descobriu uma variante popular, mas é interessante observar a maneira como esse termo é interpretado pela geração de Pedro Luís. Joseph Schumpeter (1982) identificou no empreendedor a personificação da força do novo, traduzida na capacidade de imaginar e no espírito inovador, isto é, uma “destruição criadora”. A elaboração e a execução de novas combinações produtivas fazem dele agente desencadeador de mudanças. Mas para Pedro Luís empreendedor é sobretudo aquele que batalha, passa por reveses, mas sabe se reinventar. Longe do perfil schumpeteriano, essa percepção se serve de uma ambição modesta e de trabalho duro, que envolve sacrifícios pessoais para, simplesmente, ganhar o dia e manter a família, eventualmente se valendo de pequenos delitos, como tocar um bar clandestino.
— Essa loja aqui direto eu mudo alguma coisa nela. Eu pego mercadorias diferentes para não ficar na mesma, senão tinha quebrado. Então isso é empreendedorismo, você ter visão do que o mercado está precisando naquela hora, então eu acho que me considero empreendedor. Eu tava com a loja aqui meio capenga, meio ruim antes da pandemia por causa de problemas pessoais, aí eu já inventei um barzinho, já pus para rodar e voltei de novo, você tem que mudar para poder… se você ficar parado pedindo para Deus só não vai dar, você vai morrer. Eu acho que eu sou guerreiro. Eu procuro tá sempre olhando o mercado como está, as rações que estão mais rodando no momento para não ficar na mesmice. O povo enjoa da mesma coisa, então você tem que mudar sempre e aí você tem sempre mercado. Parou no tempo, se lascou. Eu acho que isso é ser empreendedor.
A determinação em batalhar e se transformar quando necessário é o fundamento desse empreendedorismo popular, que não se deixa abater e encontra soluções quando a situação exige. É assim também com os jovens admiradores do empreendedorismo, mas o que os diferencia é a ambição e um certo ethos neoliberal. Com 36 anos, Tiago Fonseca abriu sua loja de presentes em Santo Amaro em plena pandemia. E não era a primeira: ele tem mais três comércios no periférico Jardim Ângela, próximos de onde mora, uma loja de roupa, uma floricultura e outra de presentes, como a que visitei. Há cerca de cinco anos, ele deixou seu emprego de gerente em uma conhecida assistência técnica de produtos automotivos, onde tinha carteira assinada e nenhuma queixa.
Tiago diz que já tinha o empreendimento “engatilhado”, pois viu nele uma “capacidade maior” do seu conhecimento. Ele é formado em recursos humanos, com pós-graduação em psicologia na mesma universidade privada localizada ali perto, no Largo Treze. Completou seus estudos sem nenhuma bolsa ou financiamento por escolha própria, já que tinha condições de pleitear. Apesar de não exercer a profissão, acredita que sua formação universitária é fundamental para lidar com pessoas e conhecer futuros parceiros; além do mais, valoriza o conhecimento adquirido, pois este “ninguém tira”.
Sua loja na rua Barão de Duprat foi resultado de ousadia e planejamento, diz. Segundo ele, em Santo Amaro não há muita concorrência no seu ramo, pois “os atacados e varejos só têm no centro, então por tudo que eu estudei e planejei, acredito que não tem como dar errado”. De fato, pelo menos até o momento da entrevista, Tiago afirmava ter aumentado seu faturamento durante a pandemia, vendendo pelo WhatsApp e pelo Facebook enquanto as lojas de roupas se mantinham fechadas. Ele manteve os quatro funcionários das lojas do Jardim Ângela em casa, pagando metade do salário, mas não demitiu ninguém. Ele mesmo fazia as entregas, até 5 km distante.
— Não vou te dizer que ser comerciante é melhor porque você trabalha três vezes mais, você não tem férias, não consegue descansar direito. Na empresa que eu estava, realmente o meu salário era bom, mas só que eu sentia que eles não me valorizavam da forma que eu sentia que eu deveria ser valorizado, era para eu estar em um patamar e eu estava em outro e não por falta de conhecimento.
Assim como no caso de Pedro Luís, sua jornada de trabalho impressiona, uma regra entre velhos e novos empreendedores, ainda mais sendo ele casado e com três filhos. Mas o que o motivou a deixar a empresa onde tinha um emprego estável e se atrever num negócio próprio é algo bastante característico de sua geração, a necessidade de se sentir “valorizado”, o que não parece fazer sentido para Pedro e outros entrevistados da mesma faixa de idade, para quem tornar-se comerciante foi algo quase que involuntário e determinado externamente. Ele não se vê como empresa de si, não pensa em termos de “capital humano” e sua alegada falta de estudos — ele terminou o ensino médio — serve como justificativa para não ter um trabalho melhor, o oposto de Tiago, que via em sua formação universitária um ativo para o sucesso de seu negócio. Como notei em minha pesquisa de mestrado (cf. COSTA, 2018), a formação superior traz enormes expectativas para jovens da classe trabalhadora em busca de evitar as ocupações manuais, o que Beaud e Pialoux (2009) chamaram de “fuga do destino operário”.
Assim, segundo Ehrenberg (2010), na nova configuração erigida pelo culto da performance, todos devem, independentemente da sua origem, “realizar a façanha de tornar-se alguém”. Na origem desse novo entendimento empreendedor está o esfacelamento da representação da sociedade em termos de classes sociais, isto é, entre o baixo e o alto da sociedade e seu antagonismo.
Essencial x não essencial
Ana tem 40 anos e virou “empreendedora” como consequência direta da pandemia. Ela e seu marido têm uma loja de quadros e molduras na Barão de Duprat, que no momento da entrevista contava com apenas ela no atendimento. Isso porque, com o fechamento dos negócios não essenciais por determinação do governo estadual, sua loja teve que demitir os seis funcionários. De modo que ela teve que deixar seu emprego em um escritório de advocacia para ajudar o marido com a loja: ela fica no atendimento enquanto ele produz os quadros e as molduras. Ela sente falta da “carteira assinada”, dos benefícios que a CLT garante. Ser patroa, para Ana, não significa vantagem, já que as reponsabilidades aumentam muito e “não tem ninguém acima de você que você pode recorrer”.
Nos dois meses em que trabalhou a portas fechadas, eles atendiam por WhatsApp. Ana explica que o aluguel do espaço é caro e não foi renegociado por intransigência da proprietária; além disso, sua clientela é mais velha e, mesmo após a reabertura, não frequenta a loja por medo do vírus. Diante da perspectiva de lockdown das atividades comerciais, o que acabou não se concretizando, ela tinha sentimentos semelhantes aos de outros comerciantes que não são considerados “serviço essencial”, ou seja, uma forte rejeição à proposta. Assim, foi bastante notável entre os entrevistados um certo conflito de percepções sobre o fechamento total do comércio entre aqueles que têm negócios considerados “não essenciais” e a sua contraparte indispensável.
Assim como Pedro Luís, Elaine tem um estabelecimento “essencial” em Vargem Grande, uma ótica que se destaca na rua de comércio local pela organização e pelas três funcionárias devidamente uniformizadas. Ela é dona do negócio desde 2015, quando comprou dos antigos donos. Afirma que, desde então, toca a loja “lutando” muito. Com 46 anos e ensino médio completo, Elaine conta que até chegou a começar um curso superior, mas desistiu e optou por um curso técnico de auxiliar de necropsia, mas que também não exerce, pois “não é viável financeiramente”. Como seu colega dono de petshop, ela tem uma relação afetiva com o bairro, sua segunda casa, diz, pois mora no Grajaú, também na periferia da Zona Sul. Elaine demonstra muito orgulho pela relação que estabeleceu com o bairro: “A gente tem uma relação muito boa com a população, as pessoas já me conhecem de longa data, tenho amizade com todos os comerciantes, com muitos moradores que se tornaram não só clientes, mas passaram a ser amigos”, diz.
No caso, conta que sua ótica se manteve lucrativa durante a pandemia e o lockdown não lhe inspirava preocupação. Elaine demonstra bastante firmeza na voz e convicção no que faz, e uma sólida ética do trabalho com ecos de teologia da prosperidade[viii]. Para ela, que é evangélica da Assembleia de Deus, ser uma empreendedora significa “sair cedo, trabalhar, construir nosso patrimônio. Oferecer o que a gente tem para os nossos clientes, dar toda a atenção, atendimento, não só o ‘pré’, mas o ‘pós’. Ajudar o nosso próximo, fazer campanhas, então eu entendo assim”. A pandemia não mudou muito sua rotina, que continua de segunda a segunda, com um dia de folga para as duas vendedoras e “uma boy”, mas incluiu a limpeza constante dos produtos e ter que lidar com a falta deles, pois muitos de seus fornecedores fecharam até que o serviço foi aos poucos se normalizando.
Os exemplos de Ana e Elaine ilustram certa crise existencial que a pandemia e as medidas dos governos trouxeram para muitos empreendedores populares e atingiu com mais força aqueles que trabalham mais próximos ao centro da cidade, onde a fiscalização da Prefeitura é mais intensa e não é tão fácil burlar a quarentena. De modo que tanto Ana quanto outros comerciantes que entrevistei, cujos negócios não eram considerados serviços essenciais, de lojas de molduras como a dela a pequenos estabelecimentos de assessórios e bugigangas em geral, tinham muita contrariedade com a possibilidade de fechamento geral, que já os havia atingido com força, como se vê na interrupção da próprio trabalho, inclusive formal, para substituir os funcionários que precisaram ser desligados. Ana ainda “se virou” com ferramentas novas, como o WhatsApp, mas para Dilson, outro dono de comércio em Vargem Grande, essa não era uma possibilidade razoável, já que ele trabalha com DVDs piratas de baixíssimo valor agregado. Isso, claro, se ele tivesse fechado a sua loja.
Em junho de 2020, ganhou o noticiário a mobilização encabeçada pelos entregadores de serviços por aplicativos, que ficou conhecida como “breque dos apps”. Vistos como trabalhadores essenciais, eles enfrentaram durante a pandemia o risco do contágio, acentuando seu lado vida loka, que, para Hirata (2010), identifica o drama cotidiano das vidas precárias, a percepção da vida como guerra e o sobreviver na adversidade, comum aos moradores da quebrada. Sem a mesma visibilidade, empreendedores populares considerados “não essenciais” se mantiveram em atividade, ignorando as regras impostas pelos governos e se expondo ao vírus, ou se virando para cumpri-las, o que significou medo, insegurança, funcionários demitidos e realinhamentos profissionais.
Pandemia, Estado e neoliberalismo popular
Na pequena loja de Dilson, chama atenção a coleção de centenas de DVDs piratas que se acumulam nas gondolas, de filmes de ação a shows de forró. Na outra lateral, entre carregadores, bonecos de super-heróis e máscaras de proteção penduradas na parede, se senta esse baiano de 50 anos, há 20 morando em Parelheiros. Antes, trabalhou de segurança em um condomínio, que deixou para se tornar camelô em Santo Amaro. Lá, vendia cerveja, brinquedos e amendoim cozido. Apesar de ter decidido deixar o trabalho, inclusive contra a vontade da empresa de segurança privada, considera que o emprego registrado era melhor, pois trabalhava das 6h às 14h e, quando chegavam as férias, “ia para Bahia, ficava 25 dias na Bahia, voltava de novo, começava, uma coisa que estava seguro. Já aqui não, aqui a gente tem que batalhar todos os dias”. É confusa a maneira como Dilson justifica sua escolha, pois suas digressões sobre a garantia do salário ao fim do mês contraposta à ideia de que como camelô trabalha muito mais e o retorno é bem mais incerto dá a entender que o trabalho formal o deixava acomodado. Com o aumento da fiscalização contra os ambulantes no terminal de ônibus, sua renda diminuiu e ele se mudou para Vargem Grande, onde começou trabalhando na rua até aparecer o salão para alugar, onde está até hoje. Mas a transição para o bairro foi ainda mais complicada:
— Então, a experiência você começa a ter uma visão diferente. Eu fui crescendo, pensado as coisas diferentes, vendo que não dava isso aqui, tem que fazer por aqui e eu me dei bem, eu sinto que eu me dei bem. Eu só não me dei bem quando eu estava em Santo Amaro, eu vim crescer financeiramente e mentalmente quando eu cheguei aqui. (…) Para mim não foi fácil, porque eu saí de um lugar que totalmente a minha renda era maior e não tinha clientes aqui, quase não conhecia ninguém, e lá em Santo Amaro era onde minha renda da minha vida que eu tinha, era uma renda até boa. Quando foi fechando o círculo para camelô eu vim para cá, então comecei do zero e as portas foram se abrindo, fui conhecendo o pessoal, pegando a freguesia. Aí as coisas também foram se levando, foram melhorando e graças a Deus estamos aí.
De segunda a segunda ele atende na loja, sem funcionários, das 9h às 20h, praticamente sem descanso. A rotina é difícil, e sua esposa, que também era camelô, ajuda apenas na parte da manhã. Sua última folga foi há sete anos, quando passou 15 dias de férias na Bahia, terra de seus pais, e em Alagoas, onde vivem os sogros. Seu trabalho ali na loja não chega a ser exaustivo, diz, mas sente falta de uns dias para aliviar. “Mentalmente você fica um pouco desgastado, mas o corpo tá bom”, comenta com certo orgulho. Mas para Dilson isso não tem grande importância, já que começou trabalhando na roça aos cinco anos de idade fazendo “serviço mais leve”, como plantar milho e feijão.
A essência do empreendedorismo popular vem de sua estrita ética do trabalho. Na geração de Dilson, ela era pouco definida pelos estudos, mas o arrebatamento pela ideologia do capital humano aparece aqui de maneira inesperada, um sintoma dramático do seu alastramento pelas classes subalternas. Ele estudou até a sétima série do ensino fundamental e pensa em voltar à escola, pressionado pelo que vê como uma mudança no mercado de trabalho, “totalmente diferente” do que era quando trabalhou de segurança, e trazida pelas novas gerações de trabalhadores, que na sua visão saem na frente pelas vagas “por causa do estudo que você tem. O mais importante hoje é você ter o estudo”. Mencionando que faria matemática, Dilson, por outro lado, não faz questão: “Para mim hoje qualquer tipo de curso ajuda porque hoje sempre precisa de algo a mais, você fala assim ‘não, eu fiz curso’, mas sempre precisa mais”. Por sinal, seus dois filhos estão na faculdade.
Como vimos nos outros empreendedores populares entrevistados, essa ética em sentido profundamente weberiano, em que o trabalho predomina sobre a maneira como o indivíduo se identifica e se posiciona em relação ao mundo, isto é, um fim em si mesmo, determina sua visão de mundo de maneira muito evidente na periferia paulistana. Vivendo na jaula de ferro do capitalismo, veem na letra da lei um refúgio contra o que veem como injustiças, ainda que a descumpram eventualmente para benefício próprio (cf. WEBER, 2004).
Um exemplo trazido pela pandemia salienta essa ética de maneira rara: o auxílio emergencial de R$ 600,00 aprovado pelo Congresso e pago mensalmente desde abril de 2020. De maneira unânime, todos os entrevistados apoiaram a iniciativa, mas fizeram as mesmas ressalvas: o auxílio tem que ser pago a quem “realmente precisa”, indicando entre eles um ranço contra aqueles que, supostamente, se aproveitam do benefício sem necessitá-lo. Pedro Luís, por exemplo, acha que na fila pelo auxílio tem muito “nóia”, mas recebe o auxílio por estar “desempregado” — o petshop está no nome da esposa e o bar não tem CNPJ. Outra contradição notável é o fato de que esses comércios continuaram com clientela porque parte dela usava seu auxílio emergencial inclusive para comprar produtos supérfluos, como admite Tiago, ao comentar o aumento nas vendas na sua loja de presentes. Dilson vai na mesma direção:
— Eu não vou dizer que não ajudou porque o cara recebe 600 reais aí dá para pagar uma conta de água, uma conta de luz, dá para fazer alguma coisa, comprar. Não vou dizer que não ajudou, mas eu prefiro estar trabalhando porque você trabalhando, você sabe o que você pode conquistar, e você depender dos outros não é legal. Eu acho legal você conquistar trabalhando, mas você dependendo… aí fala assim “dia cinco vai cair”, quando foi outro mês “dia cinco não vai cair, vai cair no dia 15”. É uma coisa que você não tem certeza, mas dizer que ajuda, ajuda sim, principalmente para aquelas pessoas que dependem, que estão desempregadas, que não tem de onde tirar, mesmo esse dinheiro que cai já ajuda sim.
Esta ética do trabalho vem passando por uma transformação sutil, mas igualmente relevante, em que elementos de neoliberalismo se tornam comuns nos discursos de empreendedores populares. Muito distante de um modelo eurocêntrico de subjetividade neoliberal como teorizaram Dardot e Laval (2013) — que, apesar disso, está presente nos enclaves cosmopolitas de São Paulo, o que denuncia a cisão entre eles e as periferias da própria cidade —, há, por outro lado, um discurso que enfatiza uma opinião negativa sobre o Estado. Adriano tem uma loja de assessórios na rua Barão de Duprat, onde trabalha sozinho. Ele tem 48 anos e veio do Ceará em 1985. Há alguns anos, demitiu a própria esposa, que era registrada e passou a trabalhar sem registro. Ele inclusive gostaria de se definir como empresário, mas não o faz porque, diz, “eu andei desregularizado e estou tentando regularizar ela [a loja], falta pouca coisa para poder ser considerado como empresário”. Destacando as dificuldades que tem tido na ocupação, acredita que a situação econômica melhorou nos últimos governos (Temer e Bolsonaro), o que teria sido interrompido pela pandemia, que trouxe mais desemprego:
— No momento [a dificuldade] está sendo o desemprego, que caiu muito as vendas. Devido a esse auxílio ajudou bastante, as pessoas gastam pouco, mas tem sido isso a dificuldade. Outra dificuldade maior que já vem de muitos anos e não sei se vai mudar com algumas reformas que é imposto em produtos nacionais, é por isso que eu trabalho até com algumas coisas importadas made in China como você está vendo. Tento trabalhar com coisas nacionais, mas não dá por isso, pelo imposto alto.
Veena Das e Deborah Poole (2004), ao produzirem uma “antropologia nas margens do Estado”, acreditam que o poder do Estado sempre se exerce a partir da distribuição diferencial de sua presença, e não por meio de uma soberania onipresente. Sua legitimidade estaria sempre em jogo em suas práticas, em que a “inteligibilidade” da presença do Estado é sempre dada por seus participantes, que se encontram naquelas fricções entre diferentes regimes normativos. O auxílio emergencial revela contradições entre os entrevistados com relação ao trabalho, mas também o Estado se vê sob suspeita, e as contradições se avolumam. Além das dúvidas sobre o benefício, percebe-se que os entrevistados adotam uma opinião sobre políticas públicas que surpreende pelo ceticismo e sugere uma mudança na percepção, que agora vem temperada com certo pragmatismo neoliberal. Adriano, por exemplo, põe em dúvida a possibilidade de manutenção do auxílio emergencial, pois “vamos ver como é que fica o país, como é que vai pagar essa conta”. Ao mesmo tempo, defende que o Sistema Único de Saúde (SUS) e os profissionais de saúde sejam valorizados. Ele não tem plano de saúde e agora sente que apenas o serviço público pode garantir seu atendimento — mesmo que a consulta demore três meses, se queixa Adriano.
“Vamos tocar a vida”
Na semana em que o Brasil ultrapassaria a marca de 100 mil mortos pelo novo coronavírus, Jair Bolsonaro ensaiou lamentar o fato, mas em uma de suas tradicionais lives no Facebook afirmou que é preciso “tocar a vida”, o que, de todo modo, reverbera o que tem sugerido desde o começo da pandemia. Por insensível que a declaração possa parecer, ela expressa exatamente o que tem feito a quase totalidade dos trabalhadores e comerciantes na periferia da capital paulista. E talvez, justamente por isso, o controverso presidente mantenha bons número de popularidade mesmo desdenhando da doença e dos críticos à maneira como conduz o seu enfrentamento[ix].
Em Vargem Grande, um deles é Fernando Souza, mais conhecido no bairro como Fernando Bike, graças à bicicletaria que mantém ali há 25 anos. Com seus pais, saiu de Curitiba no final da década de 1970 e se estabeleceu na favela Jardim Iporanga. O pai desapareceu quando ele tinha sete anos, fugindo de ameaças e confusões com vizinhos, a mãe permaneceu onde estava e Fernando se mudou para Parelheiros, onde se casou, teve filhos e realizou seu sonho de trabalhar com bicicletas. Ele me recebeu em sua casa, onde, da sua pequena biblioteca, sacou livros de Dan Brown e me mostrou com especial admiração a biografia de Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia.
Conciliando a bicicletaria, que fica sob gerência da esposa a maior parte do tempo, com a atividade de chaveiro, Fernando também tem uma atividade política intensa. Já foi filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e no momento da entrevista havia mudado para o PT e se preparava para apoiar a candidatura de Jilmar Tatto a prefeito, cuja família tem no bairro um de seus redutos políticos. Caminhando pelo local, obras de pavimentação são facilmente notadas, mas as faixas de agradecimento que adornam casas e comércios eram naquele instante para outros políticos: o vereador Milton Leite, seu filho e deputado federal Alexandre e o prefeito Bruno Covas. O próprio Fernando já foi candidato a vereador em três oportunidades, com votação razoável, porém insuficiente para elegê-lo.
Fernando mantém uma pequena oficina que abrigava no momento da entrevista três máquinas de costura para a produção de máscaras, em parceria com uma ONG local. Conta que se aproximou da política por ver o bairro esquecido pelo poder público e a presença de políticos apenas em época eleitoral. Mas confessa que antes de morar em Vargem Grande “pensava como a maioria”, pois “quando morava no Iporanga era aquele ódio de política, ‘tudo ladrão, sem vergonha’. Você vai amadurecendo com o tempo e participando das reuniões você vai vendo que é algo demorado dos caras tomarem a decisão”. Ele conta que sempre votou no PT e não economiza elogios ao ex-presidente Lula, mas, apesar disso, acha que o partido hoje está mais para “centro-esquerda” e não mais de “esquerda”. Tanto ele como outros empreendedores populares têm opinião positiva sobre o período em que o PT esteve no governo federal, quando mais ganharam dinheiro, afirma. Contudo, já no governo Rousseff, ele notava que o número de desempregados aumentava: “Eu tinha na minha loja quatro pessoas trabalhando direto, hoje são duas pessoas. Eu tinha que ir mais cedo para fazer montagem de bicicleta, que eu vendo bicicleta nova, e foi caindo”.
Fernando vê que o pessimismo se espalhou pelos comerciantes nos últimos anos, apesar de alguma melhora recente, e isso se reflete na política. Ele repete o discurso de uma parte da esquerda brasileira de que a vitória do ex-capitão foi resultado de fakenews, mas que a esquerda logo dará a volta por cima, na medida em que o atual mandatário é desmascarado. Mas um obstáculo, segundo Fernando, é o próprio desinteresse da periferia em participar da política:
— A periferia não tem muito [interesse]… A mão de obra está ali, o grosso das indústrias vem da periferia, essas pessoas, se você pegar aqui o extremo da Zona Sul como referência, você vai ver que a maioria do tempo dessas pessoas passam no ônibus, por que eu falo isso? Ele sai cedo, ele não participa das decisões do bairro, das discussões, às vezes têm as audiências públicas no sábado e no domingo ou em um feriado, ele está cansado porque ele se desgastou muito no transporte.
Crítico do governo Bolsonaro, Fernando é exceção entre os entrevistados. Não que o presidente desperte grandes paixões entre eles, mas a maioria, quando o critica, aponta para o destempero com que ele costuma se expressar, especialmente contra repórteres. Dilson, por exemplo, repudiou com veemência o tratamento dispensado a eles, sobretudo porque eles são “empregados”, ou seja, trabalhadores como ele: “Imagina [que] um repórter vai te fazer uma pergunta, ele é empregado, ele faz aquela pergunta que o patrão manda, ali está tudo por escrito, aí ele chega e diz ‘cala a boca’…”.
Melinda Cooper (2017), analisando o contexto americano, entende que a valorização da família diante da retirada do Estado e da expansão das políticas de crédito explica a aliança possível entre o neoliberalismo e o “novo conservadorismo social”. Aqui, o perfil mais “bolsonarista” dos entrevistados também é o mais empreendedor. Tiago vê o problema do comportamento do presidente por outro ângulo: justamente por ser como é, Bolsonaro terá problemas para seguir no poder. Sua falta de postura presidencial, na visão desse lojista, parece ser um problema não para as classes populares, mas para os donos do dinheiro. De modo que o que ele acredita ser a grande virtude do “nosso presidente” é exatamente a sua falha, e o candidato que mais se aproxima seria exatamente o seu oposto, o governador de São Paulo, João Doria, pois “o marketing dele é muito bom”:
— O Bolsonaro, ele é um ótimo presidente, mas realmente ele fala muito o que ele pensa e isso não é muito agradável para um presidente no Brasil. Ele só deveria pensar antes de falar, porque realmente ele é muito honesto, muito direto, muito reto. A maioria da população gosta disso, mas para um presidente, acho que não é muito legal falar o que pensa.
Acusações de fascista ou golpista contra Bolsonaro passam longe da realidade desses empreendedores populares, que via de regra aprovam seu governo e sua condução da crise. Sobretudo entre os considerados “não essenciais”, sua defesa da manutenção da economia e seu rechaço às medidas de confinamento social têm especial apreço. A responsabilidade pelo descontrole da doença não é atribuída ao presidente, e mesmo que a pandemia os preocupe (todos eles conhecem pessoas infectadas), a percepção de que ela está passando, mesmo que ainda não exista vacina, é compartilhada por todos. Por outro lado, é plausível que seja o seu comportamento, rompendo a ética e o respeito que deve existir entre trabalhadores e patrões, elemento de especial desgaste para sua imagem nas periferias e seus velhos e novos viradores.
Considerações finais
Robert Kurz (1992) escreveu que o colapso da modernização representava que o capitalismo, pelo acirramento da concorrência, passaria a preterir cada vez mais da força de trabalho substituindo-a pela cientifização e pelo investimento no desenvolvimento da técnica. O fim não apenas de milhares de ocupações antes vitais para a acumulação capitalista e para a reprodução social não é sua única consequência, contudo, e a precarização social do trabalho se espalha pelo Ocidente. Com a globalização, não só os padrões de vida da “classe média ocidental” desaparecem, como diz Guilluy (2020), mas também seus modos de vida se veem sob ataque. No contexto da pandemia do novo coronavírus, a centralidade do trabalho volta à tona, com bilhões de pessoas ao redor do mundo em suas casas, desfrutando do teletrabalho, mas enfrentando consequências físicas e emocionais pelo isolamento; ou desempregadas e impedidas de abrir seus comércios pelas determinações de confinamento social. A pandemia, por fim, acelera esse colapso ou repõe a importância do trabalho, quando ele é simplesmente tirado de nós?
A resposta mais imediata nos primeiros meses na presença da Covid-19 foram os programas de renda básica, de caráter emergencial. Outra, diante do que apresentei neste artigo, parece estar no autogerenciamento como saída de emergência para um sistema incapaz de dar soluções para a precarização em larga escala. Seu avanço para categorias novas (como os motofretistas) ou em reformulação (como uma infinidade de ocupações de gestão de empresas) indica que ele não é só um discurso, mas está efetivamente mudando a lógica e eliminando pilares do trabalho contemporâneo como o tempo de trabalho e tempo de não trabalho, e o digital em lugar do presencial. No Brasil, desigualdades entre as classes ficam ainda mais nítidas com a determinação do que é essencial e do que é descartável. O que fazer quando não se é considerado essencial, nem se está à disposição para o home office?
No meio disso, reitera-se a importância do trabalho, precarizando-o ainda mais, pois o discurso neoliberal vaticina que mais direitos implicam em menos empregos. Nada de novo, se não fosse a sua assimilação pelas famílias subalternas, se virando em meio às dívidas e seduzidas pelo novo conservadorismo (COOPER, 2017). É no trabalho e no que se relaciona com ele que o neoliberalismo popular se revela, ainda mais do que na desvalorização social dos serviços públicos, já que o SUS garante atendimento médico para a população mais pobre no pior momento da crise sanitária e econômica. Portanto, a destruição material do trabalho elimina também os modos de vida que se associavam a ele. Em seu lugar, o discurso do empreendedorismo ganha sentido material quando o autogerenciamento atinge progressivamente o conjunto dos trabalhadores pelas novas tecnologias de gestão e pelos trabalhos mediados por plataformas digitais sem direitos nem salvaguardas.
O empreendedorismo popular, contudo, se equilibra entre esses dois extremos, e obviamente não passou incólume pela pandemia. Pequenos comércios na periferia de São Paulo, onde desenvolvo etnografia, com poucos ou nenhum empregado, administrados em família por uma rígida ética do trabalho, se dividem entre duas gerações separadas pela educação formal. Sobre a classe trabalhadora francesa, dizem Beaud e Pialoux (1999, p. 181) que as gerações mais novas “experimentam uma juventude que imita aspectos da adolescência burguesa. A passagem para o ensino médio cria, e às vezes aviva, o conflito entre o ethos operário dos pais e o ethos colegial dos filhos”. No caso do empreendedorismo popular brasileiro, e especificamente paulistano, esse conflito se dá entre aqueles que não se chamam de empreendedores, mas de comerciantes e que fizeram até o ensino médio. Para essa geração mais velha, o que conta é ser batalhador e saber se reinventar quando preciso, e a quarentena foi prova disso. Para os mais jovens, por sua vez, que tiveram melhor educação e que adotam o discurso do empreendedorismo, contam a ousadia, o investimento no capital humano e estar alerta para as novas tecnologias.
No artigo que apresentei, a opinião sobre Jair Bolsonaro é ambígua, porém reveladora. Pouco questionado pelos entrevistados sobre sua conduta em relação à pandemia, sua aceitação contudo não é completa. Entre os mais velhos, é o seu comportamento que chama a atenção pelo lado negativo, ao ter suas diatribes contra repórteres (que, afinal, são funcionários) rechaçadas, ofendendo a ética e o respeito que devem existir entre patrão e empregados. Para Tiago, o mais jovem dos entrevistados, também é o comportamento de Bolsonaro que se destaca, mas pelo contrário. Por ser verdadeiro e sincero, ele não seria aceitável para a elite (mas seria pelo povo). Tiago também é o mais enfático na defesa do governo.
Em comum, a contradição em relação ao papel do Estado e a relativa concordância com o auxílio emergencial, que deve ser apenas para “quem realmente precisa”. A continuidade do benefício para além da pandemia parece se chocar com aquela ética do trabalho, que ecoa a velha distinção entre trabalhador e vagabundo, como popularizada por Getúlio Vargas. O autogerenciamento, por sua vez, converge com a retirada do Estado do mundo do trabalho e o resguardo na família, e o discurso que vem junto dele tem no bolsonarismo o seu principal resultado.
*Henrique Costa é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Publicado originalmente na revista Dilemas .
Referências
ABÍLIO, Ludmila Costhek. “Uberização: A era do trabalhador just-in-time?”. Estudos Avançados, vol. 34, no 98, pp. 111-126, 2020.
BEAUD, Stéphane.; PIALOUX, Michel. Retorno à condição operária: Investigação em fábricas da Peugeot na França. São Paulo: Boitempo, 2009.
BRIGUGLIO, Bianca; GRECCO, Fabiana; LINDÔSO, Raquel; LAPA, Thaís. “Evidências da plasticidade e atualidade da divisão sexual do trabalho a partir de quatro modalidades concretas”. Política & Trabalho, no 53, dez. 2020 (no prelo).
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Petrópolis: Vozes, 2015.
COOPER, Melinda. Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism. Nova York: Zone Books, 2017.
CORSEUIL, Carlos Henrique; NERI, Marcelo; ULYSSEA, Gabriel. “Uma análise exploratória dos efeitos da política de formalização os microempreendedores individuais”. In: Texto para discussão. Brasília; Rio de Janeiro: Ipea, 2014.
COSTA, Henrique. Entre o lulismo e o ceticismo: Um estudo com bolsistas do Prouni de São Paulo. São Paulo: Alameda, 2018.
DAS, Veena.; POOLE, Deborah. Anthropology in the Margins of the State. Santa Fe/Oxford: School of American Research Press/James Currey, 2004.
DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV, 1999.
EHRENBERG, Alain. O culto da performance: Da aventura empreendedora à depressão nervosa. Aparecida: Ideias & Letras, 2010.
GONZALEZ, Lauro; BARREIRA, Bruno. Efeitos do auxilio emergencial sobre a renda. Texto para discussão. São Paulo: FGV, 2020.
GUILLUY, Christophe. O fim da classe média. Rio de Janeiro: Record, 2020.
HIRATA, Daniel. Sobreviver na adversidade: Entre o mercado e a vida. Tese (doutorado), PPGS, USP, 2010.
IBGE. Contas nacionais trimestrais: Indicadores de volume e valores correntes. Brasília: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2015.
________. Pesquisa Nacional por Amostra de DomicíliosContínua – Quarto Trimestre de 2019. Brasília: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2019.
KURZ, Robert. O colapso da modernização. São Paulo: Paz e Terra, 1991.
LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa, 2013.
LAZZARATO, Maurizio. The Making of the Indebted Man. Los Angeles: Semiotext(e), 2012.
LÓPEZ-RUIZ, Osvaldo. “Somos todos capitalistas? Del obrero al trabajador-inversor”. Nueva Sociedade, Buenos Aires, no 202, pp. 87-97, 2006.
MACEDO, Renata M. “Políticas educacionais e a questão do acesso ao ensino superior: notas sobre a deseducação”. Cadernos de campo, vol. 28, no 2, pp. 26-31, 2019.
MACHADO DA SILVA, Luiz Antonio. “Da informalidade à empregabilidade (reorganizando a dominação no mundo do trabalho)”. In: CAVALCANTI, Mariana; MOTTA, Eugênia; ARAUJO, Marcela (orgs). O mundo popular: Trabalho e condições de vida. Rio de Janeiro: Papeis Selvagens, 2018, pp. 277-298.
NERI, Marcelo. A nova classe média. Rio de Janeiro: FGV/Ibre, CPS, 2008.
OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista / O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.
SCHUMPETER, Joseph. A teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
SCHWARZ, Roberto. “Um romance de Chico Buarque”. In: Sequências brasileiras. São Paulo: Companhia da Letras, 1999, pp. 178-181.
SINGER, André. Os sentidos do lulismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
TELLES, Vera da Silva. “Mutações do trabalho e experiência urbana”. Tempo Social, vol. 18, no 1, pp. 173-195, 2006.
THOMPSON, Edward P. The Making of the English Working Class. Nova York: Vintage Book, 1966.
TOMMASI, Lívia. “Culto da performance e performance da cultura: os produtores culturais periféricos e seus múltiplos agenciamentos”. Crítica e Sociedade: Revista de Cultura Política, Dossiê – Maio, pp. 100-126, 2016.
VALLE, Vinicius. Religião, lulismo e voto: A atuação política de uma Assembleia de Deus e seus fieis em São Paulo. Tese (doutorado), PPGCP,USP, 2018.
VOIVODIC, Amanda. Manancial de contradições: O conflito entre o morar e as políticas de preservação. Dissertação (mestrado), PPGH, USP, 2017.
WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Fontes da imprensa
BRAGA, Ruy. “From the Union Hall to the Church”. Jacobin Magazine, 4 de julho de 2019. Disponível (on-line) em: https://www.jacobinmag.com/2019/04/bolsonaro-election-unions-labor-evangelical-churches
FONSECA, Mariana. “Este é o bairro de São Paulo que tem mais microempreendedores (MEIs): O Brás, famoso pelo comércio de acessórios e roupas, é o bairro da capital paulista com o maior número de microempreendedores individuais”. Exame, PME, 6 de agosto de 2019. Disponível (on-line) em: https://exame.com/pme/este-e-o-bairro-de-sao-paulo-que-tem-mais-microempreededores-meis/
GARCIA, Diego. “Home office é novo indicador de desigualdade econômica no Brasil: Segundo o IBGE, sistema concentra trabalhadores formais qualificados em regiões mais prósperas”. Folha de S. Paulo, Mercado, 30 de agosto de 2020. Disponível (on-line) em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/home-office-e-novo-indicador-de-desigualdade-economica-no-brasil.shtml
LIMA, Bianca; GERBELLI, Luiz Guilherme. “No Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não têm emprego qualificado: Levantamento da consultoria IDados aponta que 525 mil trabalhadores com diploma, entre 22 e 25 anos, são considerados sobre-educados – exercem ocupações que não exigem faculdade; pandemia deve agravar esse cenário”. G1, Economia, 11 de agosto de 2020. Disponível (on-line) em: https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/08/11/no-brasil-40percent-dos-jovens-com-ensino-superior-nao-tem-emprego-qualificado.ghtml
Notas
[i] Seis meses depois de sua disseminação entre as empresas, os dados da PNAD-Covid19 indicam que dos 8,4 milhões de trabalhadores remotos do país, 4,9 milhões estão no Sudeste. Cerca de 10% da população ocupada se encontrava em home office em agosto. Entre essas pessoas, quase 73% tinham graduação ou pós-graduação completa. Os trabalhadores sem carteira assinada, por sua vez, representavam apenas 15% do contingente total, enquanto eram quase 40% da população ocupada (cf. GARCIA, 30/08/2020).
[ii] Para Castel (2015, p. 478), a sociedade salarial é também “uma gestão política que associou a sociedade privada e a propriedade social, o desenvolvimento econômico e a conquista dos direitos sociais, o mercado e o Estado”. Com a sua desintegração, se acelera o processo de desfiliação de sujeitos ora inintegráveis.
[iii] Busquei, na medida do possível, garantir a minha segurança e a dos entrevistados com o uso ininterrupto de máscara e distanciamento sempre que necessário.
[iv] Segundo Neri (2008), o grupo que ele denominava de “classe C” atingia 44,19% da população brasileira em 2002. Para ele, que foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no governo Dilma Rousseff, o recorte “aufere em média a renda média da sociedade, ou seja, é classe média no sentido estatístico”.
[v] Utilizo neste trabalho “modo de vida” (wayoflife) como parte de “uma descrição (e, às vezes, uma avaliação) de qualidades”, que se baseia, portanto, na experiência subjetiva daqueles que vivenciam determinados processos sociais. Na definição de E. P. Thompson (1966, p. 211), o modo de vida se diferencia de “padrão de vida” (standard oflife), que se refere a aspectos objetivos e quantitativamente mensuráveis.
[vi] Dados do Portal do Empreendedor do governo federal. Disponíveis (on-line) em: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas
[vii] Dois dos efeitos medidos da introdução do MEI foram que empresários maiores reduziram a escala para se enquadrarem no programa e também que algumas empresas, em particular as menores, passaram a usar o programa para trocar a relação de trabalho assalariado pela de prestação de serviços (cf. CORSEUIL, NERI e ULYSSEA, 2014).
[viii] Segundo Valle (2018), nem todas as denominação neopentecostais reivindicam a teologia da prosperidade, mas a sua ênfase na prosperidade material dos fieis é notável mesmo nesses casos.
[ix] Em pesquisa divulgada em 14 de agosto de 2020, o Datafolha mostrava uma elevação do índice de ótimo e bom do governo Bolsonaro de 32% para 37%, o melhor patamar desde o começo do mandato, em janeiro do ano anterior.