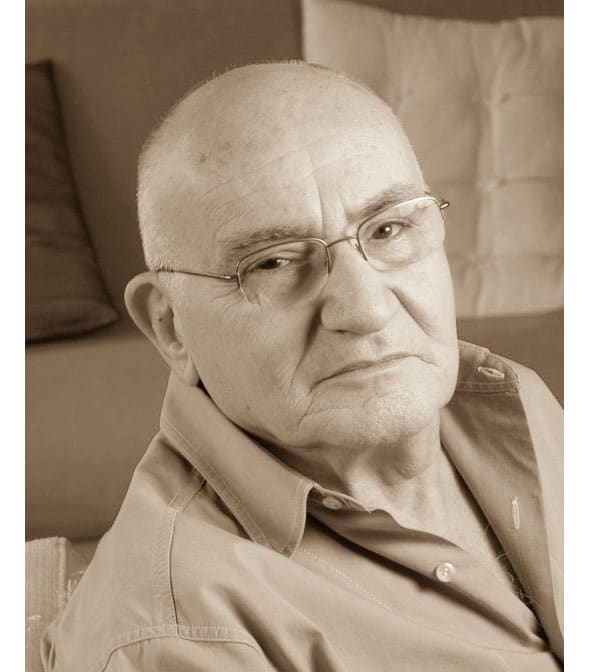Por TERRY PINKARD
Prefácio ao livro recém-lançado de Emmanuel Nakamura
1.
Desde a data de sua publicação, a Filosofia do Direito de Hegel, de 1820, foi alvo de críticas e, após a morte de Hegel, em 1831, motivou novas reformulações de seus temas centrais que foram além e contra as próprias opiniões de Hegel.
Ainda jovem, Karl Marx considerou que Hegel – e, em particular, a concepção de Hegel sobre o Estado – havia delineado de forma mais ou menos perfeita o tipo de estrutura social e política do Estado burguês e da propriedade burguesa pós-Revolução Francesa, ao mesmo tempo em que falhou fundamentalmente em perceber as contradições que estavam começando a surgir dentro dessa mesma estrutura, um conflito dentro da própria estrutura hegeliana que exigiria uma nova ordem.
Algumas décadas mais tarde, John Dewey considerou que toda a filosofia de Hegel apontava para além de si mesma, para uma nova forma de filosofia pragmatista americana, sem, no entanto, dar o passo final e revolucionário para o pragmatismo completo. Algumas figuras do final do século XX chegaram mesmo a considerar que Hegel tinha construído os elementos tóxicos do próprio Estado totalitário.
Ao desenvolver uma nova versão e decantada do hegelianismo, Emmanuel Nakamura empreendeu uma defesa de Hegel, observando todas essas dúvidas anteriores. Em seu livro de 1820, Hegel ofereceu o que chamou de Grundlinien, ou seja, as “linhas gerais” da Filosofia do Direito. No uso metafórico de Hegel, as “linhas gerais” são como as linhas traçadas em um campo para a prática de um esporte – como uma quadra de tênis ou um campo de futebol.
Essas linhas gerais não especificam como se deve jogar um determinado jogo, mas estabelecem as restrições sob as quais o jogo pode ser jogado. É claro que Hegel não pensava em suas próprias linhas gerais como algo que tivesse como referência um esporte ou jogo, mas como o ambiente abstrato (embora também concreto) ou o “frame” no qual a vida moderna deveria se desenvolver.
2.
Na visão de Hegel, a base da vida moderna era a concepção de propriedade e troca de propriedade, que só fazia sentido dentro de um conjunto mais abrangente de moralidade, de eticidade [ethical life], famílias, economia política e direito constitucional.
Para defender seu ponto de vista, Hegel argumentou que a necessidade de ordenar racionalmente os conflitos que disputavam as reivindicações de propriedade exigia uma moderna concepção kantiana e fichteana da moralidade, defendendo que os mandamentos e as leis da moralidade não deveriam ser vistos como legislados por Deus ou pela Natureza em si, mas sim por nós mesmos como legisladores autônomos.
No entanto, essa concepção moderna e insubstituível da moralidade não encontrou uma maneira real de expressar por que as pessoas se sentiriam motivadas a obedecer a uma lei moral autocriada e autolegislada, e não estava claro como isso se encaixava no Estado soberano emergente.
Para isso, tanto os direitos de propriedade quanto as leis morais precisavam ser incorporadas a uma estrutura mais concreta do que Hegel chamou de “eticidade” (Sittlichkeit, um termo alemão comum que, segundo Hegel, significava em seu uso comum o mesmo que “moralidade”, mas que ele reservou para seu próprio uso um significado especial e técnico para cada um deles).
Se os “direitos abstratos” de propriedade e os mandamentos e regras de moralidade autocriadas e autolegisladas, como características do “Direito” deôntico, tivessem qualquer força real, precisavam ser incorporados a uma concepção não deôntica de uma vida melhor como “o Bem”. A eticidade era a maneira pela qual nosso conviver tomava forma concreta nas formações da vida familiar moderna, em uma sociedade civil que era também uma sociedade de mercado e dentro de um Estado constitucional simbolicamente governado por um monarca constitucional.
Esse conjunto de práticas e instituições forneceria a cola necessária para manter toda a estrutura unida. Além disso, todo o edifício em si foi construído a partir da necessidade de manter várias contradições juntas, com o óbvio adendo de que qualquer estrutura social que exigisse neutralizar contradições básicas seria sempre uma empreitada frágil.
No cerne dessa maneira dialética de conceber as diferentes partes móveis da vida moderna, Hegel considerou ter demonstrado que todo o conjunto se baseia em abstrações conceituais que também exigem uma forma institucional muito concreta e que, sem essa forma baseada em práticas e instituições, elas não podem se tornar elementos reais da vida subjetiva das pessoas reais.
3.
A “propriedade” em si é uma abstração concreta. Uma coisa é reivindicar algo como meu por posse e sinalização, como podemos imaginar que nossos ancestrais muito antigos tenham feito. Pode-se sinalizar que algo era de sua posse rosnando para outra pessoa que talvez estivesse ameaçando levá-la embora, ou batendo no peito, ou brandindo um bastão ou qualquer outra coisa para comunicar que estava disposto a lutar ali mesmo por esse pedaço de “propriedade”.
O surpreendente, porém, é que, ao desenvolver uma concepção de posse como propriedade, passa-se a uma afirmação muito abstrata de que ela continuará sendo propriedade mesmo quando não se tem ela à vista ou se a deixa de lado para outro dia.
Isso cria uma forma concreta-abstrata de convivência para os seres humanos autoconscientes que vai além da mera sinalização e estabelece uma maneira de considerar nossas vidas comuns, que se estendem por gerações, como tendo uma forma conceitual própria, que nós mesmos criamos e legislamos. A vida autoconsciente, portanto, dá forma a si mesma, o que também exige uma avaliação racional de si mesma. Em seu cerne, a concepção “individualista” moderna é, efetivamente, a concepção abstrata de uma vida social mais plena que a incorpora dentro de si mesma.
4.
O próprio Hegel admitiu que essa forma de conviver na forma de “sociedade civil” – uma preocupação com a civilidade, mantendo um conjunto de instituições de livre mercado dentro de si mesma – havia criado, durante a vida do próprio Hegel, uma contradição dentro de si mesma que não podia ser resolvida dentro das linhas gerais que o próprio Hegel havia definido.
Em um sistema de livre troca entre trabalhadores agrícolas, cidadãos urbanos e um conjunto de burocratas profissionalmente treinados que trabalhavam para o Estado – o que Hegel chamou de “classe universal”, como aqueles cujos meios de subsistência específicos exigiam que mantivessem os interesses do todo em mente –, haveria, no entanto, aqueles que, devido a circunstâncias infelizes, nunca seriam capazes de adquirir as habilidades e a educação necessárias que os tornariam trabalhadores adequados para essa nova forma de economia política, e ele não via nenhuma estratégia coerente e politicamente viável para mitigar isso.
Hegel previu de forma bastante sombria que eles formariam uma plebe perigosa e desestabilizadora no meio do Estado. No entanto, à medida que a década de 1820 avançava, Hegel começou a perceber que isso também afetava uma nova classe de pessoas, não apenas os cronicamente desempregados, mas também os trabalhadores pobres (um fenômeno novo em sua época).
Ele apelou para novas formas de intervenção estatal para resolver o problema, mas também começou a compreender – como ficou evidente em suas preleções sobre o assunto – que isso punha um elemento novo e potencialmente ainda mais desestabilizador naquilo que Hegel esperava que fosse uma estrutura social estável, formada após as convulsões provocadas pelas guerras napoleônicas na Europa.
A história mostra que as esperanças de Hegel logo se frustraram, e muitos naquela série de interlocutores, de Marx até os teóricos críticos de Frankfurt, se afastaram de Hegel (embora ainda o admirassem) para buscar outras maneiras de pensar sobre essas contradições básicas ou tentaram reescrever as visões de Hegel em termos mais contemporâneos e não hegelianos.
Emmanuel Nakamura retoma a história no presente e argumenta que, pelo contrário, o pensamento de Hegel ainda tem ressonância à luz de nossos próprios tempos. Ele também argumenta que há outra contradição no sistema hegeliano que Hegel não poderia ter percebido, que diz respeito à contradição entre os tipos de direitos protegidos nos Estados-nações democráticos liberais e o status dos migrantes em nossa atual crise migratória.
Diz-se que os membros dos Estados democráticos liberais têm instituições que reconhecem e protegem seus “direitos humanos” universais, enquanto aos migrantes são negados esses direitos universais. A observação de Hannah Arendt sobre a situação dos apátridas que precisam do “direito de ter direitos” se baseia nisso.
Se a filosofia é realmente, como Hegel afirmava, seu próprio tempo apreendido em pensamentos, a filosofia hegeliana tem algo a oferecer para apreender nossos tempos em pensamentos? Especialmente à luz da grande crise migratória de nosso tempo?
A crise não parece estar indo embora, e Emmanuel Nakamura usa isso como ponto de partida para ver como as ideias hegelianas se comparam a outras propostas para conceituar isso. Ele nos deu uma visão abrangente de como seria nosso tempo “apreendido em pensamentos”, mas em busca de uma solução.
*Terry Pinkard é professor do Departamento de Filosofia da Georgetown University (Washington, D.C). Autor, entre outros livros, de Hegel: A Biography (Cambridge University Press). [https://amzn.to/48Y8gcm]
Tradução: Tania Knapp da Silva.
Referência

Emmanuel Nakamura. Escalas da liberdade: Hegel e a questão social do nosso tempo. Campinas, Editora Phi, 2025, 160 págs. [https://amzn.to/4j7igVm]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A