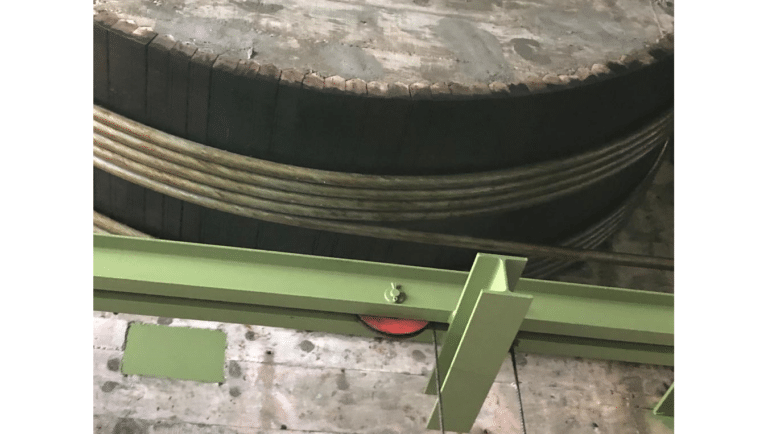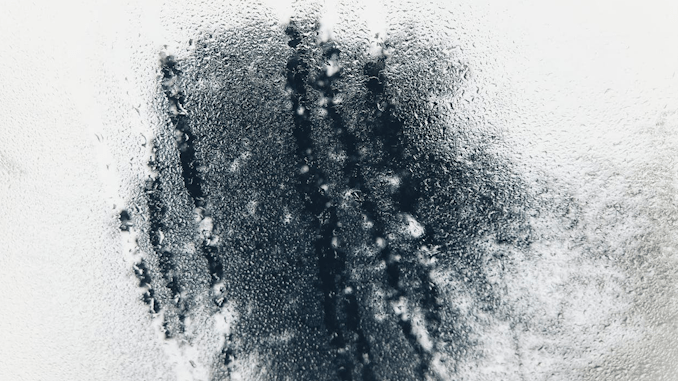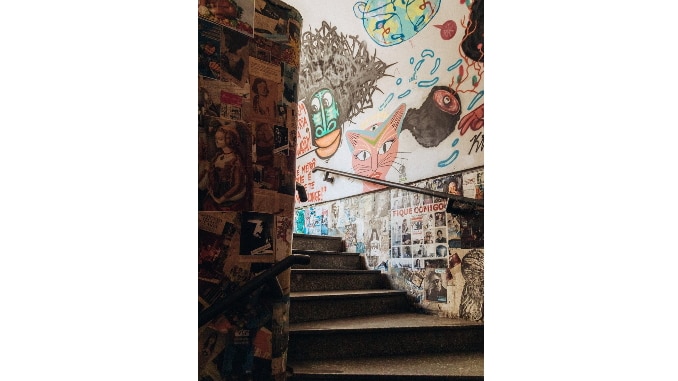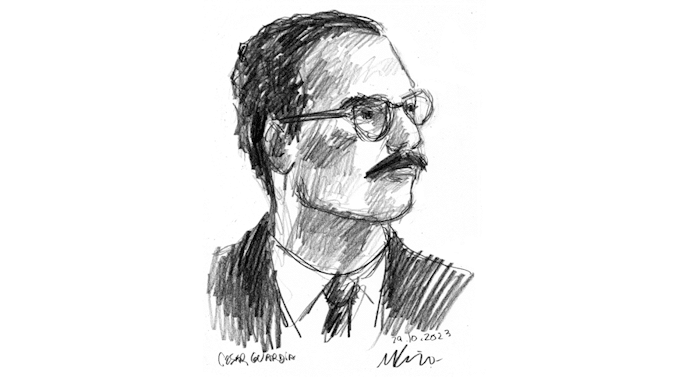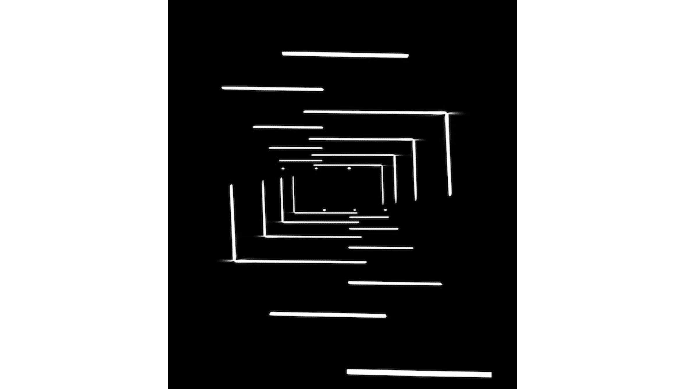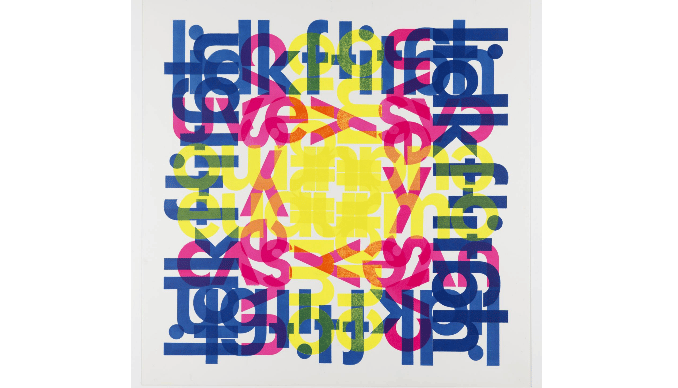Por JOÃO MARCOS DUARTE*
Comentário sobre o filme dirigido por Marcos Pimentel
1.
Há quem leve a sério a expressão “terrivelmente evangélico” proferida pelo atual presidente da República para se referir ao critério de sua indicação do novo Ministro do Supremo Tribunal Federal – consideração infeliz como de praxe. E levam tão a sério o que foi dito que transformam o “terrivelmente” em furioso. Me refiro ao diretor Marcos Pimentel, que em 2019 dirigiu o documentário Fé e Fúria, lançado comercialmente apenas em outubro de 2022, investigando relações entre os novos-cristãos (neopentecostais que vivem nas favelas e que têm por profissão desde o mecânico do bairro ao funkeiro-de-Jesus ou o traficante de drogas) e cujas relações sociais com os não-cristãos e com as pessoas de religião de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, são mediadas pela fé.
Nas palavras insuspeitas da sinopse oferecida pela própria produtora do longa, trata-se de um “documentário que aborda os conflitos religiosos existentes em favelas e subúrbios do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. O crescimento desenfreado das igrejas evangélicas e suas relações com os traficantes que comandam as comunidades têm provocado um desequilíbrio de forças religiosas nos morros e favelas, resultando em inúmeros casos de intolerância religiosa que interferem não somente na prática de cultos, mas também na estruturação do território e no comportamento de seus habitantes”[i].
Como vemos, trata-se de um documentário ele mesmo furioso e que de certo modo tentará, como cabe à arte documental, se colocar no campo social por ela mesma delimitado, escolher um lado, se opor ao outro e refletir sobre os desdobramentos de sua escolha – o próprio autor afirma ser um militante do documentário, um “filme contra a intolerância”.
Interessante observar que as vozes que ecoam nesse documentário são de tal magnitude que, em certa entrevista com o autor, a primeira pergunta chega a citar uma das figuras do próprio filme e terminar com a infalível indagação: “será que merecemos um país emburrecido?”[ii]. E, obviamente, a resposta do diretor é “não merecemos”[iii]. Apesar disso, os consensos e clichês sobre o mito da não-violência brasileira são replicados em todos os seus pontos embora, por algum motivo, sabe-se lá qual, o que espanta é que há alguns anos vem sendo destilado um ódio que não é atávico, mas construído por um projeto de poder – que, como uma onda, vem e em algum momento vai nos deixar –, ao qual o criador do documentário se contrapõe tendo como arma a sua obra.
Já no início da entrevista, Marcos Pimentel diz o motivo que o levou a fazer Fé e Fúria: antes as favelas eram miscigenadas e aceitavam os diferentes; os fiéis de religiões de matriz africana, que tinham o respeito dos chefes do tráfico, de repente passaram a ser rechaçados por eles. Isso mudou por algum motivo, a ser perscrutado pelo documentário.
Nas palavras da crítica de Bianca Dias, estamos diante de “uma espécie de arqueologia do fanatismo” neopentecostal, operando a partir “das falas vigorosas daqueles que denunciam a barbárie e escrevem sua história”, se referindo ao polo oposto, as religiões de matriz africana. Para ela, assim como para o diretor, o documentário em questão “denuncia essa dominação dos corpos” feita pelo amálgama entre religião e economia, neopentecostalismo e capitalismo, sendo um o responsável pela “vigilância moral” e o outro pela transformação de tudo em mercadoria; em uma palavra, o que se opera é a “instrumentalização do medo”.
A junção de vigilância moral e mercadoria resultam na transformação de todas as imagens (porque se trata do binômio imagem-iconoclastia o que é observado pela psicanalista que analisa o filme) em ídolos feitos “a partir de uma estética totalitária” e que, no fim de contas, representam o slogan que faz gelar até o último fio de cabelo de todas as pessoas que ainda têm sangue pulsando nas veias: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”[iv].
Aqui chegamos à questão de fundo que mobiliza esse e muitos outros documentários: o que aconteceu para que, depois de dez anos de lua de mel em que o Brasil encontrou seu destino e virou o país do futuro – com direito a capa na The Economist – e em que vínhamos tendo pleno emprego, chegássemos a essa catástrofe? Havíamos saído da zona da fome, estávamos acedendo a uma posição de nação que teria futuramente condições de educar de maneira digna e sensata toda a população – ou pelo menos toda a população que quisesse ser escolarizada e assim tivesse um passaporte para o futuro que já era o presente e era aqui –; que olhava para as pessoas e via todas elas com sorriso no rosto, que conseguiu destruir a marolinha da crise econômica de 2008 (diga-se de passagem, na época essa afirmação se confirmou verdadeira; o que o ex-presidente Lula não previu foi a segunda onda que nos acertou em cheio).
É bem verdade que alguns perigosos (minorias perigosas ou “classe média fifi” são diferentes nomes para uma aparente mesma coisa que sempre recebiam a resposta lacradora dos lacradores de plantão: “aceita que dói menos”) vinham e enchiam a paciência dos trabalhadores justos que faziam tudo para a nação, inclusive para aumentar os dividendos dos que reclamavam; em suma, uma civilização (só o Brasil se chama assim) feita à moda do welfare state ou do estado de bem-estar social europeu, uma sociedade salarial idealizada desde a Revolução de 1930 que demorou mais de quatrocentos anos para ser pensada, arquitetada e levada a cabo pelos governos democrático-populares petistas e que em cinco anos ruiu dando lugar aos crapulinskis de plantão, símbolos do obscurantismo das fundações internacionais que querem o nosso petróleo e que unilateralmente colocaram os entreguistas e alpinistas sociais – há até pouco tempo parlamentares de quinta categoria e crentes do pau oco – para fazerem tudo o que quiserem.
Estamos na esteira do diagnóstico de Rodrigo Nunes,[v] ao comparar duas produções cinematográfica (Terra em Transe, de Glauber Rocha, de 1967, e Democracia em Vertigem, de Petra Costa, de 2018). Fica evidenciada, no dizer do autor, a responsabilização, ou não, de setores da esquerda quanto aos rumos da história brasileira em dois momentos decisivos. Se, no primeiro, havia a elaboração artística de uma esquerda que vira seu projeto e suas ilusões entrarem em curto-circuito por terem sido derrotadas, e a partir daí voltara os olhos sobre si para ver onde tinha parte na catástrofe, no segundo, passados 50 anos, o documentário sobre o impeachment de Dilma Rousseff busca os culpados, os traidores, os facínoras, mas em momento algum se percebe como parte da situação e de suas implicações políticas para o processo histórico[vi]. A ver pela qualidade formal do filme de Glauber e dos dois documentários, o citado e o analisado por nós, não é só politicamente que regredimos.
Mais um problema: Fé e fúria, documentário-manifesto contra o “teocrático, o teocentrismo” que viria a reinar – nas palavras de uma personagem do documentário – já nasceu morto, porque sua estreia se deu em 2019. As gravações aconteceram entre 2016 e julho de 2018, quando a catástrofe[vii] que se abateu sobre nós em outubro daquele ano já batia à porta, mas como gritávamos “não vai ter golpe!” e “ele não!” não percebemos o tamanho do que estava se avizinhando.
Ninguém em sã consciência achou que Jair Bolsonaro seria eleito como foi – nem os partidários mais otimistas. Todos aqueles que tinham algum sentimento de democracia e qualquer tipo de sanidade ficaram absolutamente embasbacados com os 47% de votos válidos que o então candidato obteve no primeiro turno. Candidato esse que não foi a nenhum debate e que conseguiu sua fama por fake news e uma facada. Não poderia passar pela cabeça de ninguém que fosse partidário do Brasil Potência sonhar que um dia esse descalabro viesse a acontecer – não só não sonhavam como passaram a ter pesadelos.[viii]
Como é possível que no país do futuro a disputa entre um ex-militar e um professor pudesse acontecer e, o que é pior, o ex-militar ganhar[ix]? Estamos acostumados a olhar muito para as grandes figuras, as personalidades de proa, as revistas, os dados quantitativos, as instituições, para vermos lá a causa do que nos acomete. Fé e Fúria deixa de lado esses lugares comuns para ver o que acontece no subterrâneo do Brasil contemporâneo: as favelas.
Velho Testamento, realidade material da vida, funk e tudo o mais estão embrenhados no documentário como na vida; está aí o grande significado dessa obra que quer ver os fenômenos religiosos como parte do mundo, e não simplesmente como uma doutrina vinda da alucinação de certas pessoas, mesmo que em alguns momentos tente fazer conexões com certas paranoias e com o Estado, como veremos. Essa situação – a da débacle da autonomia e miscigenação das favelas e o recrudescimento do conservadorismo que hoje opera –, para o documentário, tem início quando “os católicos saem das prisões”, abdicam de seu trabalho de base com as CEBs e os cristãos pentecostais entram nesses espaços vazios para conquistar mentes e corações com o objetivo de (no dizer da interlocutora da entrevista supracitada) “conquistar o mercado” – pressuposto do filme que não é em momento algum matizado. De todo modo, muito diferente e muito mais próximo da realidade do que as impressões e sermões contra o neopentecostalismo feitos pelos pastores que se arrogam a herança da Reforma Protestante.
A construção do filme é arquitetada a partir das várias vozes das periferias; cada uma delas, em diferentes aparições, vai colocando seu tijolinho para a edificação do diagnóstico da intolerância que reina e cuja causa e remédio são expostos por todos os entrevistados. Em suma: contra depoimentos não há argumentos.
Diferente de outros tipos de cinema, a montagem que ocorre nesse tipo de documentário permite que aparentemente o sentido do roteiro seja construído pelo próprio espectador, pois ele terá a oportunidade de ouvir cada voz em cada aparição e cuja somatória forma o coro regido pelo diretor. Uma mistura de depoimentos, vivências e sínteses sociais se entrecruzam ao longo da obra e dão voz aos que vêm sendo oprimidos nas periferias dos grandes centros urbanos, mas também aos tidos por opressores pelos grupos oprimidos. Ao longo dessa arquitetura – que vai até à “política nacional”, no dizer de Marcos na referida entrevista –, existem três vozes que aparecem e formam o coro pretendido pelo diretor: os fiéis de religiões de matriz africana, os cristãos neopentecostais – acepção usada aqui unicamente dentro do que é construído no filme – e os cristãos não-neopentecostais (a cristandade ilustrada, por assim dizer).
Ao longo de tudo que se passa nesse documentário, é decisiva a fala de cada uma das vozes e seu concerto, daí o interesse em retomarmos o que elas têm a dizer e o que é possível pensar a partir de cada uma delas. Isso permite, talvez, dar corpo ao que é dito, ao parti pris tomado pelo diretor, e ver no que isso tudo nos possibilita compreender o problema de fundo desse documentário, a saber, como viemos parar nesse fim de mundo que se tornou o Brasil desde 2015 (ou 2013 para alguns outros). Para nós, sendo de grande valia tratar pormenorizadamente de cada um dos grandes personagens em cena, comecemos por aqueles que têm por aliados o próprio documentário: as religiões de matriz africana.
2.
Iniciamos com uma voz de fundo ainda na apresentação do letreiro: “Tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui não sobe nem desce. Tá monitorado”. Ao que uma outra voz responde: “Não, demorô demais, mano, vô tocar os moleque pra trabalha aqui tá ligado? E Deus abençoa todo mundo aí véi. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do Onipotente descansará, direi eu do Senhor, ele é nosso Deus, tá ligado?”. Abre em plano aberto a visão de uma parte de alguma favela num morro, com casas todas de tijolo, com cor de tijolo e algumas árvores.
A primeira frase já nos diz tudo: traficantes de droga estão invocando a proteção do Deus Trino para a sua missão, Deus que lhes permitirá realizar seu intento e os fará descansar, pois estão à Sua sombra e é invocado por eles. Essa declaração é acompanhada por takes de reconhecimento das favelas, que são também personagens do documentário – o primeiro take que aparece lembra o início do filme Os inquilinos – os incomodados que se mudem (2010) de Sérgio Bianchi. Além das imagens, faz parte do reconhecimento o som produzido por essas comunidades.
“Jesus Cristo vive em minha casa” (a casa na verdade é um desenho, no lugar da porta e da janela vemos corações vermelhos): a frase aparece na porta de uma casa. Uma parede de concreto, num lugar que visivelmente foi limpo para recebê-la, focaliza-se a inscrição: “Hu inimigo tem força, mais só Jesus tem o poder”. Não sabemos ainda a que ela se refere, e só ao longo do percurso saberemos de que se trata. Uma linda parede com desenhos de barracos tem como lema “Deus é o dono do lugar”.
Corte. A sequência seguinte, um ritual de umbanda, apresenta duas mulheres, que ministram, e uma moça que o acompanha. Vendo o ritual, temos o primeiro depoimento: Kayllane, garota ainda, foi atingida por uma pedra jogada por pessoas que gritavam “vai para o inferno” por conta de estar com suas roupas brancas nas vielas da comunidade. Ao detalhar o ocorrido, ouvimos as vozes dos depoimentos e adentramos no universo das religiões de matriz africana com lindas imagens dos Orixás pintados nas paredes – as cores vivas contrastam com o preto e branco das paredes iniciais e a cor de tijolo do território da favela. “Madalena foi apedrejada”, diz a avó numa menção à personagem bíblica. “A gente tá retrocedendo”, sentencia ao finalizar.
Depois do corte brusco do depoimento a respeito do atentado, temos o início do capítulo “Guerreiros”, em que a primeira imagem é uma mulher que professa sua fé em uma religião de matriz africana, que faz seu penteado e coloca seu turbante. Foi através do candomblé que ela começou a pensar o “racismo, a homofobia”. O turbante, além de demonstrar sua fé, da qual ela não se envergonha, é símbolo de sua negritude, “para demarcar uma opção (…) que também é política”; em suma, uma cultura que representa matrizes, exige respeito a elas. Por tudo isso, ela diz, “tem uma diversidade de opressão em cima de nós, é religiosa, é institucional, é homofóbica, é racista”. Essa é a voz de Carol, que nos trará, além dessas, outras observações luminosas a respeito de todo esse imbróglio dentro das comunidades.
As denúncias se seguem: relatos de assédio (Jéssica);[x] de possibilidade de confronto (Mãe Marta); de vizinhos racistas, brancos evangélicos, com arma na mão, que dão tiro pra cima, que chamam a polícia e que, segundo Mametu Muiandê, mãe de santo, “realmente conseguiu me intimidar”. Mais adiante ela completa que, como qualquer ser humano que tem sangue correndo nas veias e professa uma fé, vai deixar “grandes guerreiros lutando” por seu terreiro. Também há o relato do receio de que os colegas da escola descubram sua religião (Sara); da invasão de terreiro com carro (Mãe Flávia); do assassinato de duas personalidades das religiões de matriz africana, em nome de Deus (Makota Celinha); invasão de manifestação pública da fé (Pai Ricardo);[xi] proibição da liberdade de culto e depredação dos salões e dos terreiros (Pai Bruno).
Quanto a essa última denúncia, ela nos interessa, pois é aí que a outra personagem – que detém o outro lado da história – aparece com toda a sua majestade. Enquanto Pai Bruno nos conta que seu salão foi destruído por intolerância religiosa (só os santos foram depredados) e fala que não se incomoda com a igreja ao lado, pois “eles têm direito ao culto deles, eu tenho direito de culto”, um plano contínuo de baixo pra cima revela a igreja: sobe do chão uma casa branca que parece não ter fim, tal a demora para a subida da câmera; em seu topo e no centro da fachada, um coração vermelho envolve uma pomba branca, sobre a inscrição “Jesus Cristo é o Senhor”: a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).
A partir de então, o inimigo é identificado pelos próprios personagens: trata-se das igrejas neopentecostais que por um projeto de poder, há vinte anos compram “cinema, teatro”, constroem seus templos-empresas todos em beira de rua, enquanto os terreiros estão no fundo de quintal (palavras de Pai Ricardo) O projeto dessas igrejas é encontrar, doutrinar pessoas para formar grupos paramilitares que se tornam “exército de Deus, Soldados de Jesus” e “Gladiadores” da IURD insurgindo-se contra as religiões de matriz africana. Isso somado ao “poder econômico que eles têm por trás, o poder de mídia que eles têm por trás, é o poder político que eles têm por trás da bancada” (Babalaô Ivanir). Resumindo, como sentencia Makota Kizandembu, “eles estão determinados a fazer tipo Hitler”: a trinca racismo, genocídio[xii] e fascismo.[xiii]
Surge então novo elemento: o tráfico. Nos é dito que atual descalabro começou, há vinte anos, quando os fiéis neopentecostais passaram a entrar nas prisões para fazer fiéis. Antes havia respeito entre o tráfico e as religiões de matriz africana; ninguém mexia com ninguém, havia paz entre eles, inclusive muitos eram adeptos dos cultos afro-brasileiros e faziam seus rituais, principalmente em dias de possíveis confrontos com a polícia e outros tipos de missões. Isso se rompeu. De acordo com os depoentes das religiões de matriz africana, os pastores vão aos presídios, levam bíblias, oram pelas pessoas, dizem que precisam mudar de vida e se converter. Além disso, dizem as vozes de nossa primeira personagem, essa estratégia de proselitismo teria dado certo e os traficantes começaram a mudar de lado. Como em nosso mundo a prisão não reforma, apenas aprimora a técnica dos que lá ficam isolados do mundo por anos a fio, os traficantes, ao se converterem e saírem da prisão, fazem com que as pessoas que estão sob seu domínio – porque é disso que se trata – também aceitem sua fé e se sujeitem ao credo do dono do morro, da boca, da comunidade: novo para-Estado soberano teocrático.
As acusações não param por aí. A questão não se limita apenas a converter os subordinados, mas amalgamá-los ao tráfico; sobre isso, no decorrer do documentário, também se conjetura e se denuncia o conluio entre as igrejas que estão na favela e o tráfico, para a lavagem de dinheiro. Em contrapartida, é claro, os traficantes cristãos devem fechar os terreiros para aumentar o número de membros e dízimos das igrejas, fazendo o círculo vicioso girar mais rápido. No dizer de Carol, antes havia Sãos Jorges, mensagens de guerra contra facções, música, funk – em uma palavra: diversidade; hoje, nos muros, existem “versículos e salmos”[xiv].
Para piorar, ainda temos mais dois atores que entram em cena, obviamente do lado dos neopentecostais: a polícia e a milícia. A polícia com seu lado gospel, e os oficiais desse time – que, justamente por isso, são a figura soberana por excelência que instaura a lei e a jurisprudência ao mesmo tempo, como sabe todo aquele que tem olhos e ouvidos para ver e ouvir – não perdem oportunidade, como de praxe, de impor aquilo que querem. A outra aliada, que é ou foi em algum momento da polícia, é mais drástica: onde há milícia com gente cristã não tem terreiro, não tem outro tipo de religião.
É esse o cenário do filme: uma favela exibe seu dono nas inscrições e instituições (Deus), mas carrega consigo também outras religiões que, justamente por estarem habitando um terreno agora pertencente ao Altíssimo e a seus soldados-traficantes e soldados-de-terno-e-gravata-e-vestido, não são bem-vindos e não podem ficar ali.
Há que se observar duas coisas em se tratando do documentário. A primeira é que a “favela” ou “comunidade” é um ente abstrato. Vemos sua arquitetura, mas não sabemos de que comunidade se trata, sua localização geográfica. E mesmo com depoimentos, ela permanece uma abstração. Isso fica ainda mais claro quando identificamos que talvez se esteja falando de um ou outro território pelo sotaque mais acentuado de uma ou outra personagem. A segunda: a homogeneização do discurso do filme que, justamente por não diferenciar localidades e matizar os efeitos de cada uma, tem afã totalizante a respeito de seu discurso.
De volta à sequência do filme, o que se contrapõe à calamidade que se estabelece a partir da união traficantes-neopentecostais? A fé, o Estado e, é preciso dizer, certo tipo de ressentimento.
Comecemos pelo final. É notório observar como as figuras não se conformam com a conversão dos traficantes ao cristianismo, inclusive porque, para as pessoas de religião de matriz africana, esses donos do poder das comunidades não seguem a Bíblia, os neopentecostais idem.. No entanto, o argumento parece falacioso, porque se desconhecem as muitas intersecções entre certos rituais dessas religiões e as fés cristãs – não se pode esquecer a diversidade de culturas que formou o Brasil em que hoje vivemos, apesar da matriz africana.[xv]
Para quem depõe no filme, o problema não é o tráfico, mas os traficantes que se converteram a uma religião que é contra as outras e que afirmam isso em alto e bom som. Como sabemos, o cristianismo em todas as suas faces é totalizante, e hoje em dia (como na verdade desde sempre com maior ou menor ufanismo) não tem nenhuma vergonha de proclamar isso; tanto é verdade que em plena era pós-moderna, pós-cristã, pós-tudo, temos um presidente cristão e ministros cristãos cujo critério para a escolha e subida de escalão é, supostamente, a fé. Obviamente, se essa religião fala ao coração dos traficantes, algo de bom ela não deve ter, segundo as vozes que denunciam esse casamento tráfico-neopentecostalismo. Além disso, aplicam às igrejas o mesmo mecanismo que aplicam ao Estado: a legislação de constituição rege tudo, inclusive as igrejas que estão nas esquinas mais recônditas do país. Isso tudo será matizado adiante. Resta-nos apenas dizer que o ressentimento está na origem da genealogia dos conservadorismos que arrasam com o mundo atual.[xvi]
O que salta à vista é o discurso muitas vezes moralista que se faz ouvir a respeito dessa relação espúria entre o tráfico e a igreja. Diante disso, se apela para o bom senso e para o Estado. As denúncias ao Ministério Público correm soltas e as falas sobre a separação entre Estado e Igreja cada vez mais soam altas. “Quando a Guerra Santa começar (…) eles vão querer tomar providência”, diz Mãe Marta a respeito do futuro e da atitude do governo. “Por que não toma providência agora? Por que não acaba com isso agora?”. A resposta à pergunta óbvia é lacônica: porque não. Existe uma linha bem marcada que separa o domínio do Estado que age com base no que está nos códigos e outro que toma tipo diferente de providência[xvii]. Só que esse outro lado já se converteu ao cristianismo também. Realmente as saídas vão se esgotando, mas os apelos continuam sendo os mesmos e as pauladas só aumentam em força e quantidade. E ninguém entende o que está acontecendo.
É como se vivêssemos há até pouco tempo numa pátria abençoada onde já se tivesse conquistado tudo e a paz reinasse, mas que de uns tempos pra cá foi mudando de cara (ou de caráter). Por mais que se queira negar, existe uma crença, ideológica decerto, de que o Brasil é naturalmente bom e de que existem os inimigos, a minoria perigosa, que faz com que, sempre que o nosso país – terra em que mana leite e mel – esteja em vias de se tornar um lugar minimamente habitável, alguém vá lá e acaba com o sonho coletivo e com o sorriso da galera.
Nesse caso, para as religiões de matriz africana, sempre segundo o que nos é narrado pelo documentário, os neopentecostais são esse discurso totalizante que quer fazer com que todos sejam iguais, andem de terno e gravata, deixem seus ídolos de lado, pintem os muros com versículos e lavem dinheiro para o tráfico e para seus políticos de estimação. Esse discurso faz vez e voz não só no documentário, mas também nas mídias e púlpitos diversos – muitas vezes com palavras diferentes, dada a envergadura do latim de quem fala.
Contra a totalidade, o múltiplo; contra os conluios, a moral[xviii]; contra a uniformização, a diversidade. Eis os binômios colocados pelo filme. Obviamente que o segundo termo está sempre do lado oposto aos cristãos neopentecostais (sejam eles os donos de morro, os pequenos que morrem de tiro de polícia ou os que estão levando sua vida normal carregando uma Bíblia debaixo do bolso e igualmente reféns de tudo o que acontece, inclusive dos tiros de bala perdida da PM ou do tráfico).
Interessante observar, porém, que, à revelia do propósito do documentário, o maior espectro de diversidade está nas igrejas neopentecostais – mesmo que muitas vezes essa diversidade seja sinistra porque contém desde o terno e gravata ao traficante ou Edir Macedo. De qualquer modo, diversidade é diversidade: maior espectro de cores (mesmo com a maioria dos ternos pretos), raças, condições sociais e estilos de vida (que vai desde a imobilidade ao sadismo, passando por diversos tipos de pregadores).
Não nos esqueçamos em momento algum de que tudo se passa nas favelas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Os cristãos que aparecem habitam os mesmos lugares, incluso as favelas que são alvo de guerra e propriedade no filme. São elas, hoje em dia, que, a despeito do que representam, simbolizam a maior diversidade do país, seja pelas pessoas seja pelas mortes que ali imperam. A diversidade, além da soja, é das grandes commodities que servem para o orgulho nacional. As favelas alimentam o turismo; entre uma bala perdida e outra, recebem sem cansar turistas nativos e visitantes para ver as belezas dessa parte da nação.
O que intriga é a disputa por quem tem a propriedade e o monopólio da diversidade e do verdadeiro Brasil. A grande questão que se coloca no documentário não é a longa história do sofrimento e do extermínio (a serem sempre denunciados numa sociedade que sabemos ser fruto do tráfico negreiro, do extermínio indígena pela conversão ou pelo facão, e da exploração mercantil). Trata-se de deslocar a questão para a discussão a respeito da propriedade do território por um grupo específico. Esse o início do imbróglio do famigerado lugar de fala. Não por acaso essa fraseologia tem sua data de nascimento no mesmo momento em que se proclamava que “there is no alternative” para o nosso mundo e se assistia ao Consenso de Washington, de um lado, e de outro se ouvia, na voz cínica do ex-presidente sociólogo, que “há os inempregáveis” – ponto culminante do já mencionado “ocaso dos bacharéis”.
Vale lembrar ainda que os governos petistas não saíram dessa lógica e seus programas sociais de impulso humanitário fizeram nivelar a concorrência para quem quiser concorrer; antes, apenas ratificaram a máxima de nosso tempo: contenção e gestão para quem quiser; para quem não quiser, eles também têm outra coisa (já que se trata de inclusão): tiro, porrada e bomba – pra falar como nossa eminente Waleska. Em uma palavra: wellfare e warfare são as duas faces da mesma moeda.[xix]
Dentro dessa homogeneidade toda, desse caldo que nos coloca diante de certo beco sem saída, o que fazer? Continuar escutando as vozes desse coro das religiões de matriz africana, protagonista de nosso filme. Nesse vai e vem de acusações, surge, na voz de Carol, algo luminoso que nos faz começar a pensar na possibilidade de entendermos a catástrofe que se avizinha: “Eu não acho que [aquilo que] os neopentecostais hoje perpetuem em termos de intolerância religiosa seja uma novidade. Não, eu acho que a Igreja Católica fez isso ao longo de muitos séculos, teve uma Inquisição, né? A gente teve um Tribunal criado para julgar crimes de fé, né? E se não condizia com a igreja, que não estivesse de acordo com o que a Igreja Católica queria. O que eu acho é que os neopentecostais têm levado até às últimas consequências esse dualismo, essa demonização e essa perseguição”.
É disso que se trata, portanto: de um continuum que chega aos neopentecostais, mas que tem seu início com os primórdios da Igreja e que em maior ou menor grau passa por toda a cristandade.
3.
Depois do voiceover dos traficantes cristãos, a primeira figura cristã que aparece é uma moça, no polo oposto ao das cores e movimentos das religiões de matriz africana: tem sua imagem parada, pois está no ônibus (se move tudo o que se vê da janela; ela, porém, está imóvel). O filtro de cores também muda; agora temos da moça uma imagem pálida para finalizar a caracterização, além do cabelo liso e da pele branca.
Corta para a o Salmo 23, na Bíblia aberta pela moça, ainda sem revelar sua identidade; ao lado vemos um coração que recebe a inscrição “você é especial”. Mais um voiceover – dessa vez, diferente da Carol que se colocara como alguém que se descobrira humana através da religião, temos, tal qual os traficantes no início do filme, a fala da jovem, Camila, que gira em torno de armas e guerra. Focaliza-se a imagem de um pequeno adesivo na porta: “24h esta casa está coberta pelo sangue de Jesus”, com armas do mundo físico e do mundo espiritual. Camila finaliza dizendo que Deus nos olha “como guerreiros, né? Deus disse que Deus escolheu nós jovens porque ‘sois fortes’”.
Novo corte: com uma câmera na mão, alguém sobe as escadas de concreto rodeadas de paredes de tijolo e acompanha, por trás, um homem com corte de cabelo diferente, andar amedrontador que faz com que outras pessoas por ali temam a figura e saiam de seu caminho. Enquanto sobre as escadas, voltamos a ver e a ouvir Camila, que nos diz que “eu aprendi uma coisa, que o inimigo ele tipo ele tá no nosso derredor 24 horas esperando a gente dar uma brecha pra poder nos tragar, mas aí Deus, Ele tipo envia os seus anjos pra poder guerrear a nosso favor e nos livrar dos inimigos ocultos que a gente não vê com nossos olhos físicos”. Continua dizendo que “o diabo e os demônios estão é… estão todos em cada parte, né? Estão ali, esperando, né? E Deus sempre ali com a…, mandando os anjos dele. A gente não vê, mas Deus, Ele contempla, né? Sempre nos guerreando e nos protegendo de todo mal”.
Eis que o anjo aparece: ele é o homem mal encarado e cheio de tatoos e piercings que vimos subir a escada e andar na rua para então se pendurar com ganchos nas costas e voar ao despencar de uma árvore. A dor lhe dá prazer, e o aparato que o suspende figura como as asas de um anjo caído e o faz voar atado aos ganchos. Um misto de anjo, diabo e Jesus. Eis os guerreiros de Cristo pintados por Fé e Fúria. Fabrício, nosso anjo caído, era católico e se converteu ao “sentir Deus” em sua presença numa igreja pentecostal.
Temos agora um pastor que chega, abre as portas de sua igreja em cuja fachada se lê “Igreja Internacional Exército de Deus – Jesus é o General”. No salão não muito grande, apenas três cores – branco, rosa e verde-água –– iluminadas por uma pequena fresta de Sol. No take, nosso pregador ocupa a cena em diversos momentos, comentando sua vida, falando com fiéis, dividindo a tela com um leão (que simboliza Jesus, o “leão da tribo de Judá”) figurado em seu púlpito no momento dos depoimentos. Em suma, realizando seu trabalho com zelo. Nos cultos, as pessoas cantam sem se movimentar e festejar, com direito à imposição de mãos – mais uma vez, imóveis. Em alguns cultos, duas cores são acrescentadas: o preto dos ternos e o vermelho de algumas camisas.
Acabamos de ver a descrição dos pentecostais, ou neopentecostais, tal como apresentada por nosso documentário: uma imagem-clichê que, de maneira imediata e grosseira, pretende identificar o inimigo. Mas esse inimigo é, ele mesmo, o bode expiatório que agrada gregos e troianos e os faz empunharem as armas de que necessitam para responsabilizar alguém pela catástrofe que se abate sobre nós há um bom tempo. Essa responsabilização[xx] , uma modalidade da onda punitiva do tempo em que vivemos, da qual um dos extremos, no capítulo brasileiro, é a UPP.
Mas não podemos nos esquecer de que neopentecostais também são vítimas dessas mesmas Unidades, pois, tal como retratados no filme (e que constituem a grande maioria desses fiéis), são vizinhos de porta das pessoas que professam fé em uma das religiões de matriz africana e que, mesmo não tão parados pela polícia (há controvérsias a respeito dessa afirmação), são tão vítimas quanto as primeiras das intervenções repentinas, dos conflitos entre polícia, milícia e tráfico, das balas perdidas, para dizer o mínimo. Mas, para o documentário, é preciso que tudo se encaixe, e essa omissão é caminho cômodo, inclusive pela ajuda dada pelos grandes baluartes desse mesmo jargão (“neopentecostalismo”) com suas igrejas-empresas e seus púlpitos-negócios como a Igreja Universal do Reino de Deus e franquias-irmãs (em Cristo?).
Em uma palavra, é como se os cristãos que vivem nas favelas não tivessem sido cantados pelos Racionais MCs e o rap que põe em pratos limpos as favelas e periferias do Brasil. Ao revés disso, ainda mencionando produtos culturais, todos os filmes que fazem parte de certo tipo de formação do imaginário do Brasil dos anos 2000, quando são filmados na periferia ou tratam dela, têm como trilha sonora os louvores desses cristãos captados pelo microfone, não como trilha sonora incidental[xxi].
Enfim, uma imagem de um povo que em tese só saberia falar a sua própria língua, e que a qualquer novidade que contrarie sua canhestra visão de mundo e costumes não teria capacidade de (ou gosto pelo) diálogo racional e partiria para a violência. Não seria essa a imagem racista feita pelos brancos para os povos não-brancos que os aqui acusadores dizem combater, mas acabam por reproduzir ao identificarem o inimigo (o diferente) do mesmo modo? Enfim, uma imagem que diz mais a respeito de quem a criou do que de quem nela figura.
Em suma, a perplexidade em ver ruir um projeto de Brasil que desse dignidade para as pessoas serem livres à sua maneira (seja lá o que cada um desses termos queira dizer para quem os professa) e que, a partir da análise do nosso documentário-profissão-de-fé, começa quando os católicos saem das favelas e os neopentecostais chegam lá e nos presídios onde convertem os traficantes que, quando soltos, querem cristificar a favela de cima para baixo tal qual Constantino e os Papas. E essa narrativa é referendada em alguns momentos: o Pastor Paulomar – pregador e voz principal dessa personagem que estamos tentando caracterizar e compreender melhor – diz que era traficante e que foi condenado a sete anos de reclusão. Uma mulher se dizendo missionária o visitou na cadeia e lhe falou.
Ele, então, teve seu encontro com Deus. No dia de sua audiência de custódia, Paulomar nos conta que conversou com Deus dizendo que “nunca mais algemas vai estar em minhas mãos” e como resposta da parte de Deus isso nunca mais aconteceu. Ele se tornou pastor. Outro homem dá depoimento parecido ao longo do filme: um ex-traficante, sem revelar sua identidade, diz que usava drogas, traficava e era perseguido por policiais, até que um dia começou a pensar no legado que deixaria para os filhos: ou ser “um homem de bem ou um traficante” – dualidade essa que, às vezes mudando a ordem dos termos, perpassa todo brasileiro. Nesse momento de crise, leu a Bíblia e fez uma aliança com Deus, prometendo que largaria tudo para servi-lo: “eu falei com Ele e Ele falou comigo”, finaliza.
Já sabemos que serviço é esse: trabalho missionário. Por fim temos mais uma figura ciosa de sua missão. Quelly Silva confirma o que todos queriam ouvir: primeiro ela foi visitar as prisões como missionária que prega a palavra de Deus para arrependimento dos pecados e depois foi para as favelas cuidar das crianças e falar de Jesus para elas, fazendo uma música belicosa e viril[xxii] “voltada para o público de favela, de crianças crentes”.[xxiii] Outra missionária fazendo seu trabalho com zelo.
Tudo isso figura perfeitamente a nossa imagem-clichê de um povo que não acompanhou os desenvolvimentos da democracia brasileira fundada em instituições estáveis há mais de trinta anos, que quer sequestrar o país com alguns versículos que fazem a cabeça das pessoas e as deixam mais próximas do que é um “cidadão de bem”, para os mais positivos, ou simples massa de manobra ou peões nas mãos de seus líderes, para alguns outros.
O problema é que o neopentecostalismo não nasceu em 2014 como que feito pelas mãos do Criador. Na verdade, é de 1910, 1911 o aparecimento dos primeiros grupos pentecostais no Brasil.[xxiv] Por isso, o estranhamento causado pelo “encaixe perfeito” proposto pelo documentário, talvez por certo resquício de desfaçatez que, por bom coração ou apelo moral, precisa formatar tudo e acabar com qualquer vestígio de contradição. Apesar das novas configurações do novo espírito do capitalismo onde tudo é empresa e deve ser governado pela lógica empresarial (fazendo de tudo uma zona cinzenta que mistura versículos de cinismo viril, zelo em sua atividade de trabalho diária, sem esquecer o empreendedorismo, que é o wellfare desse novo vir-a-ser mundo em que vivemos), o que primeiro se pode chamar de pentecostalismo é o Pentecostalismo Clássico que data de 1910 e 1911 (ou seja, antes da última reestruturação do sistema-mundo que se sabe, portanto, sem lógica empresarial incrustada na cabeça de cada indivíduo como um mantra, um credo ou a fórmula mágica da paz para se viver hoje em dia).
Segundo a revisão feita pelo sociólogo Vinicius do Valle, compunha-se “majoritariamente por pessoas pobres e de baixa renda” que “eram discriminadas, de um lado, pelas igrejas protestantes históricas” e, de outro, “pela igreja católica”[xxv]. Assim como nos Estados Unidos, uma das origens desse movimento, seus adeptos eram em sua maioria negros e descendentes de escravos. Um dos principais motivos para sua discriminação era a condição econômica, além do fato de que nas igrejas pentecostais o protagonismo sempre foi feminino – fato que foi, e é até hoje, execrável ou pelo menos digno de desconfiança em qualquer denominação que se diga cristã.
Podemos até dizer que poderia, em algum momento, haver um intercâmbio entre as teologias, mas há que se frisar que quem fala em teologia da prosperidade em Fé e Fúria são figuras que não se relacionam aos neopentecostais (assim eles são denominados no documentário, embora de fato a denominação não seja certeira). Os pentecostais, justamente por serem pessoas pobres e marginalizadas, desde o início estiveram e construíram seus templos em zonas periféricas, abandonadas e de difícil acesso nas cidades, onde mais nenhum segmento cristão consegue entrar (ou mesmo quer entrar).[xxvi]
Esses preconceitos parecem, mais uma vez e sempre, certo preconceito de classe (ou que tem lá suas origens), porque essa denominação cristã começou no Norte e no Nordeste e depois veio para as regiões centrais e do sul do Brasil. Por fim, vale o alerta para a necessidade de se repensarem os capítulos de certa historiografia progressista que dizem que no princípio a favela não tinha Deus, aí vieram as CEBs, organizaram aquele povo e depois, por algum motivo (nunca revelado, diga-se, de passagem), saíram de lá, quando, então, os pentecostais ou neopentecostais invadiram aquele local inóspito e relegado para fazer fiéis e virar o jogo do Brasil laico e infiel. Ao que parece, na realidade, houve um intercâmbio constante, já que nas periferias sempre conviveram as religiões de matriz africana e os pentecostalismos.
Em algum momento as CEBs entram lá e depois saem. Permanecem os que sempre estiveram: os pentecostais e as religiões de matriz africana. Portanto, com essa retrospectiva e suas respectivas considerações, é possível refutar essa pedra de toque, endossada no documentário, de que as CEBs abandonaram as prisões e periferias e só depois os pentecostais apareceram por lá e arrasaram com tudo.
Há certo interesse em dar-se conta de que os neopentecostais viraram alvo público de muitas frentes depois que abandonaram o barco em meados do primeiro mandato da Presidenta Dilma Rousseff. Até lá, por mais que não se gostasse deles por suas pautas conservadoras, se aturava aquele estorvo, pois ele dava votos. E é isso mesmo: os pentecostais como um todo, na reconstituição de Vinicius do Valle, votavam para o Legislativo de um jeito e para o Executivo de outro. O autor demonstra que para os pentecostais em geral (e para os assembleianos, em específico, que são os pesquisados), o Legislativo é mais associado às pautas morais e do dia a dia da comunidade, seja contra o aborto ou a favor da liberdade de culto de cada igreja, enquanto o Executivo é importante para a vida econômica – trabalho, salário etc.
Ora, como todo o Brasil, em time que está ganhando não se mexe: com Lula e Dilma estava dando tudo certo economicamente, todo mundo estava indo bem e sendo empregado – independentemente da qualidade do emprego –; portanto, até 2014 os votos para o Executivo iam em sua maioria para o PT e, inclusive, os discursos dos grandes púlpitos observados por nosso pesquisador eram brandos ao falar do Partido dos Trabalhadores, pois eles sabiam que seus fiéis votariam em Marta, Haddad, Lula e Dilma, e não queriam confusão.
Além do mais, em sua maioria, os candidatos lançados pelas igrejas disputavam o Legislativo ; como já se mencionou, pessoas que eram conhecidas dos fiéis – e fica muito claro que o sucesso eleitoral do candidato estava no fato de sua conexão com a comunidade. Quando a coisa começa a azedar, todo mundo quer arrumar uma solução: quem está perto? Votemos neles. Em 2014, Aécio e Alckmin. Em 2018, Dória e Bolsonaro.
Simples assim: sociabilidade pura. Isso se dá de duas maneiras: em um país cujo desempenho econômico está ligado desde sempre ao ideário da corrupção e os corruptos foram identificados, resta votar nos outros e, hoje em dia, com orgulho de ser de direita[xxvii]. Quando perguntados em que se baseiam para suas escolhas políticas, eles respondem convictos: na Bíblia. E ao serem questionados sobre quais as referências bíblicas usadas, eles respondem com os mesmos textos canônicos que qualquer um que confesse com sua boca que Jesus Cristo é o senhor também responderá[xxviii].
O outro ponto dessa sociabilidade é a especificidade da vida dessas pessoas, que moram nos lugares para onde ninguém quer olhar, mas que mesmo assim têm sua própria constituição social, com seus ritos, seus costumes, suas regras e seus comércios – desde a mercearia de bairro às redes transnacionais de drogas e roubo de veículos –, além da surpreendente dispersão e aumento do número de fiéis, igrejas e tudo o mais. Ora, todos sabemos que no princípio tudo era Igreja e foi com a doutrina da secularização que se abriu o espaço, a fenda entre o Estado e a Igreja.
Num país que só teve sua independência oficial em meados do século XIX, sua primeira república apenas na aurora do século XX e que, como sabemos, completou certa modernização nos termos do conservadorismo[xxix], e, para acrescentar, relegou a maior parte da sua população à miserabilidade, como é possível que a religião não seja um ponto fundamental de identificação, de criação de laços de fraternidade, onde se viva “o acolhimento, o convívio entre os irmãos, que auxiliam para que continue ‘firme na fé’, além do elemento da salvação da vida ‘perdida’”, em suma, de ajuda e de construção de alguma coisa, inclusive a recuperação de viciados em droga (o maior medo de qualquer família brasileira) enquanto o resto do mundo está preocupado com institucionalidades e políticas públicas?
Isso porque “se no ambiente de trabalho, [os fiéis] cumprem funções mecânicas, precárias e pouco valorizadas, na igreja podem assumir o comando sobre algum grupo ou alguma tarefa, além de obterem espaço e reconhecimento por estar em um púlpito orando e discursando”[xxx]. Há algo que precise ser dito depois dessa descrição? Obviamente que, voltando à questão eleitoral, “é a partir desta identidade que a instituição constrói seu discurso político e a propaganda de seus indicados para as eleições”. Qual seja, “a questão comunitária e dos valores compartilhados”.[xxxi]
Resta a constatação triste, mas não espantosa, de que nosso documentário parece não levar em conta que religião não é uma série de conteúdos, senão a experiência viva de uma comunidade com sua fé. O pentecostalismo brasileiro brota da experiência do povo brasileiro ao longo do século XX, e sua expansão se deu junto com todas as outras do ponto de vista político e econômico, atravessando e sendo atravessado por elas. É esse o motivo pelo qual a religião escolhida pelos negros no Brasil é o pentecostalismo: não por conta de seus conteúdos ancestrais, mas por conta da experiência do negro no Brasil, que é diferente da experiência do negro nos países colonizados por outros povos europeus, bem como da experiência colonizadora de negros dos Estados Unidos da América e mesmo na África. Talvez sua experiência religiosa, de modo geral, só mude radicalmente quando a sociedade inteira mudar de igual forma.
Por fim, para fazer coro com o resto do mundo ilustrado, a culpa é de quem? Dos neopentecostais.[xxxii]
*João Marcos Duarte é doutorando em linguística na UFPB.
Referência
Fé e Fúria
Brasil, documentário, 2019, 103 minutos
Direção: Marcos Pimentel
Notas
[i] Disponível em: https://embaubafilmes.com.br/distribuicao/fe-e-furia/; acesso em 12/04/2021.
[ii] Destaque para o “merecemos”, que é parte do ideário da meritocracia que reina em nosso país em todos os cantos, por todos os grupos políticos e matizes de pensamento que têm o progresso em mente.
[iii] Disponível em: https://www.facebook.com/watch/live/?v=3451121478258821&ref=watch_permalink Acesso em 12/04/2021.
[iv] Bianca Dias. “Fé e Fúria” (Marcos Pimentel, 2019). In: Daniela Fernandes e Andrea Irmond [Orgs.]. Caderno de crítica Mostra Curta Circuito 20 anos. 20ª edição. Belo Horizonte, 2020 [online]. pp. 39-41.
[v] Rodrigo Nunes. Do transe à vertigem: imagens da derrota no cinema brasileiro. In: Idem. Do transe à vertigem: ensaios sobre bolsonarismo e um mundo em transição. São Paulo Ubu Editora, 2022. pp. 149-164.
[vi] Nada muito diferente do diagnóstico feito por Luiz Felipe de Alencastro a respeito do “ocaso dos bacharéis” que, a partir da década de 1970, se desresponsabilizam dos feitos políticos e sociais, dando lugar à gestão dos destroços. Há um cacoete bacharelesco e modernista em certas produções que querem juntar construção nacional e progresso tecnológico num período justamente em que essas duas coisas já estão desconectadas e a tentativa farsesca de repetir essas afinidades eletivas dá no máximo em certo “neoliberalismo progressista” que está na origem de Trump, nos EUA, e de Bolsonaro, no Brasil. A respeito do “ocaso dos bacharéis”, Luiz Felipe de Alencastro. O ocaso dos bacharéis. Novos Estudos Cebrap. 1998. nº 50. pp. 55-60. Sobre o “neoliberalismo progressista”, Nancy Fraser. “Neoliberalismo progressista versus populismo reacionário: a escolha de Hobson”. In.: Arjun Appadurai et al. A grande regressão: um debate internacional sobre os novos populismos e como enfrenta-los. São Paulo: Estação Liberdade, 2019. pp. 77-89.
[vii] Catástrofe essa que em momento algum pode ser minimizada, pois ela dá no Porão. E o mais sinistro é que agora esse porão não é mais escondido, é alardeado aos quatro ventos. A esse respeito, conferir a coluna de Celso Rocha de Barros no calor do segundo turno das eleições presidenciais de 2018 (Celso Rocha de Barros. No fundo do poço há o porão. Folha de S.Paulo, São Paulo, 28 de out. de 2018. Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2018/10/no-fundo-do-poco-ha-o-porao.shtml>. Último acesso em 21 de abril de 2021).
[viii] Sobre os pesadelos que começaram a tomar conta de muita gente pouco antes do primeiro turno, mas não só, Cf. “Acabou!” de Silvia Viana (in: Argumentum. v. 11, n. 2. p. 17-30, 2019)
[ix] A esse respeito, vale a pena fazer dois comentários: qualquer semelhança entre a disputa eleitoral de 2018 e a narrativa militar versus professor universitário do filme Tropa de Elite 2 – Agora o inimigo é outro, não é mera coincidência. O militar que reconstrói a nação à semelhança dos western americanos – com todas as idiossincrasias possíveis e imagináveis de um país que nunca chegou a ter uma sociedade salarial e que acabou com a escravidão na iminência do século passado, mas com o sinistro propósito dos caçadores de recompensa americanos e que os nossos bandeirantes não conseguiram completar – é o capitão Nascimento: esse imaginário social pegou e dá o tom da política desde então. A esse respeito conferir, de Christian Tadeu Gilioti, “Terra arrasada: imaginação e política no cinema da Era Lula”, São Paulo: Universidade de São Paulo, 2018 (tese). O outro comentário é a respeito do “como é possível”: esse tipo de fala lembra muito o que Luis Inácio Lula da Silva ouviu durante toda a sua trajetória política – “como é possível um sindicalista parar o ABC”, “como é possível um sindicalista fundar um partido político”, “como é possível um sindicalista se candidatar à presidência da República”, “como é possível um nordestino ser eleito, reeleito, eleger e reeleger uma sucessora que não tem carisma e competência nenhuma”. Isso só para lembrar que o “como é possível” é conservador, por vezes reacionário. Talvez termos isso em conta seja elucidativo para pensar como chegamos até aqui.
[x] Ela comenta que uma mulher que trabalhava num mercado, uma atendente, a puxou pelo braço e perguntou se ela sabia pra onde iria depois que morresse. Sem deixar Jéssica responder, disse que iria para o Inferno. Pra quem gosta de cinema, paira no ar um cheiro parecido com aquele de Divino Amor (2019), de Gabriel Mascaro.
[xi] Esse momento ocupa parte considerável do documentário, quando Pai Ricardo denuncia o acontecido, documentado também, no filme, nas palavras dos próprios invasores, membros da Igreja Batista da Lagoinha. Não por acaso, uma das casas que receberam e abençoaram Jair e Michele Bolsonaro, em 2018 e 2022.
[xii] “Como é desigual, então não tem guerra, o que tem é um genocídio” (Babalaô Ivanir)
[xiii] “Isso é fascismo e se tem uma forma do fascismo nascer no Brasil é através desses grupos e hoje a sociedade tá observando isso, né? Mesmo setores da sociedade progressista que fazem alianças eleitorais com esses grupos, eles conseguiram fidelizar o voto, conseguiram construir uma bancada” (Babalaô Ivanir).
[xiv] Ao que ouvimos um outro personagem não identificado falar que “a comunidade adora porque ganhou cor, ganhou luz, né? Você passa e você se sente confortável em ler um versículo que te acalanta, que te deixa mais tranquilo, poxa, ‘o senhor é meu pastor e nada me faltará'”. A própria edição do filme acentua o confronto constante, realmente fé e fúria.
[xv] Apesar de pouco conhecida, essa constatação não é nova e o documentário também nos mostra isso, apesar de pregar o contrário. Vale conferir a breve revisão feita por João Décio Passos a esse respeito em “Teogonias Urbanas: pentecostais na passagem do rural ao urbano”. Tanto o pentecostalismo quanto as religiões de matriz africana nasceram das periferias brasileiras como uma maneira de organizar a experiência dessas pessoas. Que pessoas, aparentemente vivendo as mesmas coisas, escolham caminhos completamente diferentes é justamente o que mobiliza a pesquisa de Vagner Gonçalves da Silva (cf.: “Religião e identidade cultural negra: afro-brasileiros, católicos e evangélicos”. Afro-Ásia. 2017. nº 56. pp. 83-126).
[xvi] Isso também aparece no próprio documentário, quando Pai Ricardo diz que hoje em dia os neopentecostais vêm com tudo pra cima das religiões de matriz africana, pois em algum momento estavam perdendo fiéis para elas.
[xvii] Enzo Bello, Gilberto Bercovici, Martonio Mont’Alverne Barreto Lima. “O Fim das Ilusões Constitucionais de 1988?”. Revista Direito e Práxis, v. 10, n. 3, p. 1769-1811, 2019.
[xviii] Moralismo “do bem”, já que hoje em dia, com o colapso de nossa modernização, o discurso sobre o “social” passou do campo da política para o da moral. Cf.: Gabriel Feltran. “O valor dos pobres”. Caderno CRH. 2014. v. 27. n. 72. pp. 495-512.
[xix] Em termos sociológicos, interessante ler em sequência o já citado “O valor dos pobres” e depois “Formas elementares da vida política: sobre o movimento totalitário no Brasil (2013)” (Blog Novos Estudos. 2020. Disponível em: https://novosestudos.com.br/formas-elementares-da-vida-politica-sobre-o-movimento-totalitario-no-brasil-2013/#gsc.tab=0. Último acesso: 25/05/2022), ambos de Gabriel Feltran.
[xx] Sobre a responsabilização – essa fraseologia da esquerda de agora –, ela cai como uma luva nesse mundo cão que vivemos; é ela o reflexo não de uma maneira de pensar alternativa, mas de se conformar ainda mais à desgraça que nos cerca por todos os lados, fazendo com que grande parcela fique ainda mais irritada, Cf.: Karl Gunther, “Responsabilização da Sociedade Civil”. Revista Novos Estudos, 2002. n. 63. pp. 105-118.
[xxi] A esse respeito, a já citada tese de Christian Tadeu Gilioti.
[xxii] Em certo momento temos um arranjo do Hino da Tropa (prestigiado pelo primeiro Tropa de Elite, que, como já sabemos, conquistou mentes e corações). E o texto bíblico tema? Efésios 6:11-17. Novo testamento! É como diz o pastor Paulomar em algum momento: “Nós estamos em guerra com tudo e Jesus é a maior patente, nós só temos que obedecer”. É uma zona cinzenta que parece não ter fim. Sobre uma outra zona cinzenta – colaboracionista e zelosa, no caso –, mas não tão diferente dessa que estamos vendo, cf. A banalização da injustiça social, de Christophe Dejours (7ª edição. São Paulo: Editora FGV, 2006) e os aprofundamentos dados por Paulo Arantes (“Sale Boulot”. In.: Paulo Arantes. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência. São Paulo: Boitempo, 2014. pp.101-140).
[xxiii] Qualquer semelhança com o que se tem de mais avançado hoje em programas sociais que procuram públicos-alvo para serem atingidos – sejam eles negros, mulheres, pobres, LGBTs e outros estratos populacionais – não é mera coincidência. Como foi dito, é o que há de mais avançado no que diz respeito aos direitos humanos – os quais têm a família como sua figura principal.
[xxiv] Para uma historiografia e uma sociologia do pentecostalismo no Brasil, conferir, entre outros, estudo pioneiro de Ricardo Mariano, Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil (São Paulo: Loyola, 1999); o clássico de Gedeon Alencar, Matriz pentecostal brasileira – Assembleias de Deus – 1911 a 2011 (2ª edição. São Paulo: Recriar, 2019); e Entre a Religião e o Lulismo: um estudo com pentecostais em São Paulo, de Vinicius do Valle (São Paulo: Recriar, 2020), que passamos a acompanhar agora.
[xxv] Vinicius do Valle. Op. cit. pp. 23.
[xxvi] Não à toa, a igreja estudada pelo sociólogo que estamos acompanhando “foi aberta em 1994, construída no esquema de ‘mutirão’, pelas mãos dos pastores e dos próprios fiéis”. Como já comentamos, essas igrejas são construídas geralmente nas áreas de “maior vulnerabilidade da cidade, próximos aos locais de moradia dos seus fiéis”. Idem. Op. cit. p. 15
[xxvii] Diz Bruno, pessoa entrevistada, a certa altura: “se o PT e o PSOL são de esquerda, eu sou de direita”. Vinicius do Valle. Op. cit. p. 147.
[xxviii] Me refiro aos citados por Vinicius do Valle: Mateus 22:21; Romanos 13:1-7; 1 Timóteo 2:1-4; Provérbios 29:2; Atos 5:29. Os textos são muito conhecidos, mas talvez se assuste aquele que pensa que os neopentecostais se baseiam apenas no Velho Testamento para fazer sua teologia.
[xxix] Francisco de Oliveira. Crítica à razão dualista: O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2013
[xxx] As citações encontram-se em Vinicius do Valle. Op. cit., pp. 73, 85 e 79.
[xxxi] Idem. Op cit. Loc. cit.
[xxxii] Agradeço a Ivone Daré Rabello por toda a ajuda na revisão e finalização deste ensaio.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como