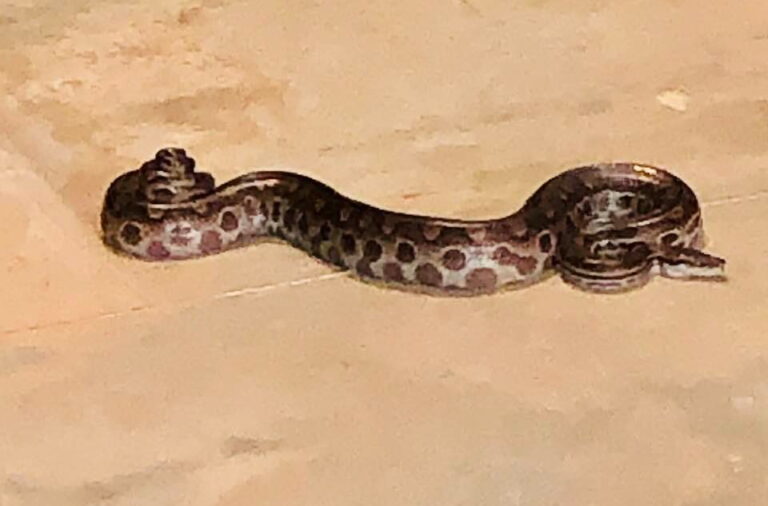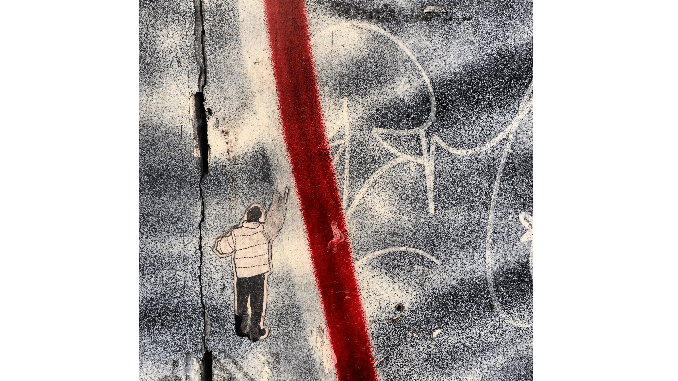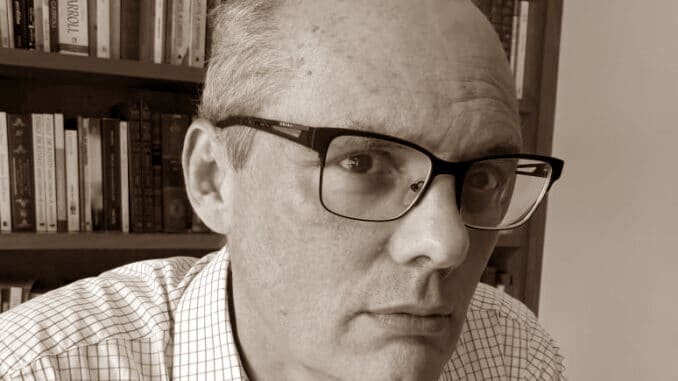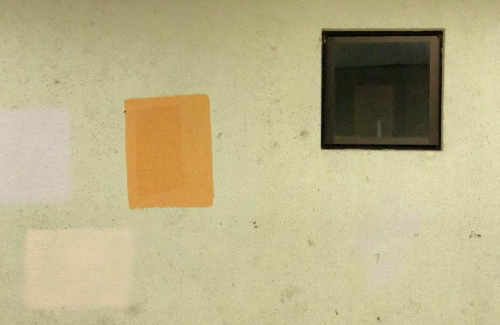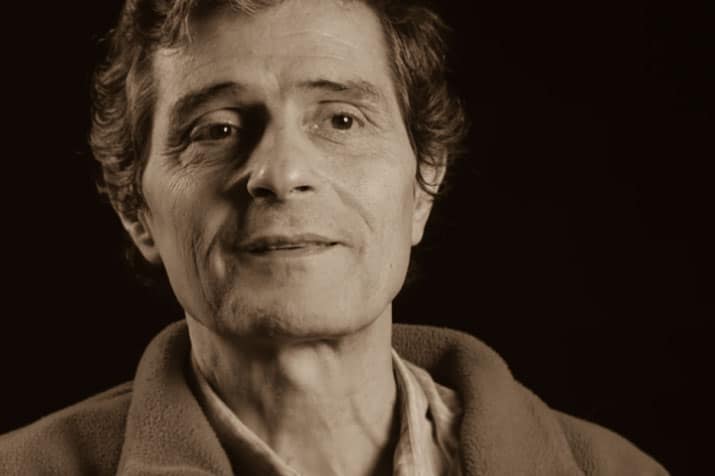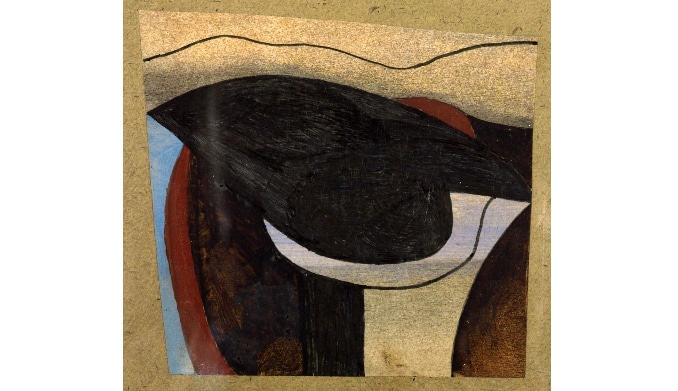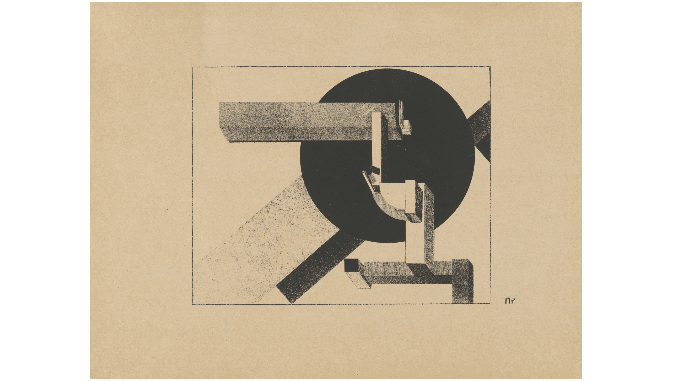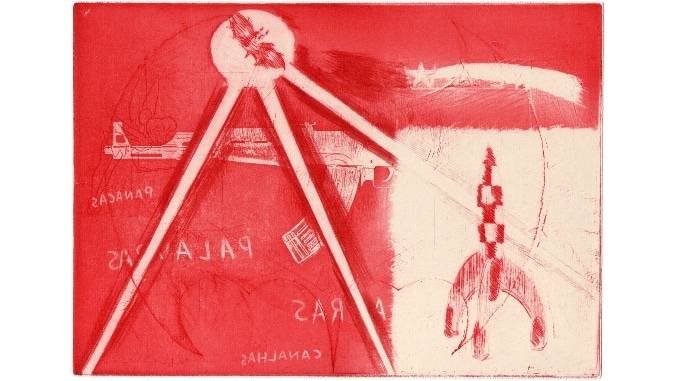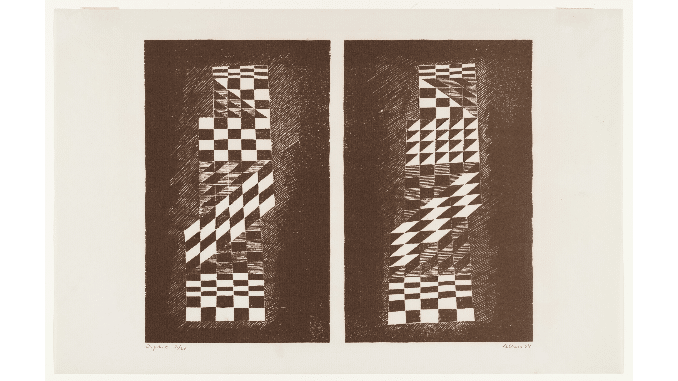Por FLÁVIO R. KOTHE*
Sobre a teologia da estética
A Estética deriva de uma crença que pode conter erros nos fundamentos, e toda sua edificação pode afundar. Oriunda da metafísica psicológica, ela pressupõe que o homem se divida em corpo e alma, como instâncias separáveis, tendo a alma prioridade por ser imutável, eterna e independente do corpo. Assim como a Lógica cuidaria das ilações da alma em termos analíticos, a Estética cuidaria das percepções corporais, das imagens corpóreas. Essa concepção cristã está presente em Descartes, Leibniz, Wolff, Baumgarten, Kant, Fichte, Solger, Hegel e vários outros. Ela não é propriamente anterior ao cristianismo: os romanos, por exemplo, acreditavam que “a sombra” ia para os Campos Elísios, mas esses não ficavam num “Além” fora da “physis”.
Havia na escolástica uma “lógica superior”, analítica, voltada para o pensamento abstrato, mantendo um controle sobre como ele deveria ser. No século XVIII, com Wolff e Baumgarten, foi proposta a contrapartida do estudo da “Lógica inferior”, a “Estética” voltada para as regiões ínferas, consideradas corpóreas, pois aí também ocorreriam processos de conhecimento, basicamente mediante imagens fugidias. A “Estética” de Baumgarten[i] (#1) juntava áreas diversas: gnoseologia inferior, teoria das artes liberais, a arte das cogitações belas, arte do análogo da razão: seria a ciência dos conhecimentos sensitivos.
Às vezes o pressuposto teológico recebe a variante de que o homem não seria constituído por duas partes e sim por três: corpo, alma e espírito. No signo verbal, o corpo está para o significante assim como o significado está para a alma, mas quando se usa uma ironia o sentido da palavra tende a ser o contrário do significado usual. Há, portanto, uma terceira instância, o espírito da obra. Na Crítica da razão pura, por exemplo, a dimensão corpórea estaria no que ela chamava de Estética – que não era uma Filosofia da Arte – ou seja, a região das percepções dos sentidos; a alma estaria no entendimento conceitual, uma espécie de Espírito Santo que haveria no homem, enquanto o espírito estaria no nível mais elevado da Razão, que tudo comanda com suas três ideias: Deus, imortalidade, liberdade: o tico, o teco e o toco.
O problema central é discernir o cerne teológico que habita a filosofia e a estética, fazendo dos pensadores antes teólogos disfarçados do que propriamente filósofos, caso se aceite a proposta de Heidegger – que ele próprio não cumpriu plenamente – de que a filosofia é ateia por natureza. Numa era de recrudescimento do fanatismo religioso, esse problema se torna mais premente. O monoteísmo religioso tende a levar ao totalitarismo, pois quem só admite um único deus verdadeiro, o seu, não tem tolerância quanto à elevação de outras divindades. A saída não é a regressão ao politeísmo antigo, mas se desvencilhar das religiões: “sem deuses mais”.
A distinção entre corpo e alma parecia fácil: corpo seria uma coisa com extensão, sendo, portanto, divisível; em contrapartida, a alma seria o indivisível. Embora Descartes tenha adotado isso em suas obras principais, nas Paixões da alma[ii] observou que a alma também se divide: tem uma parte em que ela sente as coisas; outra que entende as coisas e ainda uma que decide sobre as coisas. No século XVII e XVIII não se tinha noção clara de que haveria o inconsciente, embora Shakespeare o tenha percebido. Para nós, desde a psicanálise é natural que “a alma” se divida em consciente, pré-consciente e inconsciente. Admitimos até que a morte cerebral possa ocorrer antes da morte do resto do corpo. Quando se dividem as coisas, deveria chegar um momento em que elas não se poderiam dividir mais: é o ponto matemático, cruzamento de duas linhas, que é sem estar aí, é um não-ser que é e que funda tudo (ou afunda tudo no nada). Tudo o que há se baseia num não estar que é.
Numa situação de guerra, sob canhoneio, um soldado se apavora, fica pálido e quer se esconder, enquanto outro fica furioso, vermelho de raiva e se dispõe a enfrentar o fogo do inimigo de peito aberto. Para a mesma causa deveria as mesmas consequências, e isso não ocorre. Se suas “almas” têm a mesma origem divina, por que reagem de modo oposto?
Cada “alma” capta os dados do real, discerne a situação, provoca uma reação somática e uma ação volitiva. Sofrer os dados equivale à figura de Cristo, que corporifica o sofrimento; a intelecção dos dados é feita pelo entendimento, que corresponde ao Espírito Santo, enquanto a expressão divina da vontade é Deus Pai, que decide fazer e desfazer as coisas. Há, porém, além dessa Santíssima Trindade, uma quarta figura, aquela que faz com que o espírito somatize reações corpóreas e que corresponde à figura da Virgem Maria, aquela que fez o espírito se tornar carne e habitar entre humanos.
Quando os filósofos do século XVIII se puseram a desenvolver a “metafísica psicológica”, estavam fazendo algo sacrílego, ou seja, tentar decifrar o que seria a “alma” posta por Deus no homem, mas transpuseram as categorias teológicas para o âmbito da teoria do conhecimento. Eles procuravam a “arquitetura da mente” e tinham um plano “arquitetônico” em seus sistemas. Isso fica mais claro no “robô” construído por Kant na Crítica da razão pura. Ele tem sensores – os sentidos – que captam imagens dos fenômenos das coisas e que as levam ao “entendimento” (Verstand) que os organiza conforme os conceitos – é a programação de que é dotado, o que leva a decisões conforme os princípios volitivos da razão, mediada pelo juízo.
Se em Descartes, nas Paixões da alma, paira a sugestão de que a “alma” se divide em três (eu diria quatro) partes – a intelecção sendo o equivalente ao Espírito Santo, o sentimento ao Cristo e a vontade ao Deus Pai, pode-se acrescentar a somatização dos movimentos psíquicos como equivalente à Virgem Maria, aquela que fez o espírito se tornar carne – essas mesmas categorias teológicas católicas se encontram em Kant, embora este tivesse um background antes luterano do que católico. O “esquema” (no sentido mesmo de esquematismo da razão) da Crítica da razão pura pode ser visto na forma de uma pirâmide, em que a parte de baixo é formada pela multiplicidade caótica das percepções, o corpo, a “estética transcendental”; a parte intermediária pelo sistema conceptual do entendimento (Verstand), e a parte superior pela razão com suas três supostas ideias de Deus, liberdade e imortalidade.
Ou seja, o que comanda tudo é a razão, que é uma transposição da figura de Deus Pai; o entendimento, que é a intelecção das coisas, seria a transposição do Espírito Santo, enquanto que aquele que carrega o que se sente, o estético, seria o equivalente a Cristo, o sofredor. Depois de apresentar esse tríptico, Kant lembra de colocar entre a segunda e a terceira instância a faculdade do juízo, que fica transpondo as ordens da razão abstrata para as atividades concretas, ou seja, é a Virgem Maria que reaparece, aquela que faz o espírito se tornar carne, decisão concreta, a mediação do divino com o humano. Kant usa explicitamente o termo “arquitetura” para designar a estrutura da mente.
Se for tomada uma casa como modelo, pode-se supor também que os fundamentos são os dados fornecidos pelos sensores que são os sentidos, passivos receptores que sofrem, mas são os fornecedores da matéria prima, o Cristo sobre o qual se funda toda a fé cristã; a parte das salas e dos quartos é ocupada pela vida da mente, pela programação conceptual, ou seja, o Espírito Santo; o teto é a formatação do juízo, ou seja, corresponde à Virgem Maria, aquela que torna concreta, torna carne, o que seria a vontade puramente espiritual do que representa o divino, enquanto o telhado que tudo cobre é a razão, que representa a vontade do Deus Pai. Ou seja, deus não é apenas uma ideia da razão – a ser distinguida da crença em deus porque representaria o início e o fim de todas as coisas, portanto esconderia atrás de si a astronomia e a astrofísica –, mas o divino cristão serve para estruturar a própria mente. A mente que possa ser considerada humana só pode ser a mentalidade cristã, a que é feita em conformidade com a crença europeia dominante. Define-se a estrutura da mente conforme uma crença determinada, a cristã.
Marx usou essa imagem de uma edificação para entender a relação entre cultura, sociedade e modo de produção. Este seria a base, o alicerce, sobre o qual se construiria a estrutura social, que seriam como os quartos e salas da moradia, enquanto o telhado formaria a supraestrutura cultural. O termo que ele usa é “Bau”, uma construção, uma edificação, uma casa, o que se perdeu quando se traduziu isso por estrutura, que é antes o esqueleto da construção. Daí os termos “Unterbau” para os alicerces econômicos e “Überbau” para a expressão (Ausdruck) cultural deles.
Temos de olhar de fora essa construção em que habitamos, que nos é. Fácil é aí comparar as pessoas e dizer que umas parecem choupanas; outras, taperas decadentes; outras, construções populares: há uma classe baixa e média de construção, assim como há mansões de classe alta e palácios ideativos. A construção é, porém, algo rígido, uma casa que não tem vida, a estrutura mecânica do pensar. Como ficam, porém, a liberdade e a inventividade dentro disso? Seriam a movimentação de quem aí habita, dentro do previsível?
Constroem-se fundamentos, paredes, tetos e telhados para gerar vazios. Tudo o se edifica é feito para gerar um não-ser. Ele não é, porém, idêntico ao grande feito na ciência ou na arte que produz algo não igual ao já previsto. Ou seja, aquilo que mais distingue o homem não tem espaço na metáfora da edificação.
*Flávio R. Kothe é professor titular de Estética na FAU/UnB, autor de obras sobre o cânone brasileiro, teoria literária e arte comparada, tradutor de Nietzsche, Marx, Kafka, Adorno e autor de poemas, contos e novelas.
[i]Baumgarten, Alexander G. Ästhetik, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2007, latim e alemão, 2 volumes.
[ii] Descartes, René. Paixões da alma. Coleção Os pensadores, São Paulo, Editora Abril, 1983, tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior, p. 218 ss.