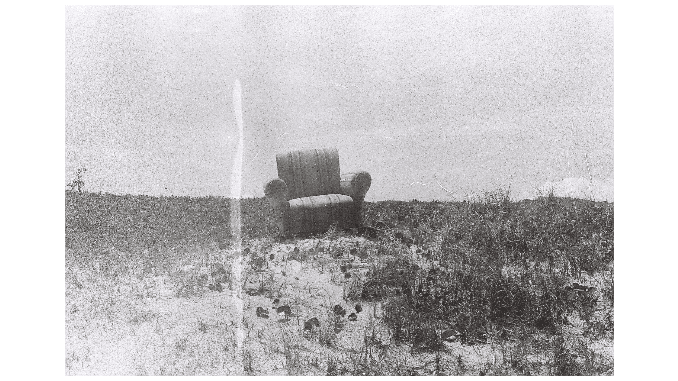Por MARILIA PACHECO FIORILLO*
Trecho escolhido pela autora do livro recém-lançado
“Bang, bang, Senhor Deus, ninguém conta os tiros, meu! \ Bang, bang, vamos nessa \ Ninguém maneira a porrada, meu! \ Vai fundo, vamos zoar, é agora mesmo \ Não encana, é limpeza, vamos desenterrar um ao outro \ Mete bronca, já que ninguém por aqui \ Encara, cara, uma Kalash novinha em folha” (Trecho de canção Kalašnjikov, do álbum Underground, 2000, do cantor pop sérvio-bósnio Goran Bregović).
Sobre meninas e meninas
15 de setembro de algum ano – Era Comum, São Paulo, Brasil.
Minha sobrinha de 13 anos estava em prantos, ontem. Achei que tinha brigado com o namoradinho, ou tinham roubado sua mochila, ou que tinha rolado um bullying; a escola dela é caríssima, mas hoje se vê de tudo. Pior: será que tinha sido assaltada? É de assustar o que pode acontecer com nossas crianças, este país está um caos, um assalto, uma politicagem, ninguém aguenta mais tanta insegurança.
Mas não era nada disso. Era uma coisa de cortar o coração.
Ela soluçava alto, no começo não conseguia nem falar, só se sacudia inteira, balançando os brincos feito uma louca e batendo os pulsos na mesa, mas batia tão forte que ia quebrar as pulseiras que eu tinha dado para ela no último aniversário, eram genuínas, com certificado e tudo, ai, um desespero que dava dó, mas dava dó mesmo. Quando ela se acalmou um pouco e conseguiu contar a história eu entendi o porquê. Ela havia recebido a notícia de que Flora estava morta. Por whatsapp, assim, a seco.
Flora é a bebê elefante da Somália que minha sobrinha adotou em uma ONG no ano passado, tão bonitinha, quero dizer, minha sobrinha é tão bonitinha, não que a Flora não seja, apesar das orelhas de abano, mas é tão lindo ela abraçar estas causas humanitárias sendo tão jovenzinha, ela sempre foi especial, uma menina diferenciada. Há um mês, tinha me mostrado a foto da Flora, uma gracinha, gordinha, mas elefante é gordo sempre, não é? Um docinho, a Flora, era protegida por um tal Wildlife Help, um desses programas humanitários, sabe? Que os jovens adoram, coisas da idade, não que eu não goste, também acho demais, é tão simples e fácil, tão humano, eles cobram uma taxa mensal para você adotar um bichinho, acho que pode ter golfinhos, será que pode? Eu preferia golfinhos, mas sou a favor de todos esses lances humanitários para preservar a natureza.
A coitadinha da menina tinha acabado de receber um whats do Wildlife comunicando que os corpos de Flora e de toda sua família, meu Deus, eram onze bichinhos, uma gracinha, uma belezura, todos tinham sido encontrados numa vala, mortos, domingo passado, no Parque Nacional Tsavo.
Os elefantinhos, meu Deus do Céu, imagine, tiveram suas presas arrancadas pelos caçadores – caçadores? Esses assassinos desalmados não passam de uns animais. No whats dizia assim: que haviam sido abatidos com fuzis Kalashnikov, e jogados na beira do rio. Devem cheirar mal os rios de lá, né?
Até eu, que não estou metida nesse negócio de ONGs, fiquei com o coração partido. Quase comecei a chorar também. Lembrei da tromba e das orelhinhas de abano da Flora, feinha, mas uma criatura inocente, que mal ela tinha feito para merecer essa ruindade?
Mas me segurei, porque a gente sabe que o que importa é cuidar da família, não é? O resto é o resto. Disse: “menina, vai tomar uma ducha, põe uma roupa nova, toma uma água com açúcar. Você tem de se conformar, o que passou, passou, e se continuar esmurrando a mesa desse jeito acaba perdendo um brinco ou quebrando a pulseira de marfim, marfim legítimo, ai que desastre, isso sim, as amiguinhas dela morrem de inveja, ninguém na escola tem nada de marfim verdadeiro, e isso não vai trazer a Flora de volta. Minha sobrinha, tão boazinha, obedeceu. Voltou do banho mais animada, com uns jeans que tinha acabado de comprar. E as pulseiras inteirinhas. Ainda bem, elas tinham me custado uma fortuna!
A menina que sobrevoou os céus
Mesmo dia de um ano qualquer – Era Comum, Freetown, Serra Leoa.
A primeira vez em que Beah teve um pesadelo foi aos 13 anos. Aconteceu na segunda noite em que dormia no centro de recuperação da Unicef, em Freetown. Acordou se debatendo, aturdida e suada, naquela região inconsútil que separa a inconsciência do despertar. Apavorou-se: estava deitada numa cama, havia cobertor, travesseiros e uma mesinha ao lado, com um copo de água pela metade. Apoiou o cotovelo e olhou ao redor: uma fileira de outras camas e desconhecidos, a maioria gente de sua idade.
Antes, só havia sonhos esplêndidos. E, até os 10 anos, ela nunca precisara sonhar. Depois, dos 10 aos 13, os sonhos vieram, toda noite. Imagens magníficas começaram a inundar seu sono. Apareciam e se repetiam sem falhar, dia após dia, uma dádiva de sensações exultantes, o prazer irradiando pelo corpo, límpida e pura explosão de potência e contentamento. Potência e alívio. Alívio e poder. Os sonhos maravilhados começaram na semana em que ela foi sequestrada pelos guerrilheiros da Revolutionary United Front, quando a RUF invadiu sua aldeia e a capturou para fazer dela uma menina-soldado na fronteira de Serra Leoa.
Sonhar era o melhor de se viver. O avesso do dia. As noites dissolviam tudo que ocorrera horas antes. As noites deglutiam a memória e recobriam tudo, pois os sonhos eram mais vívidos e ávidos que qualquer coisa que ela houvesse feito ou pudesse ter acontecido durante o dia. Davam-lhe um extraordinário prazer. Mais, inclusive, que a vertiginosa alucinação que vinha depois que ela era obrigada a fumar kush. Fumar ritualmente kush pertencia aos dias, como os estupros pelos comandantes, ou longas caminhadas descalça, sua nova vida, a de uma menina-soldado. Além, claro, da grande devoção: a arte de manejar uma Kalash, não com perícia – pois a arma não pede, nem precisa, de peritos. Manejá-la com cuidado, lealdade, solenidade, mesmo amor e reverência. Era a sua Kalash.
Dormia abraçada a ela. Talvez fosse ela, a AK-47, que engatilhasse os sonhos de plenitude. Beah fechava as pálpebras, e, não importa por quantas horas, nem mesmo se fosse acordada meia hora depois, nem mesmo se lhe chutassem o flanco minutos depois, Beah despertava inchada de esplendor, em pura beatitude, pois os segundos de inconsciência haviam lhe devolvido o dia anterior, mas ao avesso. O dia anterior, minuciosamente, mesmos locais e caminhadas, mesmas árvores e ordens, embora viesse como um dia veloz, estridente, e em cores tão brilhantes que ofuscavam de machucar.
A Beah que reprisava o dia em sonho não tinha cansaço nem fome, nem fraqueza ou acanhamento. Era vigorosa e impenetrável, um duplo da Beah acordada, aquela que marchava quilômetros indiferente à sede, participava dos ritos, e não sentia nem medo nem fome.
Desde o sequestro ela era assim: desmemoriada do dia, imune ao que se chamaria sofrimento, mas radiosa à noite. E nunca, mesmo que tentasse, conseguia lembrar que houvera um passado antes da RUF. Apenas o dia de ontem. Um ontem que se esvaía em hoje, um hoje perpetuado.
Nenhuma lembrança da vida na aldeia, fosse de sua casa inclinada do teto ao chão, dos vizinhos, amigos ou brincadeiras, ou do arrepio que deveria ter sentido quando lhe trançavam o cabelo, ou até como dava medo subir alto no balanço. Ou dos irmãos, o pai, a mãe.
Um vácuo tão intransponível que ela, após alguns meses, a nova Beah soldado, desistiu do inútil esforço da memória, pois lhe bastavam os últimos meses na selva com o RUF. Se os dias eram vividos como um autômato, a Beah dos sonhos era outra, exultante, aguda, sentia tudo. Nos sonhos, primeiro ela surgia incorpórea, como uma voz, uma música, uma oração sussurrada que ia ganhando volume: o refrão que o comandante lhe fazia repetir desde que fora sequestrada: “agora você é uma combatente, a Kalash é seu pai, a Kalash é sua mãe”.
Quando a prece crescia e se tornava ensurdecedora, pois folhas e árvores e chão também participavam da cantoria, repetindo o refrão, quando a oração da Kalash se tornava inaudível de tão estridente e se apossava de tudo, neste exato instante de ápice, todos os sons recuavam até sumirem num gemido monótono, um suspiro, um silêncio. Era aí, lentamente, que o silencio se transmutava em forma, e dava a Beah um corpo. Corpo idêntico ao seu, magro, pequeno e desajeitado.
Mas levemente alterado. O novo e idêntico corpo da menina-soldado calçava sandálias enfeitadas, em vez das botinas sujas que desejara de dia, e seu cabelo era feito de tranças meticulosamente entremeadas com fitas. Havia um lenço de todas as cores na cintura, sobre a saia amarela que só se usa em dias de festa. Aquela Beah pisava leve e graciosamente, estava limpa e cheirava a erva-doce. Linda e propícia. Pronta para celebrar quando a festa começasse, à espreita: vigiando, atenta, atrás de um arbusto do sonho e munida de fitas, tranças e sua Kalash, vigiando a mina de diamantes que o comandante cobiçava.
Recostava-se com doçura enquanto o tiroteio não começasse, abraçada à sua Kalash: a sua, apenas sua, aquela com a qual lhe haviam batizado no dia em que a RUF invadiu a aldeia, aquela vírgula mortal que lhe entregaram no dia em que mandaram escolher entre atirar em seu pai ou sua mãe. Atirou no pai, entrou na fila das crianças capturadas, e renasceu.
A Kalash que pousava no colo do sonho não pesava mais que um grão de areia, macia e rescendendo erva-doce como ela, e ela mesma, Beah, já não tinha mais peso algum, era pássaro, era ar, era vapor, flutuava em suas sandálias novas e saia dourada, aspergindo grãos dourados, toda vez que se movia. Purpurina incandescente derramada a cada gesto seu.
Mas, e era exatamente como o comandante havia dito, de repente e do nada, seu paraíso era invadido por hordas de demônios, soldados do governo, dezenas, centenas, milhares deles, espectros vindos de todas as direções. Vinham para tomar-lhe as gotas de purpurina, humilhá-la, pisar-lhe e a esquartejar. Os intrusos vinham tomar-lhe a fonte da vida, o maná da terra, o maná brilhante que semeava e vicejava em seu sonho, tão cobiçado pelos comandantes da RUF.
Era uma multidão desfigurada, aterradora, armada de facões, pás, rifles e mesmo Kalashs. Beah, que os havia visto antes de todos, pois não estava mais recostada em uma árvore, mas, em sonho, pairava mais alto que os galhos, com as aves, rapidamente abandonou a companhia dos pássaros e fincou-se no solo. Ela e ela, ela e sua Kalash. Neste instante o esplendor chegava ao clímax. Ela corria em frenesi para o centro da colina, como um alvo suicida. Sem qualquer hesitação, apenas um calor abrasivo irradiando de seu ventre.
Não sabia a que distância os inimigos estavam, mas eles certamente a viam, pequena e esguia, uma menina-árvore de metal sozinha no alto da colina. Desafiante, exibia-se e os incitava em todas as línguas e por todos os nomes, oferecia-se impaciente aos demônios: “venham, venham”. E começava a disparar.
Disparava dezenas, centenas, milhares de tiros, sua Kalash dona do mundo, um redemoinho em todas as direções, disparava, em um segundo, 600 vezes 600, atirava à frente, atrás, à esquerda e à direita. Beah, em piruetas ágeis rodopiando mortes na cadência da música oração, atirava cega e atirava rindo, Beah e sua Kalash incólumes. Ela e ela, ambas uma só.
Nunca foi preciso recarregar ou mirar. Apenas girar, as duas gritando cada qual seu próprio som e matando em uníssono, o sangue na têmpora latejando mais alto, agora, que a prece. A Kalash era seu corpo, seu corpo era o fuzil, e Beah sabia que seu corpo nunca a abandonaria. Ambas tremiam na antecipação da vitória, invioláveis, invencíveis, protegidas dos demônios. Invulneráveis.
Beah levitava, cantando e atirando a esmo, com o corpo fechado, vaporoso, translúcido. Ao som da prece, rítmico – “Kalash, meu pai, Kalash, minha mãe”–, se juntava uma explosão de todas as cores e formas e curvas, tumulto ressoando sobre a apatia dos mortos, nunca saciado, a indiferença dos corpos abatidos.
E, como no início do sonho, tudo recuava e voltava a ser som. O eco de sua garganta tornou-se o único som do mundo, o trinado da Kalash. E seu corpo tênue, agora gigantesco, vitorioso, sobrepujava os pássaros e sobrevoava o universo em uma nuvem impossível, cobria as quatro direções desse mundo e dos outros, “sobre mortos e vivos eu reino e reinarei” e, para todo o sempre, Beah acariciava com a ponta dos dedos sua Kalash, acarinhando seu próprio corpo agora consubstanciado na arma, comunhão plena. Beah, a senhora dos ventos, Beah, a leoa de Deus.
Isso foi antes de Beah ter sido capturada de novo, desta vez pelas Forças de Paz, que a levaram para o abrigo de Freetown. Foi então, apenas então, que o veneno se infiltrou no sono e maculou os sonhos. Eles, de majestosos, se transformaram em pesadelos: ela sonhou que tentava se aconchegar à sua Kalash, abraçando com o joelho a vírgula do carregador, no púbis a cabeça da arma, no queixo uma saliência metálica, mas, onde quer que apalpasse, não a encontrava.
Acordou. Pingando febre, delirante, naquela cama estranha. Com o coração fechado, como se a noite anterior tivesse sido uma distorção dos dias, insuportável. Ela tinha voltado a ser minúscula e esquálida, suja, o peito esmagado e a respiração presa, descalça e nua apesar da camisola que lhe tinham posto, as pernas fraquejando, os braços inertes.
Voltara pela metade, amputada. Desamparada, indefesa, impotente. Beah sem Beah. Faltava-lhe sua integridade, sua Kalash.
O corpo desperto pesava e doía, incapaz de se mover, ela nauseada, ainda tateando, entre as cobertas, na esperança de se reencontrar, unida à vírgula de metal. Mas havia apenas estranhos em outras camas. Ainda mal saída do pesadelo, Beah fez o que nunca, nunca se deve fazer, pois esta é a primeira lição que um combatente deve aprender, senão apanha ou morre.
Beah chorou. No começo, o choro saiu quieto e abundante. Depois, alto e seco. Como um rio que gera as próprias margens, o choro trouxe a memória antiga, perdida. Num átimo, num susto, lembrou da casa e da aldeia. De um colo de peitos murchos onde pousava a cabeça, a mãe. À tarde, lavar o corpo. De manhã, trabalhar no moinho. Correr animada para a gangorra que sempre quebrava. Kikusho, seu melhor amigo. Komana, sua irmã. E do pai. O corpo do pai no chão, abatido por seu tiro.
A enfermeira abriu a porta do quarto, e Beah – não mais a leoa de Deus, mas um cão velho, sarnento e acuado – urrou de ódio.
Outro demônio, de branco. Devoradora dos sonhos. A mais poderosa dos inimigos, que lhe fez repentinamente sentir pela primeira vez dor, das marchas, das surras, dos estupros. Enquanto Beah ficasse lá, a dor permaneceria para sempre, de dia e de noite. Na vigília e no sonho.
Quebrou o copo da mesinha e avançou contra a enfermeira com um caco. Atingiu fundo o pescoço da mulher. A despreparada enfermeira sangrava.
Beah correu, fugiu rápido. Em busca do lar, de volta ao RUF, à música dos tiroteios, aos sonhos em que planava com os pássaros. Fugiu rápido, apaziguada na ânsia de reencontrar sua Kalash, e fundir-se novamente a ela. E, assim, um dia se seguiu a outros, e se seguirá a muitos.
“O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente; não há nada novo debaixo do sol” (Eclesiastes 1:9).
*Marilia Pacheco Fiorillo é professora aposentada da Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP). Autora, entre outros livros, de O Deus exilado: breve história de uma heresia (Civilização Brasileira).
Referência
Marilia Pacheco Fiorillo. Kalash meu amor: A arma infame e outras delicadezas. Rio de Janeiro, Editora Gryphus, 2023, 140 págs (https://amzn.to/3qnJWhX).
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como