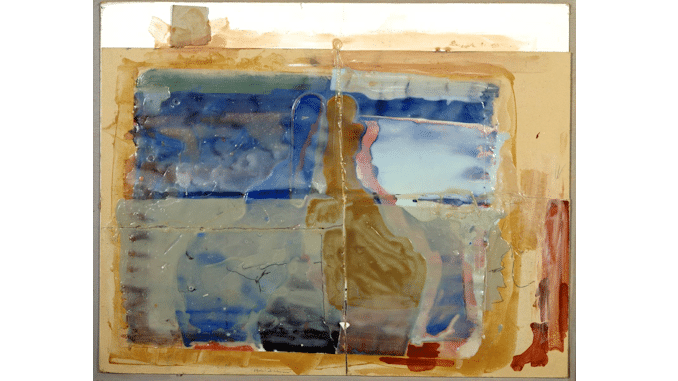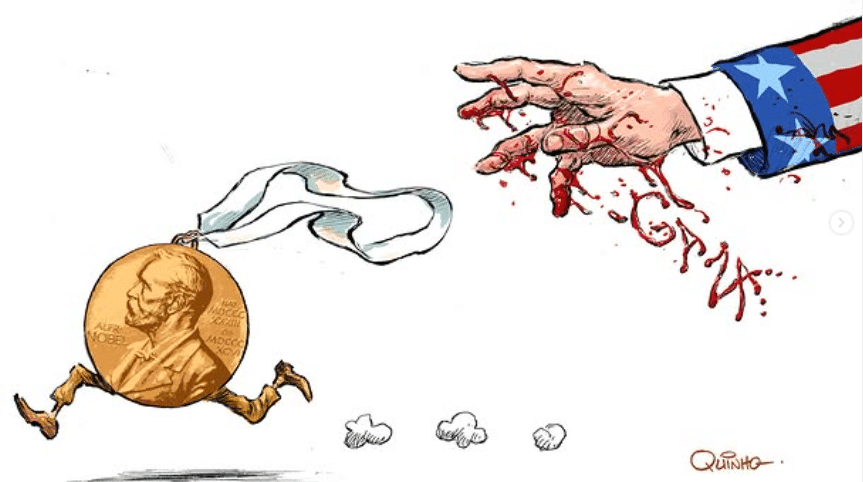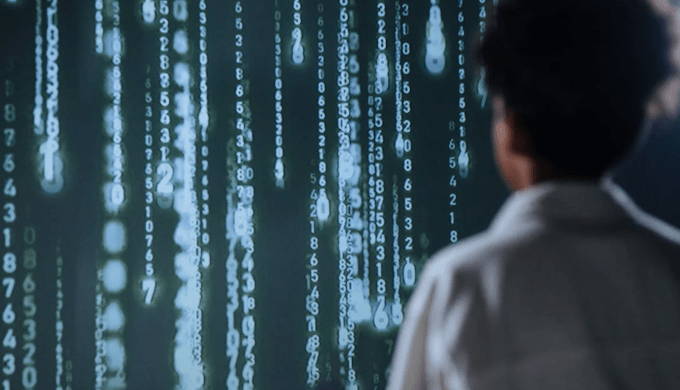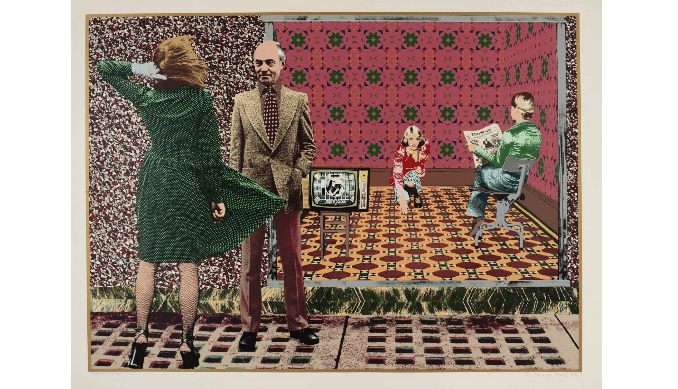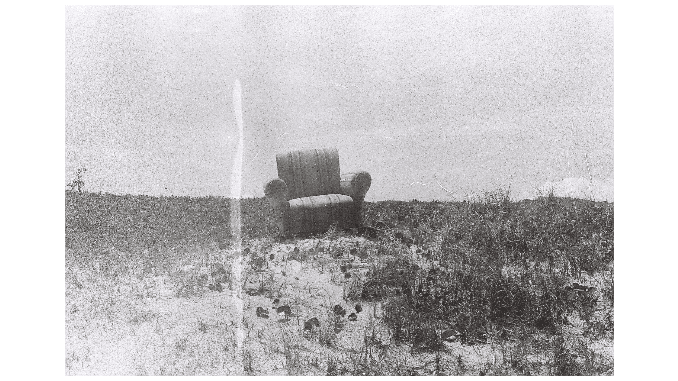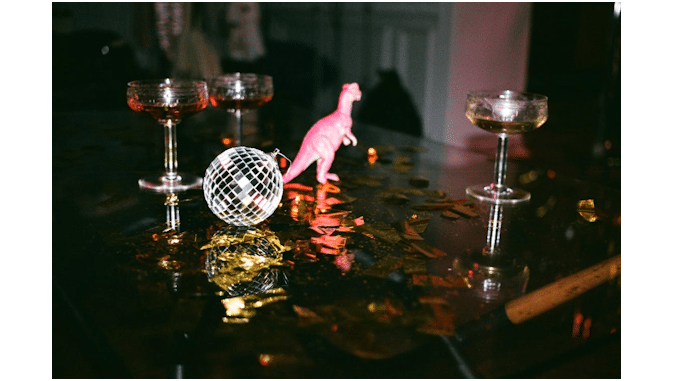Por EDUARDO GALENO*
Cobain demonstrou com clareza o simulacro vazio que é a vida sob os holofotes violentos do espetacular
Ao saber do suicídio de Kurt Cobain, William S. Burroughs dizia que não se mostrava surpreso com o ato. “Ele já estava morto”. Sim: morto em vida, Kurt Cobain era como um zumbi. Uma alma dentro de uma topologia junkie. Precisava do lítio para estabilizar o humor, precisava sonhar com a volta ao útero para consumar a falta, o desejo. Daí mesmo, todos sabem que a verdadeira, insidiosa e absolutamente ferina impossibilidade reina sob os escombros do pesado e doentio narcisismo do Eu. O autocídio, afinal, não é isso? Dar um “basta” à consciência do impossível, submeter o barramento às últimas consequências.
Todo herói, desde as antigas tragédias e os grandes mitos da Grécia, não só carrega na fisionomia uma peça de despojamento em que o mundo é apenas um palco para a sua atuação, mas igualmente prende para si um modelo de sacrifício violento. A única diferença que reside entre eles e Kurt Cobain é o espetáculo, a mídia, a hiper-ultra-mega produção especializada do texto pós-moderno. Mas herói de si, Kurt Cobain também foi herói da alteridade. A identidade mesma não pode suportar tamanho pesadelo sem sua face oposta. Ou: dizer que esse sujeito forjado é dividido, bipartido, que esse sujeito é, ao todo, esquizofrênico. Já não sujeito, já não pessoa, já outra coisa. Já uma coisa.
Ora, a modernidade é uma grande produtora de infantilismo. Não sendo diferente, Kurt Cobain é uma voz do retorno à casa (I can go home, de On a plain). Pesa o fato de que, nesse risco, se abdique de uma, duas ou três camadas da mente e se inicie uma odisseia, reproduzindo Ulisses em eras de super-informação, rumo à psicose do corpo deslocado. Tipo que é pura viagem, a prática de descodificação do espaço (ter a percepção de que tudo se esvaiu leva Cobain a se desesperar, como todo depressivo). A repetição do rosto transfigurado, raspado como a interpretação-pintura de Bacon do Retrato do Papa Inocêncio X (há acidentes na superfície da tela, além da violência essencial), não é senão mortificação.
Algo ecoa e se transforma em melancolia. A profusa melancolia, afinal, acaba por enunciar decididamente: nihil, volte três casas no jogo. Nisso, o que é desconfortável não vale a pena ser descrito para além de gestos: gritos e berros ao cantar são as únicas coisas que sobraram. Em Smells like teen spirit, por exemplo, existe o sentimento de incompletude infinita. Aquela que, em nível extremo, não pode nunca terminar. É nesse nível que aparece o caso muito óbvio da capa de Nevermind (1991), nascido do código social imediato imbricado a quem a vê. O bebê submerso que se alinha à figura da isca de dinheiro é tão flutuante como uma mercadoria e passa, à mercê da felicidade prometida pelo paraíso monetário, como uma imagem deformada. Estragado – e estúpido como a libido de Cobain – como o futuro (que não pôde vir por inteiro). “Pra frente o pior” (Beckett). Abaixo de nós, apenas a ruína; acima também.
Quando se fala em ruínas, se fala em sujeira e dejeto. Nesse evento, Roland Barthes tinha impregnado a facticidade no conceito de pop em 1980. Naquilo que é cruelmente real e sujo (não simbólico), havia sempre o eidos platônico, figura substancial, num embate ontológico entre o objeto e a representação. Qual seja a decisão que surge dessa luta da crueldade da matéria-arte ninguém sabe ao certo. Mas o Nirvana, de qualquer modo fazendo parte da atmosfera pós-warholiana (ou pós-pop), ampliava essa expectativa aos céus (para ficar mais apropriado, aos infernos): o baixo, o rasteiro, o vagabundo e a prostituta, o vômito e o abuso, enfim, toda aquela gama de horror repulsivo é puro devir-lixo. Tudo parece lixo.
Não é acaso a solidariedade de Kurt Cobain, em entrevistas, às mulheres, negros e gays, aos corpos abjetados. Resultado desse realismo cru, sucede o fato de quando a própria intimidade é êxtimo ou quando, assim falava Júlia Kristeva, o “eu” está no Outro pré-conceitual, sempre jogado ao extremo infamiliar. Não há dúvida: é a catástrofe, o cadáver em seu puro ato, que entra em cena, que atua. Cobain brinca num caixão a toda hora e a toda hora absorve a indiferença, o que deve possibilitar, ironicamente, certa comunidade. Mas comunidade atravessada por cadeias construídas de meio bizarro, pois essa plebe de grunges – feios e pobres – articulava um ensejo: o desespero. Eram apenas crianças brincando nos túmulos.
Há uma marca e um traço nesses adultos inúteis que sonhavam com o cordão umbilical. O engrama formado em cima dos seus cérebros orienta o pensamento ao Oriente, local em que o Sol surge. Sloterdijk chamou de Juízo Final do início: o “tu és bem-vindo, tu não és bem-vindo” (Sloterdijk, 2016, p. 460) da mãe é a primeira significação que um bebê ouve, cujo poder, por definição, pode soar também como último signo positivo pelo resto de sua vida. This is out of our reach (Negative creep): a música de uma banda como o Nirvana, em todo o espectro afetivo, já percorria como som indispensável dentro daqueles que a ouviram (e ainda ouvem).
A sua sonoridade se dirigia diretamente ao nosso interior. No dispositivo do canto, que afirma o que posso ser, é claro que a profusão disseminativa para as massas liga desejo e sujeito num único nó. Por isso, a última grande geração do rock não poderia passar além de um formato que abraçasse todo o grau de autodestruição inerente à loucura modernista. Existe algo relacional e intrínseco nos românticos alemães, em Nietzsche, no futurismo de Marinetti, nas Freikorps, nas bandas de rock: o sentimentalismo pueril que não sabe lidar com o fato da morte do Pai, a não ser junto à chance da bancarrota total. Destruição e autodestruição profundas…
Porque Deus é o nada, porque o budismo está certo, o Nirvana apresentou à cultura pop o esboço sintomático dessa insígnia masculina e ocidental. Bem mais que Ian Curtis, Cobain demonstrou com clareza o simulacro vazio que é a vida sob os holofotes violentos do espetacular. A negatividade extrema, a auto-aniquilação e o absoluto entendimento que o tempo histórico é tempo impuro – e mais outras coisas – moldaram significativamente a maneira pela qual experienciamos a cultura. Talvez seja por isso mesmo que Kurt Cobain tenha optado pela contraparte, lembrando Simone Weil, cuja leitura do Bhagavad Gita rendeu a defesa da nadificação. “Deus se revela quando me anulo”. E a nadidade de Deus quebra a substancialidade da vida – isto é, essa ek-sistência, para Kurt, é um projeto já perdido. Deus é o mendigo.
Sem o fundamento, restou a ele a lamentação através de músicas com o cheiro das flores dos funerais e a arquitetura do esteticismo bucólico da MTV. Essa noção surge, aliás, como desenvolvimento natural estabelecido pela teologia negativa de Eckhart nos Sermões. Em ambos temos o apelo místico (Light my candles in a daze ‘cause I’ve found God, de Lithium). Só que o Deus de Eckhart segura as pontas ainda com uma espécie de substância, enquanto o de Cobain é a linha já esgotada. Em outros termos,a condição que surge, nesse enunciado impossível que se amplia – eu desejo o não-desejo –, corresponde imediatamente a outro: eu desejo ser o que sou na pré-história (o Um) e desejo chegar a ser Deus, meu pai.
O mundo é minha representação
O mundo é o nada quando minha vontade desfalece.
Se Freud um dia citou a nuance schopenhaueriana de aniquilação, é porque ele sabia que nunca deixamos a teologia de lado. A diferença entre os instintos de vida e de morte, residida na conjunção dos instintos sexuais e do Ego, nos dá, de modo pleno, um arquivo-objeto da Kulturwissenschaft [ciência da cultura],que traz à luz a solidariedade existente entre organismo e mecânica. Dessa forma, os processos instintuais de retorno, impulsos à repetição, não apenas são reais, como também nos ajudam a estabelecer uma distinção conceitual no fenômeno de popularização de uma banda como o Nirvana e um astro pop como Kurt Cobain. Sintoma.
O curso para a restauração de um estado anterior funciona num anteparo da imagem do desprazer e, assim sendo – o Nirvana como culto religioso da não redenção –, as letras da poética cobainiana possuem uma parcela importante na sintomatologia que somente a cultura tardia do Ocidente trouxe à tona. Somos filhos diretos de uma comunidade já saturada pelo elogio formal à diferença, um elogio nunca substancial. O que Kurt Cobain tentou mostrar, negando o indivíduo com o ato de suicídio, foi o abraço incondicional à espécie, daí fazendo eclodir a alterização que a música popular pós-1960 pôde mostrar com tamanha exatidão, apesar de todas as contradições da sua forma de agir.
Entre a dança ciborgue/o canto andrógino de Michael Jackson e a cristologia bipolar hedônico-ultrapornográfica de Kanye West, existe um espaço para o Nirvana nessa constituição esquizo da cultura pop pós-moderna. Esse espaço se assenta na rendição total ao vazio, ao que não pode ser calculado (pelo menos em sua fundação), à catatonia da indiferença. Uma vez, Kafka disse que o ponto almejado é o ponto que não se pode mais retornar. E o Nirvana e a fatalidade suicida de Cobain acusaram muito bem o desamparo daquilo subjacente às camadas dos cadáveres, daqueles descendentes de Caim, dos para sempre exilados.
Antes que se possa apresentar alguma objeção a esse niilismo cheio de incertezas e desvios, podemos partir do seguinte princípio: se os espaços dos corpos foram cobertos de vegetação podre, se uma das características epocais aponta para o desmembramento corpóreo, então o presente é cercado de monstros. A monstruosidade, a anomalia, a doença: atos não normatizados que se expurgam da norma social, da Lei? Lembremos do poema tão atual de Paul Celan.
Salmo
Ninguém nos molda de novo com terra e barro,
ninguém evoca o nosso pó.
Ninguém.
Louvado sejas, Ninguém.
Por ti queremos
florescer.
Ao teu
encontro.
Um nada
éramos nós, somos, continuaremos
sendo, florescendo:
a rosa-de-nada, a
rosa-de-ninguém.
Com
o estilete claralma,
o estame alto-céu,
a coroa rubra
da palavra púrpura, que cantamos
sobre, oh, sobre
o espinho
Nessa questão urgente, para irmos além do individualismo e da pessoalidade, se a impotência, o Ninguém e o Nada podem escavar o trauma para encará-lo – como se sabe, até mesmo diante de uma felicitação à fissura –, significa que, quem sabe, o caminho que o Nirvana se dedicou seja justamente para fora da circulação (por mais incrível que possa parecer, involuntariamente).
Sem nome próprio, despossuído pelo signo-mercadoria. Cuspido, reduzido, desumanizado. Isso é o grão que se instala ao ouvir a voz do Nirvana. Ela, a voz do Nirvana, foi um test-drive: “uma hipótese permanente, sempre pronta para falhar, desmoronar, enfraquecer, vir abaixo” (Ronell, 2010, p. 11).
*Eduardo Galeno é graduado em Letras pela UESPI.
Referências
CELAN, Paul. Cristal. São Paulo: Iluminuras, 2011.
RONELL, Avital. Campo de Provas sobre Nietzsche e o test-drive. Florianópolis: Cultura e Bárbarie, 2010.
SLOTERDIJK, Peter. Esferas I: bolhas. São Paulo: Estação Liberdade, 2016.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA