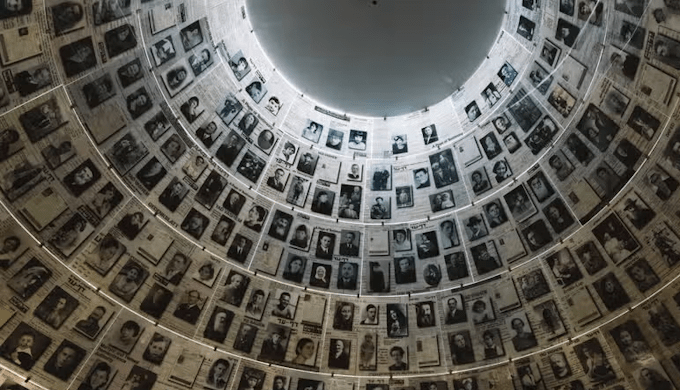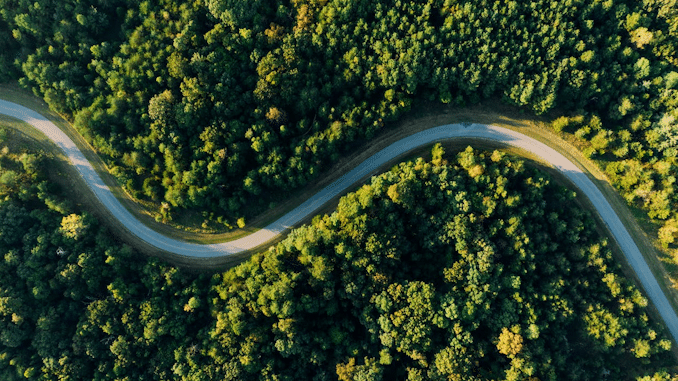Por JOSÉ LUIS FIORI*
Uma interpretação histórica de longo prazo do papel do Estado na crise brasileira
Introdução
Uma década de convivência com a incerteza econômica e a instabilidade política transformaram em consenso a ideia de que a crise brasileira tem uma natureza que transcende as flutuações conjunturais. Nesse tempo, generalizou-se, também, a convicção de que o epicentro dessa crise está no Estado.
O debate político sobre a responsabilidade do Estado na origem e na superação dos problemas gerados pela crise aparece, entretanto, envolto num manto profundamente ideológico. O antiestatismo de nossos empresários liberais não consegue esconder suas prolongadas relações de dependência clientelista com o próprio Estado. Mas o estatismo de nossos desenvolvimentistas – dos conservadores mais do que dos progressistas – tampouco consegue justificar as alianças que comprometeram historicamente o Estado com a parafernália corporativa e cartorial e com o autoritarismo, sendo que o reformismo de nossos social-democratas não consegue jamais esclarecer como se faz a omelete da reforma do Estado sem quebrar os ovos que alimentaram os vários e heterogêneos segmentos pactados na base social de apoio à estratégia que modernizou nossa sociedade sem ampliar a cidadania social e política.
Nesta hora repõe-se a necessidade de rever alguns aspectos do debate sobre a verdadeira natureza e importância do Estado na caracterização teórica e na implementação histórica da industrialização brasileira. Este artigo discorda de algumas visões tradicionalmente associadas às posições marxistas ou estruturalistas e tenta localizar em alguns momentos privilegiados da história político-econômica brasileira a verdadeira especificidade de sua trajetória para a modernidade industrial.
Especificidade condensada na esquizofrenia de uma política econômica que retrata de corpo inteiro os pactos e compromissos que alinhavaram a perversa relação que une, desde os anos 1930, o Estado com a burguesia brasileira. Compromissos que afastam o Brasil do modelo prussiano de industrialização e o inscrevem em uma “via desenvolvimentista” alavancada por um Estado que nunca conseguiu ir além dos limites que lhe foram impostos por um empresariado que, contraditoriamente, conseguiu ser profundamente antiestatal, não obstante sua longa história de anemia schumpeteriana e dependência do próprio Estado.
O problema da especificidade da industrialização brasileira
O provimento de mão-de-obra escrava e imigrante inaugura, como é sabido, a presença econômica do Estado brasileiro, a qual se expande de forma contínua a partir do início do século XX.
Essa presença muda de qualidade, entretanto, com a política federal de valorização do café, institucionalizada depois da 1ª Guerra Mundial, mas, sobretudo, com a revolução institucional ocorrida com o Estado Novo. Os números, ainda quando restritos ao setor produtivo, são significativos. Até os anos 30, o Brasil dispunha de apenas 14 empresas estatais. Entre 1930 e 1954, na Era Vargas, o Estado gerou 15 novas empresas; nos cinco anos de Governo Kubitschek, 23; com Goulart foram criadas 33; e durante os 20 anos de regime militar, 302, segundo dados levantados pelo ex-Ministro Hélio Beltrão (JB, 28.05.88). Os números seriam igualmente expressivos se quantificássemos a proliferação de outros órgãos, sobretudo depois de 1937, ligados à regulação, ao controle, ao financiamento, à prestação de serviços, etc.
A partir desses dados, muitos são os que definiram a especificidade do capitalismo brasileiro segundo da importância crucial do setor produtivo estatal e a extensão do controle do Estado sobre o processo de acumulação, chegando alguns a afirmar que “(…) o Estado é quem aparece como substituto da ‘máquina de crescimento privado’, na medida em que opera crescentemente nos setores pesados da indústria de bens de produção e nas operações de financiamento interno e externo da indústria” (Tavares, 1985, p. 116).
Isso apesar de que, desde Gershenkron (1952) pelo menos, essa presença ativa e expansiva do Estado seja considerada uma característica comum a todos os países capitalistas com estados nacionais e desenvolvimentos econômicos tardios. Na verdade, depois da experiência alemã, desconhecem-se casos de industrialização acelerada que tenham ocorrido fora da égide estatal, ainda que se diferenciem quanto à importância do capital estrangeiro e ao ímpeto monopolizante dos capitais nacionais. Em todas elas coube ao Estado, como no Brasil, além de suas funções clássicas, o papel de construtor de infraestrutura, produtor de matérias-primas e insumos básicos, coordenador dos grandes blocos de investimento e de importante instrumento de centralização financeira.
Por outro lado, mesmo nos países de industrialização originária, as funções do Estado foram completamente redefinidas depois da 1ª Guerra Mundial. A partir de então, e em particular depois de 1929, movido pelas necessidades da crise ou das pressões corporativas, apoiado na argumentação keynesiana e sustentado pelas social-democracias, o Estado redefiniu suas funções e reorganizou-se institucionalmente. Envolveu-se crescentemente na manutenção de níveis de investimento compatíveis com as exigências de emprego e consumo das populações, na sustentação de expectativas estáveis, na negociação das margens de lucro, na alavancagem das fronteiras tecnológicas e, sobretudo depois de 1945, na promoção maciça de políticas de bem-estar e promoção social.
Por isso, acreditamos, como Carlos Lessa e Sulamis Dain, que “(…) uma observação superficial mostraria que as respostas dos Estados da Europa e da América Latina se consubstanciaram em manifestações semelhantes: ampliação da participação do Estado nos fluxos de produto, ingresso e gasto; presença do Estado nas atividades diretamente produtivas e ampliação de seu rol no sistema monetário financeiro”.
E com eles concluiríamos que “(…) aparentemente, tentativas de descrição do ‘setor público’ não conseguem captar nenhuma especificidade na América Latina” (Lessa & Dain, 1982, p. 217). Parece-nos que, nem na América Latina, nem no Brasil em particular, a especificidade da constituição de seu capitalismo industrial se encontra apenas na presença estatal ativa, por mais extensa que tenha sido do ponto de vista de suas funções, dimensões e áreas de intervenção produtiva.
Os limites da hipótese prussiana
Se sublinhar a importância do papel do Estado é insuficiente para caracterizar a especificidade de nossa industrialização, falar de modelo prussiano de modernização conservadora é excessivamente vago ou abstrato para captar a particularidade da nossa modernidade desenvolvimentista.
Para Lênin, a “via prussiana” identificava-se apenas como uma forma de conversão do campo feudal ao desenvolvimento burguês. Seu traço essencial estava em que a “(…) exploração feudal do latifúndio transformava-se lentamente numa exploração burguesa-junker (…)” (Lênin, 1980, p. 30); uma transição do feudalismo para a exploração capitalista da terra sem divisão do latifúndio. Engels (1951), muito antes, em seus trabalhos sobre a Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, foi bem além ao definir os traços fundamentais da especificidade prussiana, sublinhando as condições políticas do atraso alemão frente ao desenvolvimento econômico inglês e ao desenvolvimento social francês.
Engels já percebe em sua obra, na metade do século passado, a importância da nobreza feudal na constituição da burguesia e das demais classes componentes da sociedade alemã, concluindo que “(…) a composição das diferentes classes do povo que formam a base de todo o organismo político é mais complicada na Alemanha que em qualquer outro país” (Engels, 1951, p. 205). O atraso, a resistente nobreza feudal, a situação geográfica desfavorável e as guerras continuadas estiveram, segundo ele, na raiz de porquê “(…) o liberalismo político, o regime da burguesia, seja sob a forma de governo monárquico ou republicano, foi impossível na Alemanha” (Engels, 1951, p. 300). Por esses motivos, a burguesia alemã não alcançou a mesma supremacia política lograda na Inglaterra e na França, sendo obrigada a uma aliança com a nobreza agrária, da qual resultou uma evolução “progressiva” das relações de produção, uma evolução “desde cima” ou “pelo alto” como a chamaram mais tarde.
Bem mais tarde, Gershenkron retrabalhou a hipótese do atraso alemão e viu no papel “substitutivo” cumprido pelos bancos, pelo Estado e pelas ideologias os componentes básicos de uma nova radiografia, agora mais institucional, da “via prussiana” de industrialização. Barrington Moore (1973) foi além e trabalhou algumas determinações históricas e sociológicas responsáveis pelo que chamou de “modernização conservadora” da Alemanha. Sua especificidade estava na força do campo, como em Lênin, e na fragilidade do burgo, como em Engels. De sua aliança, contudo, teriam resultado não apenas o fortalecimento autoritário de um Estado modernizante, mas sua sucessão por um regime democrático débil e, logo depois, pelo fascismo.
Descontadas algumas similitudes com o caso brasileiro, sobretudo no que diz respeito à questão agrária, todas as tentativas de incorporar o desenvolvimento brasileiro no modelo prussiano desmerecem algumas particularidades econômicas da industrialização alemã da segunda metade do século passado. Assim como: o fato de que o centro de gravidade econômica esteve, desde o início, na indústria pesada e não na de bens de consumo; o fato de que essa indústria nasceu monopolista, nacional e na nova ponta tecnológica – a eletricidade, o aço, etc; o fato de que essa indústria se constituiu integrada, horizontal e verticalmente, pela articulação financeira dos bancos; o fato, finalmente, de que essa industrialização ocorreu num contexto de intensa competição interimperialista e se articulou diretamente com o Estado via produção de material bélico, com vistas a um projeto imperial e a um enfrentamento previsível com a hegemonia inglesa.
Esses foram os fatores decisivos que explicam o vigor da economia alemã na segunda metade de século passado, alavancada pela indústria e movida por uma ideologia nacionalista, que racionalizava um autêntico projeto imperial. Algo similar ao que ocorreria no Japão da Revolução Meiji. Em ambos os casos, a industrialização arrancou pela indústria pesada, apoiada no Estado e afiançada por um claro projeto de Nação-potência.
Nossa leitura da política da industrialização brasileira identifica dois momentos em que nossas elites estiveram próximas, mas acabaram rejeitando uma alternativa autenticamente prussiana; na Era Vargas, sobretudo nos anos 1930, e no Governo Geisel.
Dez dias antes do golpe de Estado de 1937, Vargas suprimiu o confisco cambial, obtendo a simpatia de nossos cafeicultores, para, logo depois do golpe de Estado, declarar a moratória, adotando uma política explícita de estímulo à indústria, com a criação da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil. Em abril de 1938, Vargas afirmava que “(…) a grande tarefa do momento é mobilização dos capitais nacionais para que tomem um caráter dinâmico na conquista das regiões atrasadas (…). O imperialismo do Brasil consistiria em ampliar essas fronteiras econômicas e integrar um sistema coerente em que a circulação de riquezas se faça livre e rapidamente, baseado em meios de transporte eficientes que aniquilarão as forças desintegradoras da nacionalidade” (Brandi, 1983, p. 135).
Nesse mesmo ano, Vargas afirmava que “(…) o Estado Novo não conhece direitos de indivíduos contra coletividade. Os indivíduos não têm direitos, têm deveres! Os direitos pertencem à coletividade” (Brandi, 1983, p. 142).
Do ponto de vista de seu projeto econômico, Vargas definiu como pedra angular a construção da indústria do aço, “problema capital de nossa expansão econômica”. E, assinando um grande contrato com a empresa alemã Krupp, pensou vincular seu projeto industrializante ao rearmamento do Exército. Mas seu projeto nacional naufragou logo à frente, quando, em 9 de março de 1939, Oswaldo Aranha assinou os acordos de Washington, que nos liberaram créditos do Eximbank para cobrir atrasados comerciais, mas nos comprometeram com a abertura da economia aos capitais norte-americanos, com a suspensão da moratória e com a retomada do pagamento do serviço de nossa dívida externa.
Logo depois, o intercâmbio de missões militares interrompeu a aproximação alemã de Vargas. A partir dessas decisões, redefiniu-se o rumo do projeto nacional varguista, afastando-se da via prussiana no exato momento em que ele optou, frente à resistência política do empresariado e à escassez dos recursos fiscais, pelo financiamento internacional da siderúrgica de Volta Redonda, marco inicial de nossa indústria pesada.
Muitas décadas mais tarde, em 1974, o General Geisel, ao receber a faixa presidencial, anunciava que “(…) a Nação ganhou inabalável confiança em si mesma, avançando a largos passos para seu grande destino, que nada mais deterá”.
Com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), Geisel respondeu à crise da primeira metade dos anos 70, propondo uma estratégia de “Nação-potência” que tinha no Estado seu principal artífice. Defendia a conclusão do processo de substituição de importações, mas mantinha o sistema financeiro privado internacional como seu principal fiador. Em paralelo e num movimento análogo ao de Vargas, Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos e assinou o acordo atômico com a Alemanha. Essa retomada de um projeto nacional, entretanto, enfrentou a mais completa falta de apoio popular e uma oposição crescente da classe empresarial, cuja grande maioria se posicionou contra o processo implícito de estatização.
Em 1938, Vargas pensou em financiar a industrialização pesada com recursos nacionais, mas não teve fôlego. Em 1950, fracassou uma vez mais ao buscar o apoio financeiro dos bancos públicos internacionais sem encontrar a receptividade esperada. Na década de 70, Geisel, finalmente, completou a indústria pesada com os recursos dos bancos privados internacionais, pelos quais o País paga hoje um preço conhecido.
Nesse longo percurso, que pode ser visto como uma transição de uma economia agroexportadora capitalista para uma economia industrial, nossos cafeicultores jamais foram junkers feudais nem tiveram vocação militar; nossos homens da guerra não eram nobres nem tinham fôlego imperial; nossa burguesia industrial era predominantemente imigrada e padecia de anemia schumpeteriana; nossos bancos preferiram sempre a intermediação mercantil e a especulação; nossa fé nacionalista foi obra sobretudo de uma elite tecnocrática e militar que, na ausência de guerra, gerou um filho bastardo, a ideia de segurança nacional, uma ideologia substitutiva que se restringiu às casernas.
Em síntese, o papel do Estado foi central em nossa industrialização, mas sua ação modernizante esteve sempre limitada por um compromisso conservador diferente do que sustentou a industrialização prussiana. É o que tentaremos mostrar na discussão mais detalhada de como se frustraram os sonhos prussianos de Vargas e Geisel.
Vargas: o prussianismo desfigurado
O projeto nacional de Vargas, apesar de seus vários momentos e inflexões, possui uma linha central bastante nítida. Não cabe aqui uma reconstrução acabada de sua história nem de suas principais consequências institucionais. Esse trabalho já foi feito e serve-nos de apoio nesta reflexão (Draibe, 1980). Queremos apenas chamar atenção para algumas de suas características e contradições que acabaram acompanhando e especificando nossa industrialização.
Na verdade, se o sonho prussiano de Vargas foi curto e malsucedido, a história de seu projeto industrializante foi bem mais longa e bem-sucedida. A Missão Aranha e o financiamento externo de Volta Redonda enterraram o primeiro. A construção de um aparelho institucional “(…) cuja forma incorpora, crescentemente, aparelhos regulatórios e peculiaridades intervencionistas que estabelecem um suporte ativo ao avanço da acumulação industrial” (Draibe, 1980, p. 83) aplainou o caminho para o segundo.
A lista das instituições criadas com o objetivo de centralizar o comando da administração econômica é infindável e ficou permanentemente em nossa história, estendendo-se pelos âmbitos da organização administrativa e orçamentária; da regulação e controle do câmbio, do comércio exterior, da moeda, do crédito e dos seguros; do fomento a certos ramos de produção e comercialização; da normalização das grandes áreas da atividade econômica; da tentativa de coordenação conjunta das atividades econômicas; da elaboração dos códigos e regulamentações dos serviços de utilidade pública; da informação estatística; da regulamentação de preços, salários e juros, etc. Um arcabouço institucional completo que, ainda quando envelhecesse, seria a matriz que viabilizaria, do ponto de vista estatal, a nossa modernização industrial.
São bem conhecidos também seus planos para uma industrialização pesada, que esbarraram permanentemente na oposição política à estatização e na falta de “esforço” financiador, o qual foi reduzido a complicadas transferências cambiais. Por essa razão, se esse enorme esforço de modernização institucional “(…) abriu espaço à ação industrializante do Estado, também não deixou de conter fortíssimos elementos de resistência à industrialização, à nacionalização das políticas, à intervenção e o planejamento” (Draibe, 1980, p. 116). E isto porque, como diz S. Draibe (1980, p. 118), “(…) o núcleo político do Estado, embora autoritário e dispondo de autonomia para a elaboração e exercício de sua direção, esbarra intermitentemente nos limites intransponíveis estabelecidos pelo equilíbrio instável de suas forças de sustentação”.
Limites visíveis na objeção ao controle e ao plano, mas muito mais importantes e permanentes nos constrangimentos financeiros. Nesse terreno e ainda sonhando com um padrão endógeno de financiamento, o Estado Novo alterou as regras fiscais e ampliou a base tributária, fazendo dos impostos de renda, consumo e selo as fontes fundamentais dos recursos da União. Mas essas mudanças foram insuficientes até mesmo para dar conta dos gastos correntes do Estado, sem falar de suas pretensões industrializantes.
E isso apesar das novas reformas envolvendo o Imposto de Renda e a criação do Imposto sobre Lucros Extraordinários, cuja insuficiência obrigou finalmente a criação dos fundos vinculados, destinados inicialmente ao reequipamento das vias de transporte e à pesquisa do petróleo. Com esse mesmo objetivo, cogitou-se a criação de um banco de investimentos, que só surgiria mais tarde, e a Missão Cooke idealizou, pela primeira vez, um mercado de capitais ativo e eficiente do ponto de vista produtivo. Por fim, optou-se, em alguns casos, pelas empresas públicas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, viabilizada contudo, através do financiamento externo.
Hoje, olhando retrospectivamente, fica claro que, no Estado Novo, “(…) novos, efetivamente, foram os órgãos criados, inéditos foram os instrumentos institucionais de que passou a dispor o poder centralizado, inovadores foram as formas e tipos de regulação e controle que caracterizariam, agora, a ação econômica estatal” (Draibe, 1980, p. l29). Mas “(…) a ausência de agências adequadas de financiamento, por um lado, e de um Banco Central, por outro, tornava o controle não apenas parcial, mas efetivamente comprometia a possibilidade de se estabelecer uma política nacional de moeda e crédito (grifos nossos)” (Draibe, 1980, p. 132).
O sucesso da estratégia prussiana implicaria, naquele momento, do ponto de vista econômico, um enorme esforço global e integrado de investimentos público e privado visando a uma industrialização pesada que não ocorreu. E não ocorreu porque esse esforço econômico suponha uma férrea articulação entre o Estado e o empresariado, que foi vetada politicamente pelas classes dominantes brasileiras, predominantemente agrárias e partidárias de um liberalismo econômico antiestatal e inter-nacionalizante. Graças a esse veto, na entrada dos anos 50, a nossa base técnica produtiva industrial persistia criticamente dependente de importações intermediárias e de bens de capital, de forma que, apesar do limitado dinamismo industrial precedente, já se haviam explicitado insuficiências da base infraestrutural de transporte e energia que ameaçavam frear a expansão da economia brasileira. De maneira que a superação desses “pontos de estrangulamento” se somou à questão irresolvida da indústria pesada como preocupações centrais do segundo Governo de Vargas.
Ainda que inexista um plano formal e sistemático que desvele de forma inequívoca a estratégia de desenvolvimento econômico e social perseguida na primeira metade dos anos 50, a leitura das mensagens presidenciais e das exposições de motivos que acompanham a sucessão de programas, projetos e alterações instrumentais e operativas do aparelho de Estado permite, entretanto, pelo menos duas interpretações. De um lado, alguns viram naquela etapa a explicitação de um projeto de desenvolvimento capitalista onde, sob a regência do Estado, se fundaria a hegemonia do capital privado nacional, cujo bloqueio teria conduzido à morte seu principal inspirador.
Outros, com maior prudência, viram naquele conjunto uma antevisão, extremamente moderna para a época, de uma industrialização pesada, conduzida a partir da consciente interpenetração do Estado com o capital privado nacional e o financiamento público internacional. Nessa direção, coube a Vargas armar seu equacionamento programático e institucional, ainda que seu financiamento só tenha se viabilizado na Administração Kubitschek, quando a ideia do financiamento público é substituída, na prática, pelo investimento privado estrangeiro, e a industrialização pesada, por uma indústria de bens de consumo fortemente internacionalizada.
Antes disso, entretanto, e ainda com Vargas, existia a convicção da burocracia pública de que, se a exiguidade e a insuficiência do sistema de infraestrutura dificultavam a continuidade da expansão industrial, o desinteresse e a incapacidade do setor privado em assumir o equacionamento dessas questões, evidenciados por duas décadas de omissão, obrigavam o Estado a incorporar o papel principal nesses domínios, como se fez inevitável nos casos do Plano Nacional de Eletrificação e de criação da PETROBRÁS.
Mas esses programas enfrentaram uma vez mais as dificuldades de financiamento. O Plano Quinquenal de Lafer, que previa inversões em infraestrutura na ordem de US$ 1 bilhão, desdobrou-se com a constituição, em novembro de 1951, do Fundo de Reaparelhamento Econômico (FRE), tendo no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e seu agente administrador. Os recursos provinham de adicionais aplicados ao Imposto de Renda e da transferência de parte das reservas técnicas das companhias de seguro e capitalização. Esse esquema interno foi pensado como a contrapartida da tão esperada cooperação oficial americana ao desenvolvimento brasileiro. Se adicionarmos ao FRE alguns outros fundos alimentados com vinculações tributárias, assistiremos à montagem de um subsistema de financiamento público de natureza fiscal que, ampliando e direcionando a carga tributária para aplicações infraestruturais, permitia a consecução de alguns dos objetivos plurianuais programados.
Assim, mesmo o esquema de financiamento apresentado no Plano Lafer tinha no apoio americano sua componente principal e crítica. Nos trabalhos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, foi feito o seu detalhamento, considerado imprescindível, na ordem de US$ 300 milhões a US$ 500 milhões. Foi como antecipação e contrapartida preparatória que surgiu o esquema BNDE/FRE. A busca desse apoio financeiro reafirmava, na primeira metade dos anos 50, a estratégia que nascera vitoriosa dos conflitos políticos internos e externos do Estado Novo.
Um prussianismo desfigurado, um projeto nacional “associado”, ainda que baseado na articulação entre empresa pública, empresa nacional privada e a “ajuda” estrangeira de caráter governamental. Havia, no programa Vargas, duas certezas fundamentais: o capital estrangeiro não executaria as tarefas de infraestrutura, nem a empresa estrangeira viria em novas ondas para o Brasil enquanto não estivessem criadas as bases de uma expansão industrial. E essas deveriam ser financiadas pela combinação de um esforço interno com alguma variante do Plano Marshall.
Mais uma vez, entretanto, Vargas foi derrotado no problema do financiamento, na medida em que seu projeto de industrialização, já agora dissociado de qualquer projeto de Nação-potência, não contou com o apoio das elites econômicas internas nem com a ajuda financeira externa.
Essa mesma limitação reaparece em outro ângulo, na evolução da política monetária e creditícia do Governo Vargas, que teve um corte marcadamente ortodoxo ou conservador. Seu primeiro movimento (1951/52) foi presidido pelo Plano Lafer, programa a ser executado ao compasso de um esquema de estabilização que previa o equilíbrio fiscal e a contenção de gastos. Lafer conseguiu o equilíbrio fiscal nas contas federais, se bem que, nesses anos, o “déficit” do setor público se manteve devido às administrações estaduais.
O esquema Lafer não logrou, entretanto, impor uma política contracionista de crédito. Enfrentou-se, nesse ponto, com o Banco do Brasil sob a presidência de Jaffet, o qual, desfrutando de peculiar autonomia e reforçado com os recursos oriundos da venda de licença em excesso, expandiu vigorosamente o crédito. Assim mesmo, no primeiro biênio de governo, sustentou-se uma política econômica ortodoxa, a despeito das “infrações” à “boa doutrina”, que repõem a cada momento o impasse do financiamento na forma do conflito, usual na política econômica desenvolvimentista, entre a moeda e o crédito, a estabilidade e o crescimento.
No início de 1953, o cenário político-econômico apresentava um acúmulo de problemas bastante conhecidos. Recapitulando: a liberação das importações produziu a queda das reservas e o acúmulo de atrasados comerciais que já superavam US$ 500 milhões. Em fevereiro de 1953, o Eximbank concederia uma linha de US$ 300 milhões, sob condições particularmente restritas e visando compensar atrasados comerciais americanos. Nessa conjuntura, é promulgada a Lei nº 1.807, que estabeleceria o mercado livre de câmbio para as operações de capitais de risco, e é substituído o Presidente do Banco do Brasil, sinalizando a intenção de modificar a política creditícia. Aos olhos contemporâneos, o programa estabilizador havia fracassado, pois a inflação se mantinha firme em seu novo patamar de 15%.
Na área sindical, crescia a mobilização contra a política econômica de Vargas, culminando com a greve dos 300.000 em março e abril daquele ano. A dissolução da miragem dos empréstimos para os projetos de infraestrutura combinar-se-ia com a tendência persistente no sentido de forte desequilíbrio nas contas comerciais brasileiras. Nos meses de junho e julho, na recomposição ministerial, cairia Lafer, assumindo Oswaldo Aranha, o qual reiteraria a prioridade estabilizadora com o anúncio de cortes fiscais, contenção creditícia e estritos controles seletivos de importações.
Observada panoramicamente, a política econômica de 1953 não se distingue da executada no biênio precedente. O “esquema Aranha” propunha também contenção fiscal e creditícia – se bem que o Banco do Brasil tenha continuado expansionista naquele ano –, e as profundas alterações cambiais não afastaram a política econômica das recomendações do FMI. Pelo contrário, a relativa liberalização cambial, ainda que com um sistema de taxas múltiplas, seria apresentada àquela agência como solução transitória de acercamento ao sistema de plena liberdade cambial.
No momento em que se acirravam as contradições entre o prussianismo já desfigurado de Vargas e os que o vetaram no manejo de uma política econômica ortodoxa e “contencionista”, Vargas assiste à dissolução das suas últimas esperanças relativas ao apoio americano. A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos encerra seus trabalhos em junho de 1953, entrando as negociações com o Eximbank em compasso de espera. Em maio do ano seguinte, foi decretado o reajuste de 100% no salário mínimo, elevando o piso salarial urbano a um nível jamais ultrapassado. Pouco depois, no bojo da crise político-institucional, Vargas suicidar-se-ia, e Oswaldo Aranha seria substituído por seu colaborador na reforma cambial, Eugênio Gudin.
O fundamental, para nossos efeitos, é que o segundo Governo Vargas marcou uma tomada de consciência e uma inflexão estratégica. A consciência de que a empresa nacional ficava aquém das necessidades impostas pelo salto industrializante e de que o sistema bancário privado era incapaz de superar os estreitos limites do crédito comercial, o que obrigava o Estado a assumir uma função financeira. Ficava claro, ademais, que o braço forte do capital nacional não estava no capital industrial e que a aliança do capital agrário-mercantil e bancário não via no Estado o condottiere de um projeto de afirmação econômica ou militar.
Tudo isso impunha uma inflexão estratégica com a opção por um desenvolvimento associado com o capital internacional, única forma de financiar uma industrialização tardia e periférica que jamais se tomou um projeto verdadeiramente nacional, ao estilo prussiano. Uma industrialização que, ao contrário, foi puxada pelo setor de bens de consumo duráveis, com alto grau de internacionalização produtiva e dependência tecnológica e com baixo grau de articulação financeira e monopolização. Uma industrialização que, finalmente, nunca se pautou por ambições externas ou claras hegemonias internas.
Finalmente, com JK, fez-se a opção definitiva por um padrão de financiamento fortemente dependente do capital estrangeiro e do uso pelo Estado do endividamento interno e externo, ou mesmo da inflação, como forma de “escorar” uma burguesia empresarial extremamente conservadora, protecionista e antipopular. Sendo que, a partir daí, foi vetado também ao Estado qualquer movimento de monopolização (que não fosse setorial) ou centralização financeira, ainda quando ele fosse responsabilizado, simultaneamente, pela estabilidade de uma moeda desvinculada de qualquer padrão internacional, pela extensão de créditos e subsídios e pelos investimentos básicos responsáveis pela alavancagem da industrialização e pela sustentação das margens de lucro de setores econômicos fortemente protegidos.
Geisel: o prussianismo rejeitado
As contradições do papel reservado ao Estado exponenciam-se no período Geisel, quando se monta, cronológica, política e economicamente, a crise atual, a mais profunda e definitiva desse padrão de industrialização.
Como se sabe, o projeto nacional de Geisel respondeu a uma desaceleração do ciclo industrial interno e a um choque externo, propondo “(…) levar adiante o desenvolvimento em meio à crise e ao estrangulamento externo, através da reestruturação do aparelho produtivo” (Castro, 1985, p. 42), numa estratégia integrada por duas diretivas mutuamente articuladas. A primeira propunha um novo padrão de industrialização, cuja liderança dinâmica estaria na indústria pesada. Reassumia-se por aí, como bem viu A. B. Castro, “(…) o projeto de industrialização nacional, que teve como primeiro grande marco a batalha pela moderna siderurgia (…)” (Castro, 1985, p. 54), e definia-se a empresa pública como seu agente central. E a segunda projetava um fortalecimento do capital privado nacional, a ser coordenado e financiado pelo BNDE.
As dificuldades já foram devidamente mapeadas e analisadas em outros lugares. Para nosso efeito, subscrevemos o balanço final, feito por Barros de Castro, da reestruturação da base produtiva, quando diz que “(…) o crescimento veloz, horizontal e tecnologicamente passivo dos anos 1968/73 teve abrupto fim em 1974. Dali por diante, em marcha forçada, a economia subiria a rampa das indústrias capital-intensivas e tecnológico-intensivas (…). Como resultado do conjunto de programas integrantes da opção 74, a capacidade de produção de petróleo e eletricidade, de insumos básicos e de bens de capital foi drasticamente ampliada”.
Sendo que “(…) a evolução registrada no último decênio tendeu a descondicionar o dinamismo da economia do perfil da demanda interna (…) e, finda a custosa marcha iniciada em 1974, o país contava com uma nova base e um amplo campo de possibilidades (…) que já não cabe – sequer como caso limite – dentro do perímetro do subdesenvolvimento” (Castro, 1985 , p. 76, 79 e 82).
Nos caminhos dessa marcha forçada, entretanto, nem tudo ocorreu como o previsto, e a forma através da qual aconteceria teve consequências decisivas no futuro. Como diz Carlos Lessa, “(…) o II PND supôs a empresa estatal como o agente líder da mudança do padrão de industrialização (…) na direção de um novo pacto central: empresa estatal/grande indústria nacional, notadamente de bens de capital” (Lessa, 1978, p. l47), não tomando na devida conta “(…) que a empresa estatal é um dos instrumentos dos pactos soberanos e que o Estado é um instrumento do movimento maior da economia e que, portanto, nem o Estado nem as empresas estatais tinham a autonomia pensada pelo II PND” (Lessa, 1978, p. l48).
Essa suposição seria válida em um “projeto prussiano”, mas, imposta a uma realidade diferente, enfrentou dificuldades não previstas, cujas consequências lhe foram fatais. Nesse sentido, e em primeiro lugar, enfrentou a baixa solidariedade empresarial, transformada, a partir de 1976, em uma verdadeira rebelião contra a estatização. Esse comportamento, entretanto, como estamos tentando demonstrar, não era novo e decorria de opções políticas que, desde os anos 30, geraram uma relação altamente simbiótica, porém “mercantil” e pouco solidária, entre o empresariado e o Estado. Relação que se repôs como conflito e oposição em todos os momentos em que o Estado se propôs a comandar o passo da industrialização pesada, o que foi a proposta de Geisel, o qual, por isso mesmo, enfrentou dificuldade de financiamento da expansão através das empresas estatais.
Condicionado pelas reivindicações e resistências empresariais, o Governo limitou, através de deliberação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de 15 de janeiro de 1975, em 20% o reajuste máximo de suas tarifas, dificultando o autofinanciamento das empresas. Na mesma direção, ao ser vetada pelo setor privado a realização de integrações horizontais e verticais, impediu-se que a grande empresa estatal aumentasse a massa de seus lucros. Diante de tais constrangimentos, aos quais se somou o limitado acesso ao Tesouro e ao sistema financeiro oficial (destinado prioritariamente ao setor privado), as empresas públicas tiveram que recorrer ao endividamento externo, com todas as consequências conhecidas. Problema que se somou às dificuldades táticas postas pelos desequilíbrios macroeconômicos de curto prazo, concentrados na inflação e no balanço de pagamentos, sendo que foi nesse espaço e em nome da contenção inflacionária que se deu o confronto direto e permanente do núcleo desenvolvimentista da estratégia com o comando da política macroeconômica.
Confronto resolvido, em parte, com a elevação da taxa de juros, associada à entrada cada vez mais intensa de empréstimos externos, o que ampliou o hiato financeiro na operação da dívida pública utilizada para financiar a conversão do saldo líquido dos recursos entrantes. Como consequência, e para fazer frente às pressões privadas resultantes da elevação das taxas de juros, o Governo foi forçado a abrir um leque crescente de linhas de crédito subsidiado. A partir daí, “(…) a insistência quase obsessiva em desaquecer a demanda agregada através da política de juros elevados e da tentativa de aperto creditício acumulou, em escala crescentemente imanejável, o grande problema do desequilíbrio financeiro do Tesouro. A velocidade estonteante do giro da dívida pública, a abertura incontrolável do déficit financeiro, a enxurrada de empréstimos externos criaram pressões autodestruidoras da meta original de contencionismo creditício(…)” (Belluzzo&Coutinho, 1982, p. l65), ficando a política cambial prisioneira da política de financiamento externo e do crescente peso do fluxo do serviço da dívida. Com o que estavam plantadas as sementes do encilhamento financeiro futuro.
Esses obstáculos e conflitos explicam porque a complementação do processo de substituição de importações teve consequências tão catastróficas. Esse enorme esforço, feito por um Estado sem solidariedade empresarial e com endividamento externo, parece ter nos levado a uma crise mais profunda do que as que se sucederam às tentativas anteriores de instalação da indústria pesada no Brasil.
É conhecido o seu percurso agônico depois de 1979. Mas foi a partir de 1982, com a exaustão do financiamento externo, que se exponenciou e se explicitou, definitivamente, o nó central da crise: o encilhamento financeiro geral que destruiu qualquer possibilidade de relançamento continuado da economia e implodiu o Estado desenvolvimentista no momento em que este enfrentava o desafio de uma transição democrática.
Essa crise desenvolveu-se nos anos 80, mas originou-se na ambiguidade estratégica do II PND, dividido entre sua opção desenvolvimentista e sua gestão estabilizadora; entre seu projeto de Nação-potência e seu financiamento externo; entre sua vocação estatista e a sua submissão aos pactos e compromissos cartoriais, corporativos e regionais que privatizaram e limitaram a própria possibilidade de modernização e eficácia do Estado. Ambiguidade extremamente visível na forma em que se armou o endividamento das estatais, obedecendo, em um momento, à estratégia de financiamento da “marcha forçada” desenvolvimentista e, logo depois, à política de estabilização, quando operaram como tomadoras de moeda externa com vistas a fechar o balanço de pagamentos.
Ambiguidade igualmente explícita no manejo da capacidade de endividamento público interno que deixou de cumprir a sua função fiscal de captação de recursos e passou a ser utilizada como instrumento de política monetária de curto prazo, com a dupla função de ajustar o balanço de pagamentos e combater a inflação. Estratégia que conduziu ao estrangulamento dos anos 80, quando as autoridades monetárias perderam a própria capacidade de fazer política monetária ativa. Ambiguidade visível, finalmente, na forma em que se distribuíram, nos anos 80, os custos da crise entre os três pilares do nosso desenvolvimentismo:
“Mediante desvalorizações cambiais, elevações das taxas de juros internas e arrocho salarial e tarifário, permitiu-se uma forte redistribuição de renda em favor do setor empresarial privado, acentuando os seus lucros como rentistas. Mas não se fez apenas isto, promoveu-se também uma verdadeira modificação patrimonial de ativos e passivos entre o setor público e privado. O setor público aumentou o seu estoque de dívidas (externa e interna), enquanto os grupos empresariais privados, vangloriando-se de sua eficiência, diminuíram o seu endividamento, liquidaram sua dívida externa e interna, fizeram aplicações financeiras e aumentaram as suas margens de lucro não operacional. Com o que, o setor privado passou, a partir do início da década de oitenta, de devedor líquido a credor líquido do Banco Central e, através deste, tornou-se também credor indireto do setor público, já que o sistema bancário funciona a partir da década de oitenta como um supridor líquido de crédito a todas as órbitas do setor público federal e estadual” (Tavares, 1985, p. 95).
As raízes monetário-financeiras da crise brasileira
Se o esforço de investimento para sustentar a estratégia geiseliana multiplicou e exponenciou as dificuldades financeiras da economia, o fez constrangido, em última instância, pelos parâmetros definidos nas reformas institucionais que pautaram, a partir dos anos 60, a política monetário-financeira do regime militar.
Naquele momento, uma reversão cíclica, acompanhada de aceleração inflacionária, deu lugar a uma clássica “crise de estabilização”, iniciada em 1963 e aprofundada com a terapia ortodoxa aplicada pelo Governo Militar instalado em 1964: corte no gasto público, aumento da carga tributária, contenção de crédito e arrocho salarial. Seus resultados são conhecidos: aprofundamento da recessão, liquidação de pequenas e médias empresas, alargamento das margens ociosas das grandes empresas, queima de capitais excedentes, declínio da taxa de investimento das empresas públicas com penalização da indústria de bens de produção, desemprego e perda acelerada de salários de base.
Mas a reversão dos anos 1961-67 continha uma outra dimensão crítica: a da crise do padrão de financiamento, responsável pelas profundas reformas bancária, financeira e tributária promovidas pelo regime. “Diante da aceleração inflacionária, os mecanismos vigentes de financiamento perderam sua funcionalidade, sendo cada vez mais difícil manter os níveis de gasto público sem uma reforma tributária”. Por outro lado, “(…) o desenvolvimento da indústria de bens de capital e bens de consumo duráveis necessariamente impunha a criação de novos esquemas de criação de liquidez e financiamento, o que também exigia reformas profundas no sistema financeiro da época” (Serra, 1982, p. 32).
Tocava-se, então, em uma questão crucial. Como em outros momentos de nossa história econômica, a alteração das normas e instituições vinculadas ao dinheiro, ao crédito e ao financiamento aparecia associada a uma profunda crise do regime político, que levou à importante transformação do Estado. Assim ocorreu nos anos 60, quando foram redefinidas as regras do crédito e da intermediação financeira. Em 1964, realizou-se a reforma geral do sistema monetário-creditício e, em 1965, do sistema financeiro. Criaram-se ou redefiniram-se funções separadas para as financeiras, os bancos comerciais, os bancos de investimento, o mercado de capitais animado pelos fundos de investimento e o BNH. Uma vez mais tentou-se estimular a criação de um sistema financeiro privado nacional que tivesse um papel ativo no financiamento do desenvolvimento.
Os resultados são conhecidos. O sistema privado expandiu-se enormemente no cumprimento bem-sucedido das funções de criar crédito ampliado para as famílias na sua relação débito/crédito com as empresas e de intermediação financeira, mas fracassou completamente no cumprimento da função ativa de condutor do processo de monopolização do capital, articulando fusões de grupos e blocos capitalistas. Esta última e decisiva função, necessária à retomada expansiva do ciclo e à redefinição das relações público/privado na acumulação industrial brasileira, “(…) não foi efetivamente desenvolvida pelo sistema financeiro, senão que remetida à esfera do Estado, onde se processou de modo específico e incompleto” (Tavares, 1978, p. 141).
Nos capitalismos tardios, “(…) a abertura de novas fronteiras passou sempre pela mediação do Estado e pela expansão do subsistema afiliado (das empresas estrangeiras), o que impôs um caráter instável e limitado ao processo de monopolização do capital privado nacional” (Coutinho & Belluzzo, 1982, p.58).
Mas no caso brasileiro, o caráter limitado e instável da monopolização resultou em grande medida de constrangimentos políticos. E isto porque, se o setor privado remeteu ao Estado a função de centralização financeira – condição inevitável de qualquer industrialização pesada –, impediu que ela se realizasse plenamente, em nome de seu antiestatismo. Resultando daí uma dinâmica contraditória e impotente, como bem percebeu Maria da Conceição Tavares (1978, p. l42), ao caracterizar a função financeira do Estado na economia brasileira: “Não há dúvidas de que a função de aglutinação e gestão de grandes massas de recursos financeiros foi desenvolvida pelo Estado através de seus Fundos, Programas, Agências Financeiras. Entretanto, as instituições financeiras públicas cumpriram apenas o lado passivo da função financeira, isto é, o de aportar massas de capital, sob diversas formas, inclusive a de crédito subsidiado. Isto é, o sistema financeiro público não participou como sujeito do processo de monopolização do capital, que lhe foi exterior (…). Este aspecto é inteiramente distinto e específico e não deve ser confundido com o fato de que algumas empresas produtivas estatais, estruturadas na forma de organizações capitalistas autônomas, tenham sido agentes de monopolização” (setorial, agregaríamos).
Nesse sentido, “o Estado apenas ‘cumpriu o papel’ do capital financeiro, mas não realizou, neste ato, a constituição efetiva do capital financeiro como agente ativo do processo de centralização do capital” (Tavares, 1978, p. l42).
Sem que ocorresse, na década de 1960, uma verdadeira revolução no pacto conservador, o novo sistema financeiro criado com as reformas de Campos e Bulhões desenvolveu-se e diversificou-se, mas acabou não cumprindo a função de captação das aplicações dentro de prazos médios ou longos, enquanto o Estado, no cumprimento de sua função financeira “passiva”, buscou resguardar sua margem de manobra, recompondo logo à frente as tarifas, promovendo uma profunda reforma tributária em 1967/68, criando vários fundos de poupança compulsória e fazendo uso crescente do endividamento interno através de seus ativos financeiros recém-criados (a ORTN e a LTN), os quais se transformaram de imediato no instrumento básico de circulação financeira no mercado aberto de títulos, o open-market, garantidos como instrumentos de mobilização financeira através da correção monetária.
Criada para proteger o valor dos títulos dos efeitos inflacionários, assegurando taxas de juros positivas, a correção monetária gerou uma “duplicidade de dinheiro”, o monetário e o financeiro, “(…) refletindo a separação das funções do dinheiro enquanto meio de pagamento, instrumento geral de crédito e instrumento de reserva e valorização financeira do capital” (Tavares, 1978, p. 146). “Criaram-se assim dois sistemas de medida para o dinheiro: um elástico que permitiu sua desvalorização progressiva através do movimento dos preços, e outro rígido, ‘arbitrária’, submetida à correção monetária que determina o seu valor legal” (Tavares & Belluzzo, 1982, p. 134).
Com isso, ao tentar financiar-se mais à frente, pelos caminhos criados pelas reformas de 1969, o Estado acabou premiando a especulação com seus próprios títulos e afastando ainda mais o sistema financeiro privado dos investimentos produtivos. Perdendo, ademais, um de seus principais instrumentos de arbitragem e autofinanciamento: a inflação, ou desvalorização ativa e discriminada do dinheiro. Esse fenômeno se exponencia a partir de 1974 com o II PND, mas, sobretudo, a partir de 1979, quando o endividamento interno se associa perversamente com o endividamento externo e expande-se, visando agora apenas resgatar a dívida primária já emitida e dar conta dos desequilíbrios do Tesouro produzidos pela estatização progressiva dos passivos externos, conjunção responsável pelo deslanchamento de um processo autossustentado de especulação e aceleração inflacionária.
Com a atualização do dinheiro, pretendia-se “(…) através do controle da moeda ‘má’ evitar que a ‘boa’ se pervertesse, sem desconfiar que ambas estão casadas, indissoluvelmente, já que o negócio do dinheiro é um só, e é o negócio dos bancos. Sendo que por este caminho todo mundo acabou se convertendo em cortesão do ‘dinheiro financeiro’, fugindo do ‘mau dinheiro’ como das brasas, para reencontrar-se todos no caldeirão fervente da especulação e da desvalorização de todos os dinheiros. Pelo qual ficou-se sem liquidez monetária, nem liquidez financeira” (Tavares & Belluzzo, 1982, p. 138).
Esse efeito perverso foi exponenciado, porém, por outro mecanismo de financiamento gerado pelas reformas dos anos 60, que se transformou na marca indiscutível do novo surto de crescimento iniciado em 1968: o endividamento externo, o qual foi favorecido com a Lei nº 4.131, de 1964, que permitia o acesso direto ao crédito bancário externo das empresas estrangeiras instaladas no Brasil, e com a Resolução nº 63, de 1965, do Conselho Monetário Nacional, que fez do sistema bancário nacional o intermediário entre o crédito em moeda no Exterior e os tomadores domésticos.
Usufruindo da nova ordem monetária internacional gerada pela transnacionalização dos bancos privados, ocorrida a partir da segunda metade dos anos 60, o Estado autorizou, através daquela legislação, “(…) uma guinada na direção da abertura para o exterior, criando as condições para uma efetiva articulação entre os bancos nacionais e os internacionais, partilhando também com esses últimos o privilégio de gerar moeda e crédito internamente” (Assis, 1988, p. 28).
Foi por essa porta, aberta em 1964, que se expandiu o endividamento dos anos 70, feito a taxas de juros flutuantes, como forma de financiar o II PND. Dívidas que puderam ser estatizadas a partir da Resolução nº 432, de 1977, e acabaram minando o coração financeiro do Estado desenvolvimentista, como consequência do choque de juros ocorrido em 1979.
Ao partilhar com o sistema financeiro internacional o privilégio de gerar moeda e crédito internamente e estimular a tomada de créditos forâneos, primeiro por parte do setor privado e depois do setor público, a política econômica tomou o Estado vulnerável frente aos choques de petróleo e dos juros internacionais. E, ao implementar uma política de “ajustamento” do balanço de pagamentos através da estatização da maior parte da dívida externa, deu início a um processo de encilhamento financeiro que é hoje o grande responsável pela multiplicação exponencial da dívida externa e do déficit público, pela degradação progressiva da infraestrutura econômica e dos serviços públicos e pela mais completa paralisia da política econômica.
Brevíssimas conclusões
As teses centrais deste artigo são que a importância decisiva do Estado não é suficiente para especificar nossa industrialização e que nossa industrialização tampouco se encaixa no que ficou conhecido como modelo prussiano de modernização conservadora. Nessa direção, as frustrações de Vargas e a hecatombe gerada pelo sucesso do II PND de Geisel serviram-nos como conjunturas privilegiadas para desnudar compromissos e instituições que individualizam nosso desenvolvimento através de um padrão de financiamento internacionalizado e uma política econômica esquizofrênica permanentemente dividida entre uma regulação monetária ortodoxa e uma política creditícia desenvolvimentista.
O peso do antiestatismo embutido no pacto conservador e de sua estratégia econômica liberal e ao mesmo tempo desenvolvimentista, vigente desde os anos 1930 e reposta nos anos 1960, afetou toda a ação estatal, atingindo sua própria institucionalidade, em particular quando se tratava da administração da moeda e do crédito ou do financiamento em geral. Não parece acidental, nesse sentido, o conflito permanente que, através de nossa história, opôs os dois segmentos da administração pública responsáveis por aquelas funções; nem que o controle da moeda fosse sempre reivindicado e entregue aos “liberais ortodoxos” ligados, em geral, ao setor financeiro e empenhados em restringir o grau de arbitragem político-estatal sobre o valor da moeda fiduciária, enquanto a política de investimento ficava na mão dos “desenvolvimentistas”, civis ou militares, sendo que o exercício da parte financeira, entregue ao Estado ainda quando gerido pelos “desenvolvimentistas”, foi permanentemente limitado e coagido à “externalização”, como forma, entre outras coisas, de não sobrecarregar a lucratividade interna.
Como consequência disso, o Estado, ao substituir o setor financeiro privado, mantendo-se dentro de limites impostos pelas reformas dos anos 1960, acabou alimentando, nos anos 1980, através do seu endividamento, uma forte especulação improdutiva e um encilhamento financeiro que desorganizou completamente a “via desenvolvimentista” de industrialização. Por outro lado, submetido à pressão cartorial dos vários e heterogêneos segmentos do pacto conservador, o Estado “privatizou-se” ao lotear seus aparelhos institucionais entre os vários setores dominantes e ao sustentar segmentos pouco competitivos do setor privado.
No final de uma longa trajetória, fazia-se mais explícito o que foi sempre, num só tempo: a força e a fragilidade do Estado desenvolvimentista brasileiro quando comparado ao Estado prussiano. Foi forte enquanto arbitrou com certa autonomia o valor interno do dinheiro e dos créditos. Mas foi fraco toda vez que quis ir além dos limites estabelecidos pelos seus compromissos constitutivos. Movendo-se sempre sobre o fio da navalha de uma aliança conservadora e de uma estratégia econômica “liberal-desenvolvimentista”, acabou sucumbindo às contradições que o moveram e instabilizaram constantemente.
Premido entre a necessidade de comandar a “fuga para frente” necessária à soldagem de um conjunto extremamente heterogêneo de interesses e a necessidade de se submeter ao veto que esses mesmos interesses faziam à “estatização”, propiciou, por um lado, a ordem, os subsídios, os insumos e a infraestrutura, sendo impedido, por outro, de realizar a monopolização e a centralização financeira. Foi a manutenção das regras desse pacto que, segundo nosso ponto de vista, obrigou o endividamento responsável pela forma financeira da crise vivida nos anos 1980 pelo Estado desenvolvimentista.
Vargas e Geisel, nesse sentido, confirmam a hipótese de John Zysman (1983, p. l6) de que “(…) um exame das estruturas financeiras nacionais possa iluminar as estratégias e os conflitos políticos que acompanham o ajustamento industrial”‘. Com Vargas, fez-se a opção que Geisel levou às últimas consequências: uma industrialização pesada feita com o decisivo aporte do capital internacional. No período entre um governo e outro, as forças produtivas amadureceram, e as relações capitalistas se generalizaram. As bases materiais da indústria foram finalmente constituídas, mas seu suporte institucional e financeiro fez desse um processo fortemente descontínuo e altamente sensível às reversões cíclicas e às trepidações financeiras internacionais.
A inexistência de uma verdadeira e solidária associação entre o empresariado e o Estado e a postura predominantemente predatória do primeiro com relação ao segundo impediram a centralização e aceleraram a segmentação dos recursos e do poder estatal, fazendo o Estado brasileiro “(.,.) parecer-se muito mais com uma caricatura da destruição criadora de Schumpeter, do que com sua admirável máquina de crescimento” (Tavares, 1985, p. 116).
Vargas naufragou porque lhe faltou o apoio interno “prussiano” em 1939. E fracassou porque não obteve o apoio externo “associado” em 1953. Voltou-se então para o povo e atacou os interesses “forâneos”. Deixou montada uma máquina institucional e um pacote de projetos extremamente úteis para a industrialização posterior. Mas, apesar de tudo, não conseguiu fugir a uma política macroeconômica conservadora e contracionista.
Geisel teve um enorme sucesso na obtenção do financiamento privado externo e deixou montada uma extraordinária máquina produtiva estatal bem como o sonho de uma Nação-potência. Mas, mesmo assim, teve que se submeter a uma rigorosa, ainda que oscilante, política macroeconômica monetarista, que, instigada pela inflação e pelo desequilíbrio do balanço de pagamentos, estimulou, até o limite, o endividamento externo em, que todos, unidos, se afundaram mais à frente. Deixou como herança de seu sucesso a forte suspeita de que esse Estado não foi montado com vistas a uma industrialização pesada, mas como objeto de desfrute cíclico generalizado. Desfrute na predação, quando as coisas vão bem, e na socialização das perdas, quando as coisas vão mal.
Em síntese, Vargas e Geisel põem-nos frente a um Estado que não pôde funcionar como aglutinador do processo de monopolização e centralização de capital necessário a uma industrialização pesada e auto-sustentada. Mas põem-nos, igualmente, frente ao paradoxo de que a monopolização e a centralização privadas tampouco ocorreram de maneira contínua e homogênea, devido à dependência dos empresários frente a esse mesmo Estado que entrevaram.
É sobre esse pano de fundo que se ressalta a natureza “paroxista” dos debates ideológicos que acompanharam a trajetória do Estado desenvolvimentista e se intensificaram em cada uma de suas crises. Nacionalismo versus cosmopolitismo, estatismo versus liberalismo e “contracionismo” versus desenvolvimentismo são, e sempre foram, clivagens táticas, só adquirindo dimensões ideológicas e estratégicas na cabeça de intelectuais militantes, de alguns militares e de pouquíssimos empresários. Nos momentos de expansão e “fuga para frente”, com inflação estável, gasto público equilibrado e crescimento, todos estiveram juntos, e o debate arrefeceu. Mas o consenso desfez-se sempre e regularmente em todas as reversões cíclicas, acompanhadas de aceleração inflacionária e aumento do déficit público. Nos primeiros momentos, agigantava-se a face desenvolvimentista, ainda que levasse atrelada uma parafernália cartorial.
Nos outros, reacendiam-se periodicamente a ira antiestatal e a força dos “liberais”, ainda que o Estado seguisse sendo cobrado em sua “obrigação” de “socializar” as perdas próprias da crise. Sendo que, se na expansão os salários se dispersaram, na crise, como parte das políticas de estabilização, pagaram irremediavelmente o preço do “arrocho” e dos inevitáveis aumentos da carga tributária, destinados a sustentar o gasto corrente e a financiar a socialização das perdas. Só que, na crise dos anos 80, se somou a tudo isso a falência do Estado.
Nesse jogo, excluídos alguns sonhadores prussianos, as ideias estiveram permanentemente a serviço das táticas mais do que das estratégias, da “liquidez” mais do que da produção, ou seja, perfeitamente no seu lugar: o das crises brasileiras.
*José Luís Fiori é professor do programa de pós-graduação em economia política internacional da UFRJ. Autor, entre outros livros, de Brasil no espaço (Vozes).
Publicado originalmente na revista Ensaios FEE – Fundação de Economia e Estatística, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 11, (1):41-61, 1990.
Referências
ASSIS, José Carlos (1988). Análise da crise brasileira. Rio de Janeiro, Forense.
BELLUZZO, L. G. & COUTINHO, R., org. (1982). Desenvolvimento capitalista no Brasil: ensaios sobre a crise. São Paulo, Brasiliense. v.2.
CASTRO, Antônio Barros de (1985). Ajustamento X transformação: a economia brasileira de 1974 a 1984. In: CASTRO, Antônio Barros de & SOUZA, Francisco Eduardo Pires de. A economia brasileira em marcha forçada. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
COUTINHO, L. G. & BELLUZZO, L. G. (1982). Reflexões sobre a crise atual. In: BELLUZZO, L. G. & COUTINHO, R., org. Desenvolvimento capitalista no Brasil: ensaio sobre a crise. São Paulo, BrasiHense.
DRAIBE, S. M. (1980). Rumos e metamorfoses: um estudo sobre a constituição do Estado e alternativas da industrialização no Brasil, 1930-1960. São Paulo. (Tese de Doutoramento).
ENGELS, F. (1951). La revolution democratique bourgeoise en Allemagne. Paris, Sociale.
— (1980). Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo, Alfa-Omega. (Obras escolhidas, 2).
FIORI, J. L. (1984). Conjuntura e ciclo na dinâmica de um Estado periférico. São Paulo, USP. (Tese de Doutoramento).
GERSHENKRON, A. (1952). Economic backwardness in historical perspective. In: HOSSELITZ, B. The progress underdeveloped areas. Chicago, Chicago University.
JORNAL DO BRASIL (28.05.88). Rio de Janeiro.
LÊNIN, V. I. (1980). O Programa Agrário da Social Democracia na Primeira Revolução Russa de 1905-1907. São Paulo, Ciências Humanas. (Revolução Histórica e Política).
LESSA, Carios (1978). A estratégia e desenvolvimento – 1974/1976: sonho e fracasso. Rio de Janeiro. (Tese para concurso de professor titular, UFRJ).
LESSA, Carlos & DAIN, S. (1982). Capitalismo associado: algumas referências para o tema Estado e desenvolvimento. In: BELLUZZO, L. G. & COUTINHO, R., org. Desenvolvimento capitalista no Brasil: ensaio sobre a crise. São Paulo, Brasiliense.
MOORE, Barrington (1973). Las origines sociales de la dictadura y de la democracia. Barcelona, Ed. Península.
SERRA, J. (1982). Ciclos e mudanças estruturais na economia brasileira pós-guerra. Revista de Economia Política, São Paulo, 2,1(6):546, abr./jun.
TAVARES, M. da C. (1978). Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira. Rio de Janeiro. (Tese para concurso de professor titular, FEA/IFRJ).
— (1985). Acumulação de capital e industrialização no Brasil. Campinas, UNICAMP.
TAVARES, M. da C. & BELLUZZO, L. G. de M. (1982). Notas sobre o processo de industrialização recente no Brasil. In; BELLUZZO, L. G. & COUTINHO, R., org. Desenvolvimento capitalista no Brasil. São Paulo, Brasiliense.
ZYSMAN, John (1983). Governments markets and growth; financial systems and the politics of industrial change. /s.l./ Cornell University.