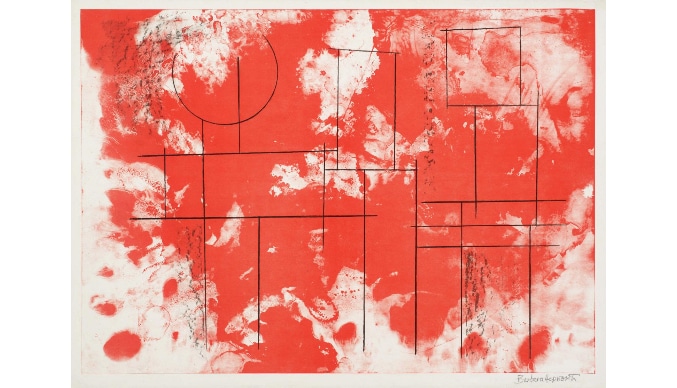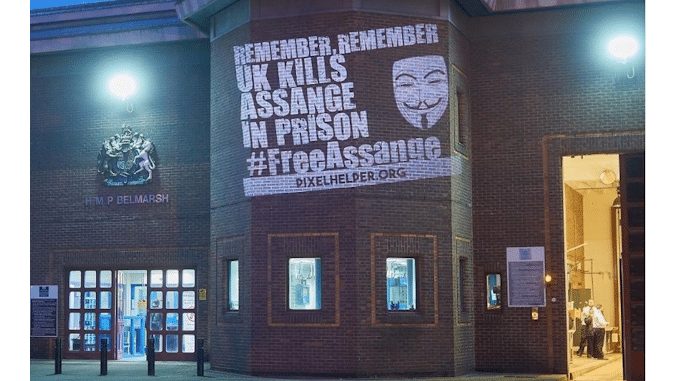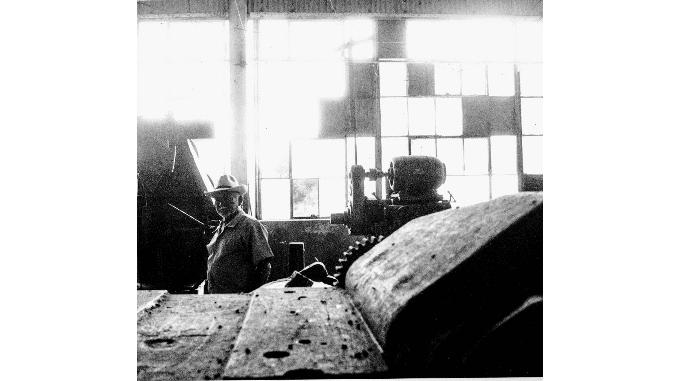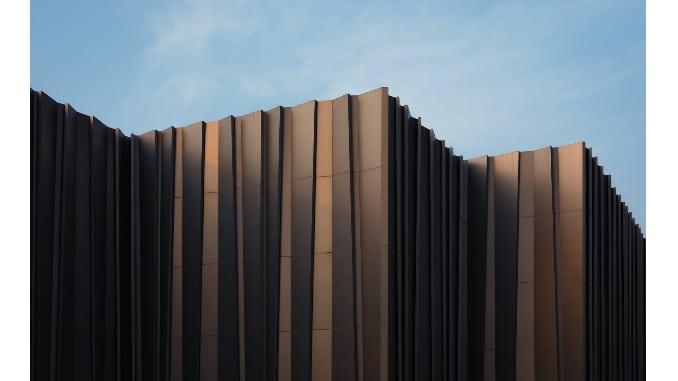Por RICARDO ABRAMOVAY*
Comentário sobre o livro recém-lançado de José Eli da Veiga
É flagrante o desconsolo de David Hume em sua célebre obra Investigação sobre o entendimento humano, publicada em 1748, diante do contraste entre a simplicidade, a clareza e a determinação das ciências matemáticas quando comparadas à imprecisão e à ambiguidade da filosofia moral.
Por maior que tenha sido o empenho do pensamento ocidental em reduzir este abismo, a verdade é que, quase 300 anos após a constatação de David Hume, os estudos sobre os comportamentos humanos e aqueles voltados à compreensão do mundo natural enclausuram-se, na esmagadora maioria das vezes, em compartimentos separados. E, como afirma o físico francês Étienne Klein em seu mais recente livro Courts-circuits (Gallimard), “decompondo-se excessivamente as coisas, tira-se delas a vida”.
A sociologia do século XX transformou em virtude o vício desta separação. É assim que, para Émile Durkheim, por exemplo, “o social explica o social”. Max Weber faz questão de distinguir a sociologia da psicologia, insistindo que mesmo quando se trata de estudar as intenções da ação humana, é nas relações sociais que se encontram suas fontes e o que interessa no mundo interior dos indivíduos
Em 1959, o britânico C. P. Snow deu o título de Duas culturas à sua conferência em Cambridge sobre as relações entre “sciences” e “humanities“, constatando o fosso nos procedimentos, nos métodos e no que pode ser chamado de ethos destas duas vertentes do conhecimento.
Mais que uma postura metodológica, esta separação reflete a soberba de se tratar o ser humano como “metafisicamente isolado”, para usar a expressão de Hans Jonas em O princípio vida: fundamentos para uma biologia filosófica (Vozes).
Nos últimos 40 anos, este quadro foi se alterando em função da importância dos problemas socioambientais contemporâneos e da evidência de que seu estudo exigiria um processo inédito de colaboração entre cientistas de diferentes áreas.
O primeiro relatório da Nasa sobre a destruição da camada de ozônio atmosférica foi elaborado – ao início dos anos 1980 – com a participação exclusiva de especialistas das ciências naturais. Desde então, cresce e torna-se cada vez mais importante a presença de pesquisadores das ciências do homem e da sociedade nos ambiciosos relatórios referentes às mudanças climáticas, à erosão da biodiversidade ou à poluição, vindos de organizações multilaterais públicas, privadas e associativas.
Os apelos em direção à interdisciplinaridade ou mesmo à transdisciplinaridade multiplicaram-se não só no trabalho de cientistas do calibre de Edward O. Wilson, mas também foram objeto de obras monumentais como a de Edgar Morin, e de iniciativas globais, como as lideradas pela Unesco.
Mas os avanços obtidos por esse gigantesco esforço não parecem ter reduzido a distância entre as duas culturas. O mais recente livro de José Eli da Veiga não se limita a expor o estado da arte neste tema estratégico para o desenvolvimento sustentável.
Ele elabora uma hipótese ousada sobre as razões que continuam colocando “sciences” e “humanities” em edifícios institucionais que, é verdade, se abrem para a cooperação conjunta, mas continuam representando mundos separados. E esta hipótese não se apoia em tratados de lógica, de filosofia da ciência ou de metodologia.
É a obra de Charles Darwin (1809-1882) que permite ir além daquilo que o conhecimento contemporâneo não cessa de oferecer em blocos estanques. A explicação da importância do pensamento de Charles Darwin (já apresentada em livros anteriores de José Eli da Veiga e nas conversas darwinianas que ele anima no Instituto de Estudos Avançados da USP) e as dificuldades que se opõem a sua aceitação na comunidade científica (e não só entre os expoentes das humanidades) tornam O Antropoceno e as humanidades um livro fascinante.
Em vez de fazer apelos à cooperação transdisciplinar, ao desprendimento e à boa vontade dos especialistas, o livro de José Eli da Veiga apresenta uma teoria e um método que, embora elaborados no século XIX, permanecem ignorados pela maior parte da comunidade científica global da atualidade.
Um tema que dificilmente poderia ser mais árido é levado ao leitor com uma espécie de dramaticidade cujos atores são os que fizeram de Charles Darwin um apologista implacável da competição e que colaboraram para que desaparecesse de sua obra a contribuição mais relevante sob o ponto de vista científico (mas também político e, no limite, ético): a importância da cooperação e da sinergia nos processos evolutivos.
Para quem está acostumado com a ideia de que o “darwinismo” (termo que José Eli veementemente rejeita, pois não se trata de uma doutrina) é a explicação científica da capacidade de os mais fortes se imporem por meio de processos competitivos, afirmação cuja carga ideológica não poderia ser mais evidente, a leitura do livro de José Eli da Veiga vai abrir horizontes inéditos.
Os segmentos mais progressistas das humanidades embarcaram na interpretação reducionista sobre Charles Darwin baseada nos trabalhos de Herbert Spencer (1820-1903), o fundador do “darwinismo social” que se apoia na ideia de que a sociedade será tanto melhor quanto mais acelerado for o processo “natural” de eliminação dos mais fracos.
Foi muito influente também a leitura de Charles Darwin feita por seu primo Francis Galton (1822-1911), que preconizava nada menos que a eliminação dos mais fracos (ou seja, a eugenia) para auxiliar a seleção natural.
A grande exceção nesta visão cinzenta e cínica do trabalho de Darwin é a do russo Piotr Kropotkin (1842-1921), um dos expoentes do anarquismo, que viu no mutualismo o segredo da própria evolução.
Na primeira parte do livro, José Eli mostra o prejuízo causado pela ênfase excessiva nas interpretações da primeira obra de Charles Darwin, A origem das espécies (1859) e o abandono do livro que é seu complemento indispensável, A origem do homem (1871).
Nesta sua segunda grande obra, Darwin mostra que o processo civilizador, de certa forma, é a negação da seleção natural. A cooperação, a empatia, a propensão a cuidar dos mais fracos (além do círculo familiar mais imediato) e as mudanças rápidas inerentes à própria cultura determinaram o surgimento e a evolução da civilização.
A origem do homem é, na expressão de um dos vários autores citados no livro, a “metade faltante” de A origem das espécies. “Foram instintos sociais”, diz Darwin, “que proporcionaram o desenvolvimento moral”. Mesmo em A origem das espécies, contudo, há uma imbricação entre processos competitivos e processos cooperativos na própria natureza. O exemplo não está apenas nas espécies sociais como as formigas e as abelhas, mas igualmente no mundo vegetal, como bem mostram os trabalhos recentes sobre a comunicação estabelecida entre as árvores de uma floresta.
No entanto, é em A origem do homem que Darwin enfatiza o papel decisivo da cooperação e das instituições humanas como parte do processo evolutivo. O livro de José Eli tem início com uma cronologia sob a forma de um edifício representando os 13,2 bilhões de anos que vão do Big Bang até agora.
Dizer que a humanidade é o resultado deste processo evolutivo significa que não há ruptura entre o surgimento do planeta, a emergência da vida, a aparição da humanidade e a da civilização. É na leitura dos dois livros de Darwin que se encontram as bases teóricas que permitem superar a dicotomia entre natureza e sociedade, e por aí fazer jus à clássica tirada de Blaise Pascal: “O homem não é o único animal que pensa. Entretanto é o único que pensa que não é um animal”.
É com base nesta recuperação do que há de mais fértil no pensamento de Darwin que José Eli examina as duas mais importantes tentativas de escapar da compartimentação científica nos estudos socioambientais: o sistema-terra e a ciência da sustentabilidade.
O diagnóstico é claro: ao apresentar de forma didática a síntese da gigantesca bibliografia sobre o tema, José Eli mostra que a ciência da sustentabilidade, apesar de sua ambição em romper com os muros das disciplinas isoladas, não se apoia, ao menos até agora, em uma teoria suficientemente robusta. Na visão do autor, são as ciências da complexidade que podem oferecer as bases de uma verdadeira teoria da sustentabilidade.
O vínculo entre os processos evolutivos e a teoria da complexidade serve como antídoto a duas ideias politicamente paralisantes. A primeira é a que saúda a chegada do Antropoceno como uma espécie de bênção com que a inteligência humana, a ciência e a tecnologia acolhem a humanidade com a certeza de que sua trajetória só poderá ser construtiva e ascendente.
Dar as boas-vindas ao Antropoceno é uma expressão desta atitude intelectual, bem como exaltar o amor que se deve às máquinas (ou como diria Bruno Latour, aos nossos monstros). Examinar os processos evolutivos à luz da complexidade abre caminho a uma reflexão crítica sobre o lugar da ciência e das técnicas e não a sua exaltação, por mais importante que sejam, é claro, ciência e tecnologia para o desenvolvimento humano.
A segunda ideia paralisante contra a qual a obra de Darwin é uma vacina é aquela segundo a qual a natureza competitiva dos comportamentos humanos não tem como conduzir o Antropoceno a outro destino que não seja a destruição.
A passagem da humanidade à civilização se apoia nas vantagens evolutivas expressas nas instituições e nos sentimentos que derivam da cooperação. Isso não significa, evidentemente, ignorar as estruturas sociais e os interesses econômicos que dirigem as sociedades contemporâneas para a crise climática, a erosão da biodiversidade, a poluição e o avanço das desigualdades. Mas abordar estes problemas à luz do vínculo entre evolução e complexidade evita que se tome como fatalidade incontornável aquilo que pode ser transformado por movimentos e forças sociais, técnicas e naturais de cuja interação é absurdo imaginar que se possam prever os resultados.
Enriquecer os laços entre o Antropoceno e as humanidades com as teorias que examinam a evolução à luz da complexidade adquire assim importância política fundamental, por se opor tanto à cândida visão de que a humanidade sempre é capaz de enfrentar de forma construtiva seus desafios como ao ceticismo e ao cinismo daqueles que já sabem desde hoje que o futuro só pode nos reservar o pior.
*Ricardo Abramovay é professor titular da Cátedra Josué de Castro da Faculdade de Saúde Pública da USP. Autor, entre outros livros, de Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável (Elefante).
Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo [https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2023/06/livro-busca-em-darwin-forma-de-romper-separacao-entre-natureza-e-sociedade.shtml].
Referência
José Eli da Veiga. O Antropoceno e as humanidades. São Paulo, ed. 34, 2023, 208 págs (https://amzn.to/3YyHt0y).
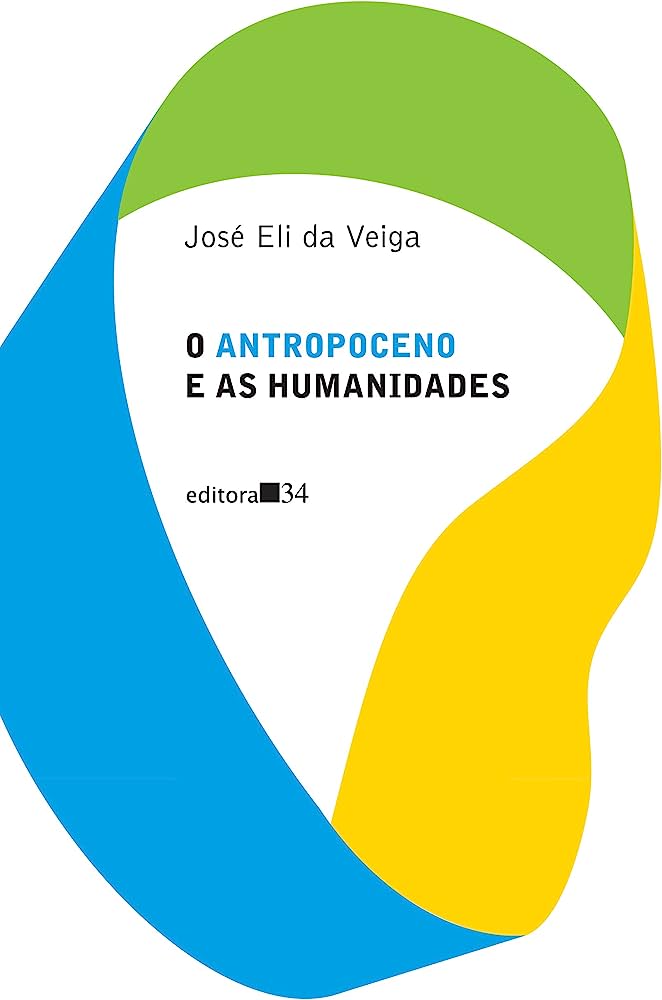
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA