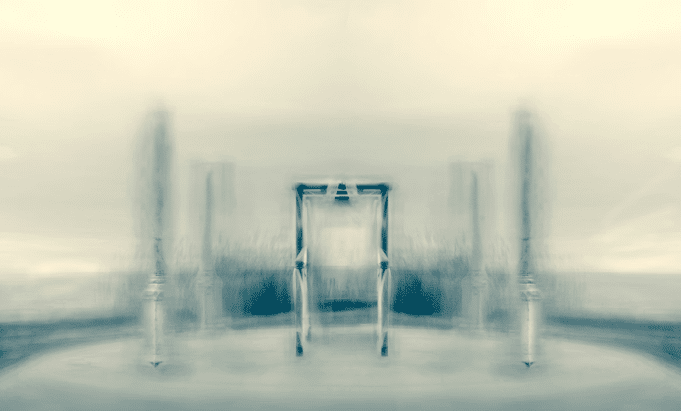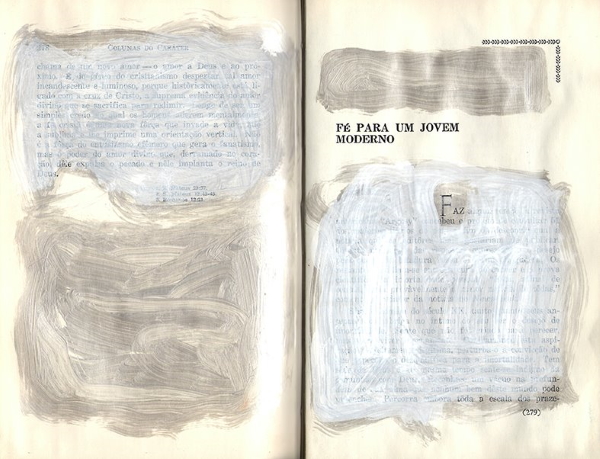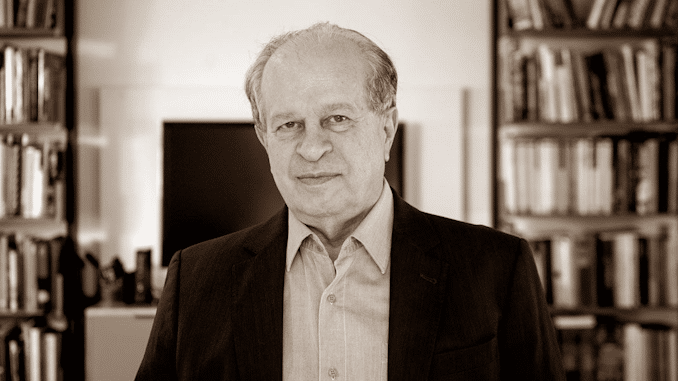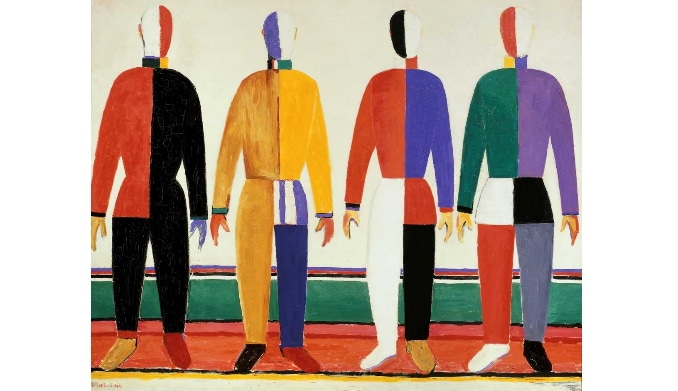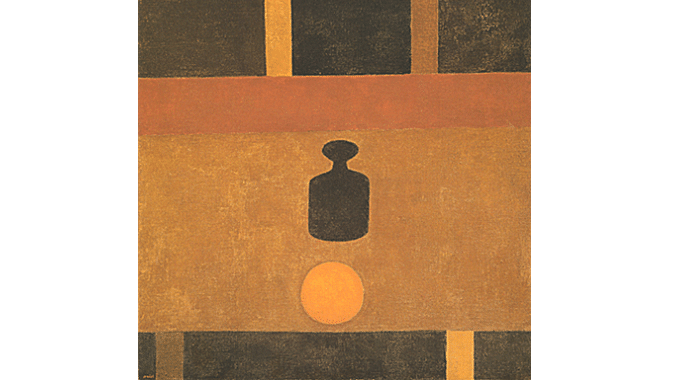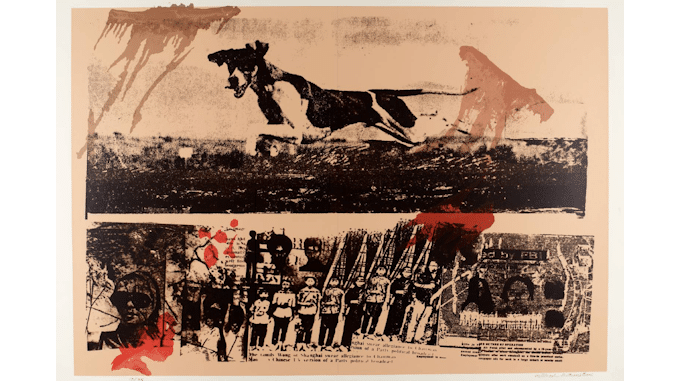Por FABRÍCIO MACIEL*
O trabalho precário como um trabalho “socialmente desqualificado”, portanto, indigno
Um espectro ronda a maioria da população global atual e já afeta grande parte dela. Trata-se do espectro da indignidade. Desde minha pesquisa de mestrado, com lavadores de carro, me deparei com uma das questões mais intrigantes de minha vida e que de alguma forma me levou a todos os meus estudos posteriores. Ao observar as péssimas condições de trabalho daqueles homens materialmente pobres, em sua maioria negros, logo me veio à mente aquele velho ditado que nos diz que “todo trabalho é digno”. A partir de leituras como as de Axel Honneth e Charles Taylor, com suas conhecidas teorias sobre o reconhecimento social, bem como da obra de Jessé Souza, sobre a subcidadania brasileira, cheguei rapidamente à conclusão de que não poderia haver nas sociedades modernas um ditado mais falacioso do que este.
Naquela pesquisa, percebi que os lavadores de carro, praticamente um tipo ideal do que a sociologia do trabalho chama de trabalhadores precários, além de realizarem um tipo de trabalho que desde então passei a definir como “indigno” (MACIEL, 2006), também experienciavam, como consequência, uma condição social e existencial indigna. Com isso, procurei definir o trabalho precário como um trabalho “socialmente desqualificado”. Os motivos disso devem-se às razões e às dinâmicas sociais que determinam o status do trabalhador indigno. No plano da economia, todos os autores que analisei aqui neste livro, cuja segunda edição revisada apresento agora ao público, são unânimes na compreensão de que o aumento do trabalho precário, que proponho chamarmos de indigno, é a grande marca de um novo capitalismo global desde a fragmentação do Welfare State europeu na década de 1970.
No plano da moralidade, que atribui significado a vida social, precisamos compreender os acordos que, a partir da desigualdade econômica, determinam e legitimam o status do trabalho indigno e consequentemente da indignidade existencial. Proponho chamarmos o trabalho precário de “indigno” por uma razão muito simples: as noções de “precariedade” e de “trabalho precário” já se encontram entre aqueles conceitos elásticos que parecem dar conta de toda a realidade de maneira evidente. Eles são utilizados exaustivamente por grande parte da sociologia do trabalho global e brasileira como se explicassem por si mesmos as razões estruturais e os prejuízos subjetivos do tipo de trabalho que procuram definir. Na verdade, as noções de precariedade e trabalho precário apenas descrevem situações, condições e relações de trabalho ruins.
Por outro lado, a ideia de trabalho indigno procura resolver dois problemas. Primeiro, remete-nos às condições e situações de trabalho que, no dia a dia, colocam em xeque boa parte do que consideramos como “dignidade humana”. No caso dos lavadores de carro, situação facilmente generalizável analiticamente para outros perfis de trabalhadores indignos, sua exposição física nas ruas, bem como a natureza em si de um trabalho fisicamente exaustivo, ameaça sua preservação física e moral. É difícil imaginar um alto executivo, objeto de minhas pesquisas atuais, andando sem camisa e carregando baldes de água no meio do centro de uma grande cidade. Sua integridade moral, ou seja, sua dignidade, estaria obviamente ameaçada. É exatamente o que acontece com nossos trabalhadores indignos.
O segundo problema a que somos remetidos com o conceito de trabalho indigno tem a ver com a condição de instabilidade e vulnerabilidade material à qual estas pessoas estão permanentemente expostas. A ausência de um salário fixo e de vínculos empregatícios estáveis coloca em xeque a possibilidade de suprimento das necessidades materiais mais básicas. Como consequência, o que está em jogo, em nossa sociedade meritocrática, é a capacidade individual de prover a si mesmo o mínimo necessário para uma boa vida, material e moral.
Também procurei definir o trabalho indigno como sinônimo de trabalho socialmente desqualificado, no sentido que, para além da desqualificação formal, derivada da ausência de diplomas, certificados e saberes reconhecidos como socialmente úteis, este tipo de trabalho é moralmente desqualificado através de estigmas intersubjetivos. Com isso, quero dizer que o significado de cada ocupação na divisão social do trabalho depende do confronto intersubjetivo entre elas, ou seja, do significado que cada sociedade atribui à sua hierarquia moral. Esta dinâmica social depende diretamente do grau de desigualdade econômica vivido por cada sociedade nacional. É nesta dinâmica intersubjetiva que cada ocupação relacionalmente recebe seu status diferenciado. Neste sentido, quem melhor compreendeu a relação entre status, poder e prestígio foi Wright Mills, em seus clássicos estudos sobre a nova classe média e a elite nos Estados Unidos dos anos de 1950 (MILLS, 1975, 1976).
Ou seja, em uma sociedade de desigualdade econômica grave como a brasileira (ou a mexicana, ou qualquer outra semelhante), um alto executivo possui um valor social infinitamente superior a um lavador de carros. É na própria dinâmica da vida social cotidiana, no confronto relacional entre as ocupações que seu prestígio, poder e status se determinam mutuamente. Quero dizer que, em uma sociedade como a brasileira, cuja marca sempre foi o abismo estrutural entre as classes, um alto executivo é considerado por sua família, por seus vizinhos, por seus colegas e por si mesmo como um “super-homem”, um grande vencedor que, depois de muito empenho pessoal, cumpriu todas as regras do acordo meritocrático e por isso merece todo o prestígio e reconhecimento. Por outro lado, um humilde lavador de carros é considerado um derrotado, alguém que não se esforçou o suficiente, que não desejou ir além. Inclusive, eles mesmos pensam isso de si próprios, como infelizmente constatei em minhas pesquisas, ou seja, internalizam os acordos morais de sua sociedade.
Já em minha pesquisa de doutorado, origem da tese e do livro que o leitor tem agora em mãos, procurei avançar com o debate sobre a sociedade do trabalho por outro caminho. Um pouco do making off de minha experiência de doutorado talvez ajude a compreender o movimento empírico e teórico que deu origem à tese e ao consequente livro. Durante o doutorado, fui realizar uma estadia de sanduíche na Alemanha, na bela cidade de Freiburg, como bolsista DAAD/CAPES, no ano de 2011. Quando chego à Alemanha, as coisas que mais me impressionam são a infraestrutura e a qualidade de vida da população, mesmo sabendo, através da teoria, que o aumento do trabalho indigno já era uma realidade por lá. Naturalmente, não pude deixar de ver a indignidade dos moradores de rua, expressivos em números, especialmente em estações de trem e metrô de grandes cidades como Berlim e Stuttgart.
Quando chego a Freiburg, no sul da Alemanha, tenho contato com a obra do professor Uwe Bittlingmayer, um crítico de Bourdieu, estudioso de teoria crítica e do tema da sociedade do conhecimento. Estes aspectos, combinados, foram a razão de nossa aproximação acadêmica e intelectual. Em seu grupo de estudos, tive contato com a discussão sobre a economia do conhecimento, além do tema da sociedade do conhecimento. Isso acabou gerando um dos capítulos deste livro, exatamente por minha constatação de que o conhecimento científico, tecnológico e especializado se tornou uma força social ambígua do novo capitalismo globalizado, como procurei mostrar.
Paralelamente, o autor que mais me marcou, naquele período, foi Ulrich Beck, o que é evidente no livro. O que mais chama a atenção em sua obra é seu tom provocativo e sua ambiguidade. Ulrich Beck é sem dúvida o maior sociólogo alemão de sua geração, o que se reflete em sua atuação e influência na esfera pública alemã e europeia. Para meus objetivos, a parte mais produtiva de sua obra foi sua crítica ao nacionalismo metodológico (MACIEL, 2013), à qual dediquei não por acaso o primeiro capítulo do livro, que abre toda a discussão. Isto se deve ao fato de que, assim que cheguei à Europa, uma das primeiras coisas que pensei foi que eu precisava de alguma forma enfrentar a relação atual entre o centro e a periferia do capitalismo. Para tanto, seria necessário deixar de pensar nas sociedades do trabalho no plural, como se cada uma fosse responsável por seu próprio destino e culpada por seus próprios erros. Paralelamente, a leitura de autores como Wallerstein já deixava clara a urgência de se pensar criticamente em um sistema-mundo, no qual centro e periferia são peças que se encaixam assimetricamente em uma só engrenagem.
Voltando a Ulrich Beck, sua obra se tornou importante para este debate por conta de seu envolvimento, a partir da década de 1990, com o tema do trabalho, depois de suas conhecidas teses sobre a sociedade de risco e a modernidade reflexiva. Para mim, sua obra mais provocante e ambígua foi seu livro Schöneneue Arbeitswelt[i](BECK, 2007), no qual ele lança sua conhecida tese da “brasilização do Ocidente”, à qual dediquei uma crítica, no capítulo 4. Concentrei minha crítica a esta tese por uma série de razões. Primeiro, porque Ulrich Beck é o autor europeu mais corajoso e provocativo que li. Ele explicita com todas as letras um europeísmo no qual muitos intelectuais acreditam, porém poucos assumem. Sua obra é ambígua porque é crítica da desigualdade social dentro dos limites do imaginário social europeu.
No que diz respeito ao tema do trabalho, ela apresenta a novidade e a vantagem de tentar pensar a periferia, no referido livro, o que ocorre depois de uma visita ao Brasil, que o deixa apavorado diante da dimensão estrutural de nosso trabalho indigno. Daí advém o cerne de sua tese: a Alemanha e a Europa estariam se “brasilizando” com o aumento sem precedentes do trabalho informal e precário. Ainda que descritivamente sua análise esteja correta, seu problema interpretativo e consequentemente político reside no fato de ignorar o sistema global que produziu a condição estrutural do trabalho indigno em países como o Brasil, problema este que apenas agora, ainda de maneira conjuntural, com o fracasso do Welfare State, afeta países centrais como a Alemanha. Daí a minha crítica de que ele mesmo não escapa do nacionalismo metodológico que procurou criticar em outras ocasiões.
Outro autor importante nesta discussão é Claus Offe, por seu conhecido questionamento acerca da centralidade da categoria trabalho para a teoria social contemporânea. Procurei reconstruir sua discussão para além da simples questão sobre se vivemos ou não em uma sociedade do trabalho. Sua questão é que o trabalho não oferece mais integração social às sociedades europeias como ofereceu ao longo dos 30 anos dourados do Welfare. O que podemos fazer a partir disso, tarefa que passa longe do autor, é questionar se o trabalho em algum momento já ofereceu integração social em sociedades periféricas como a brasileira. Além disso, resta pensar qual seria a noção de trabalho viável para tematizar as mudanças atuais tanto no centro quanto na periferia do capitalismo. Conforme já argumentado, prefiro o conceito de trabalho indigno, em lugar das elásticas noções de precariedade e trabalho precário, largamente utilizadas de forma quase natural por grande parte da literatura sobre o tema.
Por fim, o último autor decisivo para a discussão que realizei no livro foi Robert Castel. Ele é sem dúvida o mais crítico dos autores aqui discutidos, por não abandonar nem banalizar a ideia de sociedade do trabalho. Castel realiza uma reconstrução genealógica de grande fôlego sobre o que batizou como “sociedade salarial”, cujo ápice foi o Welfare State de países como França e Alemanha. A grande importância de sua empreitada reside na compreensão do significado positivo de uma sociedade na qual a maioria das pessoas possui um vínculo estável de trabalho e um salário garantido. Ou seja, uma sociedade na qual o trabalho digno foi garantido para a maioria da população, sendo sua base econômica e moral mais fundamental. Com a falência do Welfare, Castel vai fazer o diagnóstico de um processo de “desfiliação social”, com o qual o mercado vai expurgar um número crescente de pessoas sem criar possibilidades de reinserção. Com isso, temos uma crescente “zona de vulnerabilidade” no capitalismo, na qual se encontram os “descartáveis” e desfiliados sociais, ou seja, o que Jessé Souza vai definir no Brasil como “ralé”.
Castel está obviamente falando da condição de indignidade à qual me referi no início. Ele usa termos como vulnerabilidade e descartabilidade, além do termo precariedade, para falar desta realidade que prefiro chamar de “indignidade”. Richard Sennett (2015), por sua vez, vai falar no “fantasma da inutilidade”, para se referir à mesma situação. Considero todos estes termos mais descritivos do que analíticos. Sugiro, em contrapartida, falarmos em uma condição ou um status negativo de indignidade, pois apenas com este termo conseguimos nos referir claramente aos prejuízos materiais e morais sofridos pelas pessoas que se encontram em tal situação. Em termos materiais, a noção de indignidade refere-se ao risco permanente e a situações reais nas quais o mínimo para a sobrevivência e o bem-estar físico não está garantido. Em termos morais, remete-nos aos estigmas objetivos, ao desrespeito e ao sentimento subjetivo de abandono, desespero e fracasso. As duas dimensões da indignidade determinam-se mutuamente.
Gostaria agora de fazer um esclarecimento importante. As primeiras versões da tese e do livro foram escritas entre os anos de 2011 e 2014, durante os governos do PT no Brasil, ou seja, em um contexto político diferente do que vivenciamos agora. Por isso, algumas partes do livro reproduziram o contexto da discussão sobre a ascensão de uma nova classe trabalhadora no Brasil (ou nova classe média, para alguns autores). Nesta 2ª edição, retirei ou modifiquei do texto original alguns trechos que de alguma forma reproduziam esta discussão sem obviamente poder prever o que aconteceria depois. Ou seja, uma parte da discussão precisa ser atualizada, considerando que um grande número dos “emergentes” do contexto anterior (quase 40 milhões de brasileiros), que haviam ascendido ao que se convencionou chamar de “classe C”, agora já retornou à condição de indignidade anterior ao petismo.
Neste sentido, é importante que tenhamos clareza acerca da diferença entre as mudanças “conjunturais” e as mudanças “estruturais” tanto da sociedade brasileira quanto da sociedade global nos últimos anos, bem como da relação dinâmica e em aberto entre as duas. Na conjuntura brasileira atual, posterior ao golpe de estado que retirou Dilma Rousseff da presidência da república, em 2016, já presenciamos em um curto período o aumento intensivo do trabalho indigno e da condição de indignidade perene daqueles que não encontram nenhum trabalho. Neste contexto, a reforma trabalhista aprovada em 2017 situa-se em uma conjuntura específica que leva a cabo mudanças em um contexto estrutural maior. A reforma, como é de conhecimento público, desarma juridicamente os trabalhadores diante das negociações com os empregadores. Também institucionaliza a terceirização e a informalidade em todos os níveis e em todas as formas de atividade, ou seja, naturaliza, legitima e institucionaliza a condição de indignidade de milhões de pessoas.
Este contexto de intensificação da indignidade do trabalho é levado a cabo na contramão de tudo o que podemos aprender com os melhores autores sobre a construção de uma sociedade do trabalho digna para todos. Como vimos com Robert Castel, o fortalecimento de vínculos sólidos e estáveis de trabalho, consolidados na própria ideia de emprego, demorou décadas e foi um dos pilares centrais do Welfare State e da construção das democracias europeias. Inclusive, estas agora se encontram em xeque exatamente pelo aumento sem precedentes na história moderna do trabalho indigno e do status de indignidade em seu interior. Ou seja, o que estamos presenciando neste exato momento no mundo e de forma mais intensa na periferia do capitalismo é a institucionalização de sociedades não salariais, o que é sinônimo de sociedades indignas.
Não por acaso, a controversa fundamentação jurídica da reforma trabalhista no Brasil contraria todos os princípios básicos do estado de bem-estar social, institucionalizando e legitimando exatamente o contrário do que sugeriu Robert Castel, ou seja, a ampliação e o fortalecimento do direito ao trabalho, o que inclusive teria respaldo constitucional explícito. Com isso, deve ficar claro que a dignidade do trabalho e o direito ao trabalho digno não são de nenhuma forma benesses concedidas pelo mercado, mas exigem a atuação bem orientada e eficaz do Estado.
Na clássica formulação de Thomas Marshall, a cidadania social, último estágio do desenvolvimento da cidadania em sociedades como a inglesa (que agora também retrocede neste processo), recebe uma definição simples e objetiva. Para ele, a cidadania social significava o alcance do direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança, além do direito de compartilhar o “todo da herança social” e viver a vida de um “ser civilizado”, de acordo com os padrões vigentes na sociedade (MARSHALL, 1967). Ou seja, a cidadania social é o contrário da indignidade. Não por acaso, a atuação do Estado era para ele decisiva nesta direção. Em sua definição, a criação do direito universal ao salário real proporcionou uma situação de bem-estar contrária aos valores do mercado (MARSHALL, 1967).
A realidade que presenciamos agora na nova sociedade mundial do trabalho contraria explicitamente esta definição básica da cidadania social, o que se apresenta de forma preocupante na Europa, antigo berço do capitalismo social, e de maneira desesperadora em países periféricos como o Brasil, nos quais a atual conjuntura apenas aprofunda nossa condição de indignidade estrutural. Não por acaso, os valores meritocráticos, contrários a qualquer ideia de dignidade e cidadania, estão no cerne do discurso evocado pela extrema-direita fortalecida no mundo hoje, articulados a seus reais sentimentos de ódio e intolerância, contrários ao verdadeiro ideal da democracia. O caminho de volta, diante desta triste realidade, precisa necessariamente enfrentar o problema teórico e político da indignidade.
*Fabrício Maciel é professor de teoria sociológica do Departamento de Ciências Sociais da UFF-Campos e do PPG em Sociologia Política da UENF.
Referências
BECK, U. SchöneneueArbeitswelt. Frankfurt amMain: Suhrkamp, 2007.
MACIEL, F. A nova sociedade mundial do trabalho: para além de centro e periferia? 2ª edição, revista e ampliada. Rio de Janeiro: Autografia, 2021.
______. “Todo trabalho é digno? Um ensaio sobre moralidade e reconhecimento na modernidade periférica”. In: SOUZA, J. (Org.) A invisibilidade da desigualdade brasileira. Belo Horizonte: EDUFMG, 2006.
______. “Ulrich Beck e a crítica ao nacionalismo metodológico”. In: Política & Sociedade, Florianópolis, v. 12, nº 25, 2013.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1967.
MILLS, C. W. A elite do poder. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1975.
MILLS, C. A nova classe média. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1976.
Nota
[i] Uma tradução livre do título seria “Admirável novo mundo do trabalho”, fazendo evidente alusão ao grande clássico de Aldous Huxley.