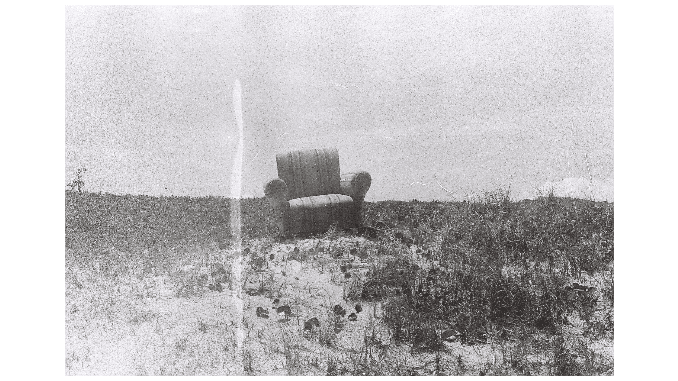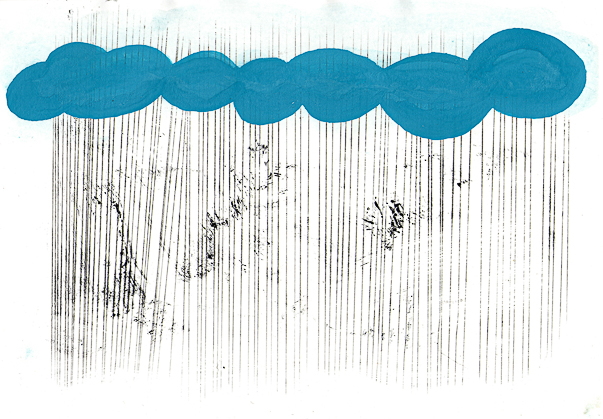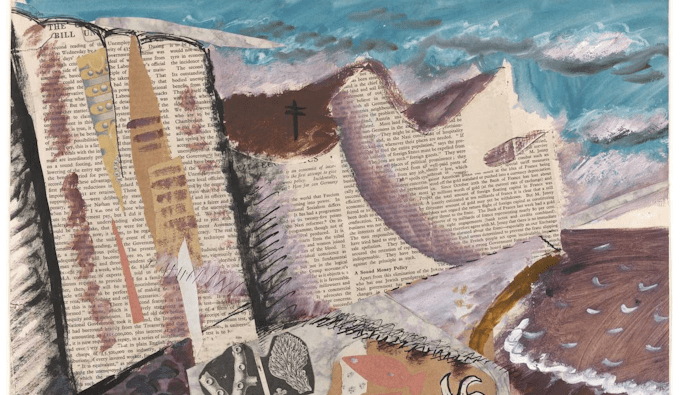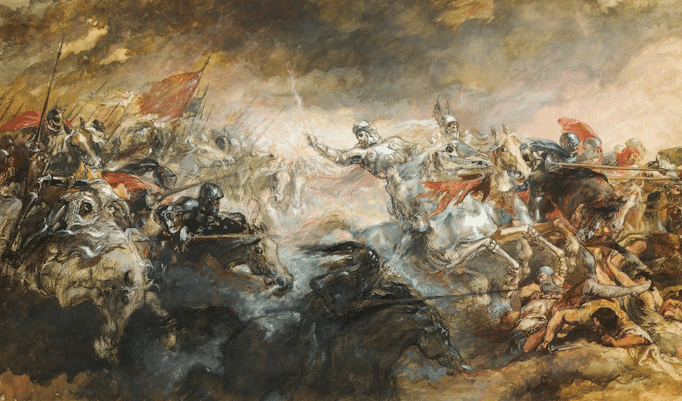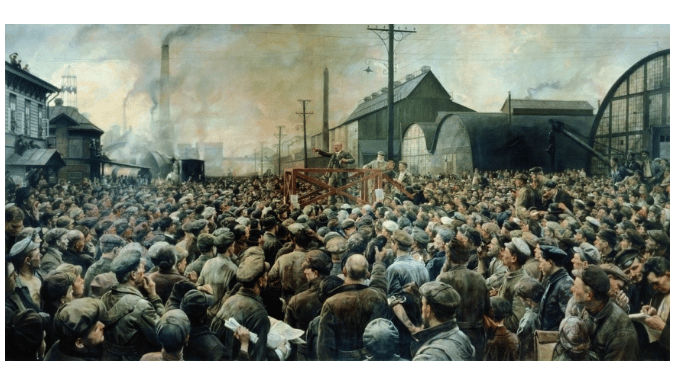Por GILBERTO LOPES*
A história não terminou e o seu desenvolvimento é muito diferente do que sonharam os vencedores Guerra Fria
Introdução
Talvez David Miliband, secretário de estado do Reino Unido entre 2007 e 2010, tenha feito uma descrição com particular sensibilidade: o fosso entre o Ocidente e o resto do mundo é o resultado da raiva provocada pela forma como lidaram com o processo de globalização desde o fim da Guerra Fria. Assim escreveu num artigo publicado na edição de maio/junho do ano passado da revista Foreign Affairs.
Sobre o fim da Guerra Fria e o surgimento do neoliberalismo, Fritz Bartel,[i], professor de Assuntos Internacionais na Universidade do Texas, escreveu um livro notável, baseado em investigação cautelosa e num quadro interpretativo original, que recorre às mudanças econômicas dos anos 1970 e 1980 para explicar ambos os fenômenos.
Ele faz referência especial a dois aspectos: a abundância de capital disponível no mundo, consequência do aumento extraordinário do preço do petróleo após a Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973, e a mudança na política econômica dos Estados Unidos, quando Jimmy Carter colocou Paul Volcker à frente da Reserva Federal, pouco antes das eleições de 1980, com a missão de combater a inflação. Sua política monetária restritiva aumentou as taxas de juro a níveis inimagináveis, provocando a mais grave depressão do pós-guerra e o desemprego de milhões de pessoas. Mas criou as condições para que os capitais fossem atraídos pelos elevados rendimentos pagos pelos Estados Unidos e abandonassem gradualmente as economias do leste europeu.
Seu livro dedica-se a mostrar, com particular detalhe, como ambas as medidas criaram as condições para que a crise tornasse inviável a sobrevivência das economias do mundo socialista europeu, enquanto criavam as condições para impor a todo o mundo as exigências drásticas de reformas neoliberais, cortes de gastos e privatizações. Gradualmente, os Estados ocidentais abandonaram seu compromisso de proteger os interesses dos trabalhadores para proteger os do capital.
O autor conclui seu livro ressaltando que o neoliberalismo – a ideologia que governa o capital – se impôs no final do século XX porque a dependência dos Estados-nação em relação ao capital financeiro para garantir seus compromissos sociais continuou aumentando.
Fritz Bartel analisa por que os Estados Unidos e a Inglaterra – Ronald Reagan e Margaret Thatcher – puderam impor suas políticas conservadoras, e foram capazes de proteger os interesses do capital em relação aos interesses do trabalho, enquanto, nos países socialistas, todas as tentativas de reformar a economia, mantendo o regime político, fracassaram. Fritz Bartel atribui às características do capitalismo democrático (superiores às do socialismo de Estado) os maiores méritos deste “sucesso”.
Na minha opinião, seu próprio livro apresenta razões diferentes. Mostra-nos a enorme disparidade de recursos entre o capitalismo ocidental e o socialismo do leste europeu. Mais do que os sistemas políticos, foi o apoio do capital, os imensos recursos colocados à disposição de Washington e Londres, que constituíram o segredo deste triunfo.
O mundo do pós-guerra, organizado em função do poder militar desenvolvido por cada potência durante a guerra, dividiu a Europa em dois grandes blocos, que pareciam igualmente poderosos. Mas ocultou a fraqueza da economia da Europa do Leste, que o livro de Fritz Bartel demonstra.
Outra visão sobre o desfecho da Guerra Fria
Se, para Fritz Bartel, a ordem política dominante em cada bloco foi decisiva para o desfecho da Guerra Fria, a leitura cuidadosa de seu livro levou-me, como já assinalei, a outra conclusão: a enorme diferença de poder econômico como explicação fundamental para tal desfecho.
Trabalhei meu texto com os dados – sobretudo os econômicos – apresentados por Fritz Bartel em seu livro, embora tenha consultado outras fontes para alguns dados e relatos de acontecimentos que me pareciam indispensáveis. Naturalmente, a responsabilidade por estas decisões é exclusivamente minha.
Mas eu queria, sobretudo, enfatizar esta visão diferente sobre os fatores que influenciaram o resultado da Guerra Fria. Não se trata de qualquer pretensão intelectual. Meu interesse é antes político, pois as diferentes interpretações conduzem também a análises muito distintas dos desafios políticos atuais.
As condições econômicas, que levaram ao desfecho da Guerra Fria nos anos 1980, são hoje radicalmente diferentes. E, se essa era a questão fundamental (e não as ordens políticas que Fritz Bartel definiu como “capitalismo democrático” e “socialismo de Estado”), a análise da atual ordem internacional, as perspectivas para o futuro, também o são.
Permitem-nos compreender que, no triunfo do Ocidente naqueles anos da Guerra Fria, já se encontrava o gérmen de sua decadência, sobretudo numa política de endividamento sem fim, que fez dos Estados Unidos o maior devedor do mundo.
Por outro lado, o fato de ter abandonado o fardo impossível de subsidiar os países da Europa do Leste criou as condições para a recuperação econômica da Rússia. Enquanto os Estados Unidos geriam a globalização nos termos denunciados por Miliband, travando guerras permanentes em todo o mundo, a China organizava sua economia e sua ordem política em novos moldes, que se revelaram particularmente exitosos.
Este é o mundo atual, que pretendo analisar discutindo o arcabouço que Fritz Bartel nos oferece em seu notável livro.
A decadência do Ocidente
Em sua obra, Fritz Bartel faz uma análise cuidadosa e original do fim da Guerra Fria e da ascensão das políticas neoliberais no final dos anos 1980 e início dos anos 1990.
O livro deixa-nos uma proposta de interpretação destes acontecimentos que não é o tema deste artigo. Não é sobre o passado que pretendo falar, mas sobre o mundo vencedor da Guerra Fria, processo em que foram lançadas as raízes de sua decadência. É a isso que me refiro quando falo do “fim da Guerra Fria e da decadência do Ocidente”. Como veremos, o livro de Fritz Bartel fornece-nos dados sólidos sobre este assunto, ainda que sua análise não esteja orientada nesse sentido.
Atacando os sindicatos
Um dos detonadores do processo que determinou o resultado dessa guerra foi a mudança de política econômica quando, em agosto de 1979, Jimmy Carter substituiu William Miller por Paul A. Volcker à frente da Reserva Federal. O cenário econômico nos Estados Unidos era medíocre: a taxa de desemprego era de 7,5%; a inflação de 13,3%; e o déficit fiscal, de 59 bilhões de dólares, era o segundo mais alto da história, atrás apenas dos 66 bilhões de dólares de Gerald Ford em 1976.
Para Paul Volcker, o grande desafio era o controle da inflação. Sua política monetarista implicou o aumento das taxas de juro para um nível hoje inimaginável, de quase 18%. Há quem acredite que esta medida custou a reeleição de Jimmy Carter, mas há também os que consideram que foi a base da recuperação econômica dos Estados Unidos.
Jimmy Carter perdeu as eleições em novembro de 1980, mas Paul Volcker manteve-se no cargo quando Ronald Reagan tomou posse em janeiro do ano seguinte. Paul Volcker o ajudaria a impor uma mudança de mentalidade no país: acabar com a preocupação com o pleno emprego (que tinha caracterizado as políticas econômicas após a Segunda Guerra Mundial) e impor a ideia de que o governo não era a solução, mas sim o problema.
Era a mesma visão e proposta que John Hoskyns tinha feito a Margaret Thatcher: impor um ajuste que, tal como o de Paul Volcker, levou à falência de milhares de empresas e a um enorme desemprego. Um modelo da chamada “economia pelo lado da oferta” que aposta na desregulamentação da economia como instrumento para sua reativação, independentemente dos enormes custos sociais do período de ajuste.
Mas não só isso. Tal como sua colega Margaret Thatcher que, diante do desafio de eliminar a influência dos sindicatos na política, desencadeou uma guerra contra os poderosos sindicatos de mineiros britânicos, Ronald Reagan despediu milhares de controladores aéreos, mudando o caráter das relações trabalhistas no país. Uma medida que, indiretamente, ajudou a mudar a “psicologia da inflação” atribuída à luta dos trabalhadores por melhores salários. A partir de então, a política econômica seria orientada para atender os interesses do grande capital.
A Inglaterra e os Estados Unidos estavam profundamente endividados, e continuaram endividando-se. Contavam com o apoio de grandes recursos financeiros dos setores beneficiados por suas reformas. Dispunham de recursos suficientes para impor suas políticas à Inglaterra e aos Estados Unidos e, por fim, a grande parte do mundo.
Mas a imensa quantidade de recursos – como destaca o próprio Fritz Bartel – não era produto de novas iniciativas econômicas dos capitalistas norte-americanos, estimulados pela “economia pelo lado da oferta”, mas consequência do capitalismo globalizado, alimentado pela livre circulação de capitais em todo o mundo.
Os países socialistas, confrontados com a escassez de recursos e com o aumento do preço do petróleo, não tiveram o apoio do capital financeiro mundial, o que lhes selou o destino na Guerra Fria.
Como mostra Fritz Bartel – e é esta talvez uma das mais sólidas realizações de sua obra – a crescente dificuldade de acesso ao crédito começou a corroer as condições em que as economias dos países da Europa do leste se desenvolveram, cada vez mais endividados com os bancos ocidentais.
As mesmas forças do mercado de capitais que enfraqueceram a posição do bloco socialista ajudaram a restabelecer, sobretudo, a posição dos Estados Unidos no sistema internacional.
Para isso, foram fundamentais tanto a permanência do dólar como moeda de reserva mundial como a possibilidade de conviver com um déficit fiscal crescente, fruto da confiança que as políticas de Paul Volcker davam aos detentores de capitais: seus investimentos proporcionavam-lhes rendimentos elevados nos Estados Unidos.
Estes dois fatores são fundamentais para a consideração do estado atual da economia e da política dos Estados Unidos. Por um lado, o dólar continuou enfraquecendo, consequência de um déficit fiscal imparável. Em abril deste ano, o FMI emitiu dois avisos sobre os riscos que este déficit representa para a economia norte-americana e mundial, aumentando as taxas de juro e a instabilidade financeira. Isto, somado às tensões políticas, levou a uma multiplicação de iniciativas para abandonar o dólar como moeda de troca entre os países do “sul global” e, em particular, no comércio entre a Rússia e a China.
As características deste processo são a chave para compreender as mudanças a que assistimos atualmente. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, as condições para a decadência de um modelo que então parecia triunfante já estavam criadas.
Os interesses implacáveis do capital
Como destaca Fritz Bartel, a decisão de impor o ajuste econômico à população norte-americana mostrou aos detentores de capital que os líderes políticos estavam determinados a “proteger os interesses do capital em detrimento dos interesses do trabalho”.
A política de redução de impostos de Reagan e Volcker teve enormes consequências para vários grupos, “principalmente os trabalhadores norte-americanos e os dos países do Sul Global”. Embora tenha aumentado a desigualdade, relançou a “prosperidade” norte-americana e projetou seus interesses e políticas no resto do mundo. Foi o início do período neoliberal.
O neoliberalismo não prevaleceu porque oferecia uma “visão ideológica relativamente atrativa”. Prevaleceu porque tinha os recursos financeiros e políticos para isso. Como Hoskyns deixou claro, colocou o Estado a serviço do capital. A serviço de uns poucos ricos, como diz Fritz Bartel.
Para o “mundo comunista”, os resultados foram diferentes. Com a reorientação dos capitais para os Estados Unidos, não perdeu total e definitivamente o acesso ao mercado mundial de capitais no início dos anos 1080. Mas, lembra Bartel, nunca mais teve o apoio incondicional dos detentores desse capital, que o tinham financiado generosamente no final dos anos 1970, graças à enorme abundância de dólares resultante da elevação dos preços do petróleo a partir de 1973.
Os países socialistas foram perdendo o acesso aos mercados de capitais. Os governos ocidentais, as instituições financeiras internacionais e o capital mundial, agindo por vezes em conjunto e em outros momentos de forma independente, viram-se com todo o poder nas mãos para decidir o destino de seus adversários, deixando os governos da Europa do leste sem alternativas. Havia recursos disponíveis, estavam dispostos a conceder novos empréstimos, mas em troca de concessões políticas e diplomáticas.
O que, para os Estados Unidos, constituía um enorme estímulo para sua economia, para o campo socialista era um fardo impossível de suportar. Na minha opinião, foi a razão fundamental de seu triunfo na Guerra Fria, resultado de uma realidade herdada do mundo do pós-guerra.
O fim do poder popular
Para Fritz Bartel, os povos das nações da Europa do leste desempenharam um papel essencial na queda dos regimes que os governavam. A queda do comunismo e a ascensão das democracias eleitorais representaram uma nova era de soberania popular e de autodeterminação.
Esta é a interpretação dele, mas seu relato nos mostra outra coisa: a importância do cerco financeiro, que foi deixando estes governos sem alternativas, e gerando desespero entre seus cidadãos. Seguindo o mesmo guia de seu livro, é evidente que os diretores deste filme não foram os povos destas nações, mas os capitais capazes de desenvolver o guia.
Sempre sensível aos vários ângulos dos problemas, Fritz Bartel não deixa de perceber isso quando afirma que, com a queda do regime socialista na Polônia, os poloneses sentiram que tinham finalmente “seu” governo dirigindo o país. Mas, acrescenta, era um governo que servia a dois senhores: o povo e o mercado, o capital e o trabalho. Como sabemos, não é possível servir igualmente a estes dois senhores, e o trabalho não estava em condições de impor condição alguma, exceto aceitar as que eram impostas pelo capital.
Em todo o caso, há um aspecto que não pode deixar de ser considerado aqui. Os governos dos países da Europa do leste resultaram da Segunda Guerra Mundial e foram impostos pelos interesses políticos da União Soviética, sustentados por seu enorme esforço militar, base da derrota do nazismo. Mas, como a história demonstrou, essa potência militar não tinha, naquele momento, nem poder político nem econômico, capazes de consolidar seu triunfo militar.
Enquanto esteve associada ao poder do Ocidente para derrotar o nazismo, pôde desempenhar um papel fundamental na guerra. Mas, uma vez terminada a guerra, ficou isolada. O mundo ocidental consolidou-se em torno do capital e dos interesses de Washington. No leste europeu, enfraqueceu-se primeiro a estrutura política interna da União Soviética pelos desvios do stalinismo. Depois, sua estrutura econômica, dependente do poder do Ocidente, então muito superior ao do mundo socialista.
Foi assim que a história condicionou os resultados. Quando as condições econômicas em que se baseava o mundo socialista de mercado desapareceram, nem o político nem o militar foram suficientes para manter a coalizão e a ordem em que se sustentava.
Em todo o caso, não posso concordar com Fritz Bartel – pelos mesmos argumentos apresentados em seu livro – em sua conclusão de que o fim da Guerra Fria foi o momento em que o poder popular atingiu sua expressão máxima. Parece-me exatamente o contrário: foi o fim do poder popular, o momento do triunfo do poder do capital.
Mais uma vez, Fritz Bartel intui isso mesmo quando afirma que, num momento em que a relação entre os cidadãos e o Estado é cada vez mais mediada por empréstimos de capital, quando as dívidas soberanas dos Estados atingem valores estratosféricos, não deve surpreender que se torne uma relação entre devedores e credores, nem que o Estado tenha que renunciar a seu papel de proteção dos interesses do trabalho, para defender os interesses do capital. A própria referência de Fritz Bartel à queda do governo socialista na Polônia torna isso claro.
O fim da história
Quando o mundo político do leste europeu se desmoronou, a euforia do Ocidente levou-o a sonhar com o “fim da história” e do socialismo, incluindo nos países onde este ainda sobrevivia: China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte. Mas – e aqui está a chave da explicação – os regimes políticos destes países não resultaram da imposição das tropas soviéticas em consequência da Segunda Guerra Mundial, mas de revoluções políticas nacionais, que o Ocidente foi incapaz de derrotar.
O caso de Cuba é particularmente patético quanto à América Latina. Submetida a um bloqueio de mais de 60 anos, a ilha pagou um preço exorbitante por um cerco ilegal, ao qual é urgente pôr fim.
Ao contrário dos demais países latino-americanos, onde todas as tentativas reformistas foram derrubadas por grupos civis conservadores apoiados por militares e por Washington, em Cuba isso não aconteceu, apesar das dramáticas condições de vida impostas a seu povo.
É evidente que a história não terminou e que seu desenvolvimento é muito diferente do que sonharam os vencedores daquela Guerra Fria.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor, entre outros livros, de Crisis política del mundo moderno (Uruk).
Tradução: Fernando Lima das Neves.
Nota
[i] Fritz Bartel. The triumph of broken promises. The end of Cold War and the raise of neoliberalism. Harvard University Press, 2022.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA