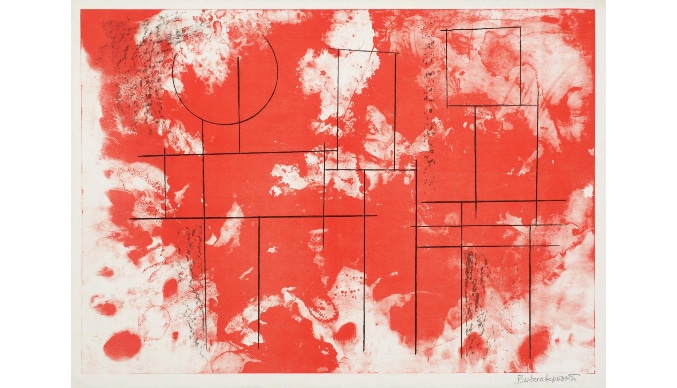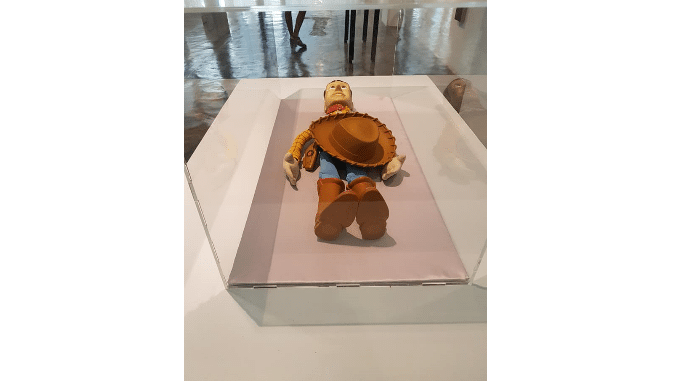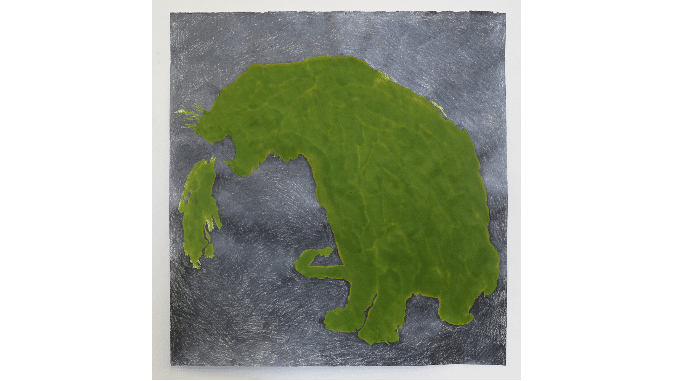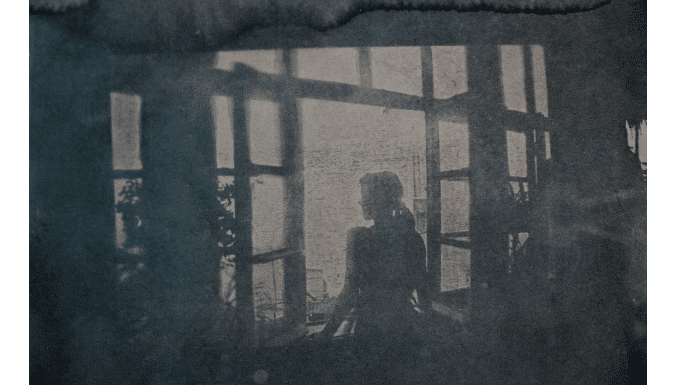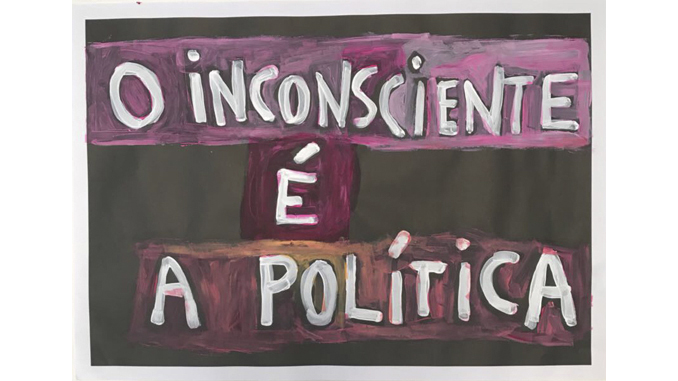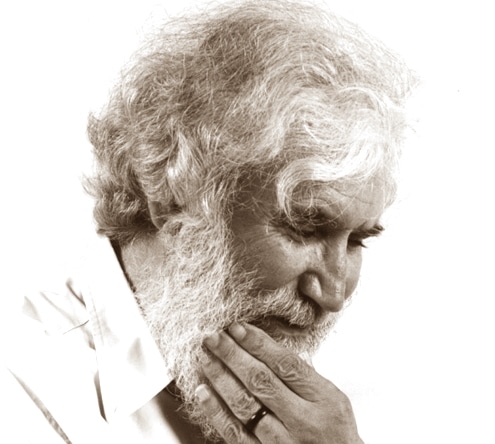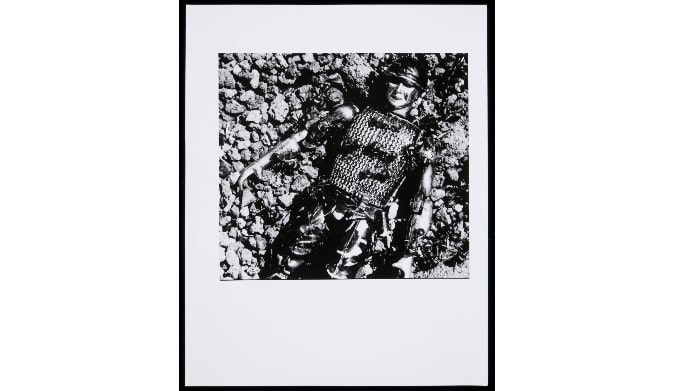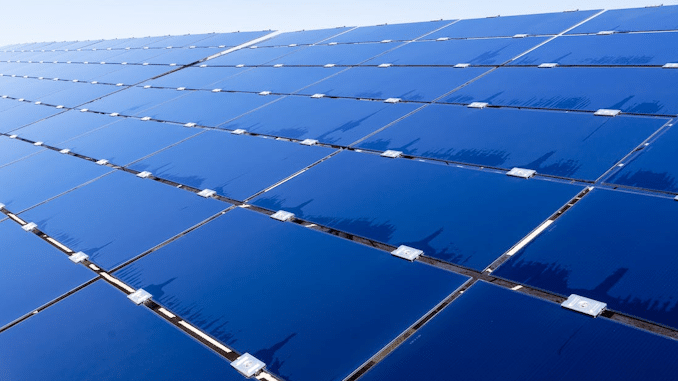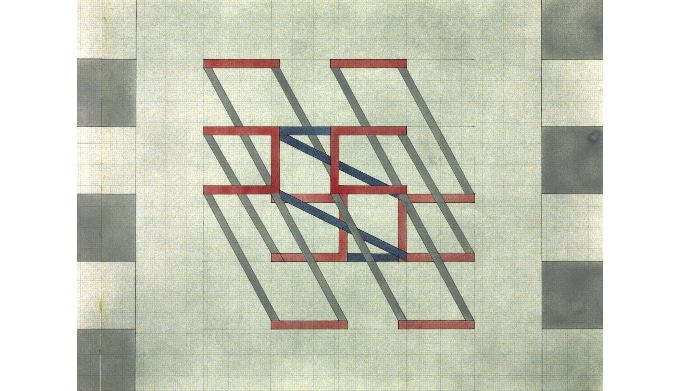Por ANNA LIA A. PRADO & ALBERTO A MUÑOZ*
Comentário sobre o livro de Paulo Butti de Lima
As relações entre os meios de persuasão quanto à veracidade do discurso historiográfico e os meios de prova empregados nas práticas judiciárias atenienses são o objeto deste livro de Paulo Butti de Lima, formado em filosofia pela USP, doutor pela Scuola Superiore de Studi Storici da Universidade de San Marino e professor na Universidade de Bari.
Sensível à objeção metodológica básica de que não é possível atribuir a uma única causa o surgimento da historiografia como gênero literário, o autor tem o cuidado de não tomar os meios de persuasão da verdade, empregados por Heródoto e Tucídides, como meros desenvolvimentos das práticas indiciais comuns nos tribunais atenienses.
Enquanto o proponente de uma causa ou réu pode apresentar ao júri as provas de que dispõe – sejam elas materiais ou testemunhais e, como de costume, após o fim do inquérito –, o historiador não pode apresentar a seu público as testemunhas ou os próprios fatos que presenciou. Dessa aparência de isenção e veracidade – pouco importando se real ou simulada pelo historiador, crítico dos relatos e dos indícios que conduzem à reconstrução do passado- decorrerá a persuasão do leitor.
O historiador-juiz
Na primeira parte, “O Inquérito e a Prova na Prática Jurídica”, Butti examina em detalhe a estrutura do processo judiciário ático e os meios de persuasão. É uma parte estruturalmente fundamental do seu trabalho, visto que, desde a introdução, ele adverte que seu esforço visa a mostrar como a imagem da atividade jurídica reaparece no campo da pesquisa histórica, menos mediante a imagem do “historiador-juiz” – no caso, a estratégia é muito mais colocar o público como júri – que do recurso à utilização de “meios de prova”, e meios de prova relativas ao passado. Aí está o ponto que é comum aos dois campos, e é focalizado, sob o ângulo jurídico, na primeira parte do livro.
Ao final dos dois primeiros capítulos dessa seção, o leitor está não só informado dos procedimentos de investigação e prova admitidos nos tribunais, mas também em condições de formar uma imagem bastante rica da estrutura e do papel do Judiciário na Atenas do século V. O proponente da ação ou o réu, ao apresentar-se pessoalmente perante um tribunal popular, composto de cidadãos comuns e coordenado por magistrados cujo papel era essencialmente administrativo e executivo, mas não deliberativo, deviam provar, antes de sua defesa oral, a veracidade de seus discursos, fazendo ao júri a apresentação (e crítica) das provas testemunhais e materiais, sendo-lhes permitido utilizar-se do “básanos” (tortura de escravos), a fim de obter confissão ou depoimento.
Nessa forma peculiar de regime judiciário – avesso à constituição de um corpo de jurisprudência, fundado na ideia de que a verdade sobre os fatos ocorridos deveria emergir do debate regrado entre as partes em disputa, perante o juiz, no espaço público do tribunal, incumbindo ao acusador e ao acusado assumir pessoalmente a defesa de seus direitos – passam a ter importância cada vez maior os logógraphoi, redatores de discursos, especialistas na prática jurídica, que se encarregavam de preparar seus clientes, orientando-os quanto aos recursos jurídicos que deviam usar e fornecendo-lhes os argumentos adequados para garantir a vitória no processo.
Eram os logógrafos que possuíam um saber processual (tipos de provas, modelos de discursos, estratégias eficazes para as diversas situações) que servia para instruir o cidadão comum que se apresentava diante do júri, embora esse saber não tivesse, por si só, nenhum valor legal, dado que, em cada caso, o próprio júri decidia, de modo soberano, quanto ao mérito da ação e quanto à sentença. A atividade dos logógrafos só pode ser entendida numa cultura que domina a escrita, condição sine qua non para a instituição da historiografia.
Embora o júri fosse soberano, havia nos tribunais atenienses a tradição de admitir-se uma série de meios para o estabelecimento de fatos passados e para a defesa ou crítica de atos do conhecimento de todos, disso surgindo tacitamente uma normatividade jurídica. Teoricamente essa série de meios não dependia da habilidade retórica do orador ou de seu conhecimento sobre as técnicas mais eficazes de persuasão jurídica que os logógraphoi e os retores tentam constituir. Paulo Butti faz emergir, pouco a pouco, as regras que permitem a constituição de um discurso racional sobre o passado. É assim que se constitui uma “função probatória geral”, que permite compreender a presença de alguns termos da retórica que ocorrem tanto na obra dos historiadores quanto na prática dos tribunais.
Argumento da verossimilhança
A segunda parte, “A Prova no Discurso Historiográfico”, procurará examinar em que medida esses procedimentos gerais de prova reaparecem na historiografia grega.
Na prática jurídica, é necessário que uma versão dos fatos seja confirmada com apresentação de um testemunho (martúrion), e o que se lê em Heródoto, e particularmente em Tucídides, é que o processo de investigação, para eles, exige a crítica do testemunho, procedimento que dará ao discurso do historiador seu valor de objetividade e sua força de persuasão. Com o recurso a “indícios” ou “evidências” (tekméria), os fatos passados podem ser estabelecidos (ou antes, dizendo como Heródoto e Tucídides, “descobertos”), ainda que o historiador não tenha tido acesso a eles. Ora, esse era também um dos meios de prova presentes na prática jurídica.
E mais: a retórica judiciária já exigia que as versões dos fatos apresentadas nos discursos dos adversários se comprovassem pelo uso do argumento da verossimilhança (tò eikós), considerado por Aristóteles, na Retórica, a prova retórica por excelência. Essa era a última exigência a que devia submeter-se a apresentação dos fatos no tribunal e, no terreno historiográfico, o argumento da verossimilhança será o instrumento da crítica de relatos divergentes ou da averiguação da verdade dos fatos.
Provas testemunhais, indícios e o argumento da necessária verossimilhança do relato eram, assim, as três dimensões daquela “função probatória”, exercida tanto na esfera da prática jurídica quanto da investigação historiográfica e que, mais tarde, Aristóteles procurará sistematizar.
Esse ponto de fuga – a função probatória –, para o qual apontam a prática jurídica e a historiografia, recebe seu último contorno na última parte do trabalho, “O Limite da Imagem”, na qual Butti passa a matizar algumas das conclusões a que chega em seu trabalho, pois, embora a prática jurídica e a historiografia apontem para uma função probatória geral, o certo é que ela se realiza de modos diversos nesses dois domínios.
O ponto central da diferença entre as formas pelas quais se realiza a função probatória, num e noutro domínio, está justamente na ideia de “investigação” ou “inquérito”, que funda a própria imagem do trabalho historiográfico em Heródoto e Tucídides, mas não tem lugar na atividade judiciária. A “história”, em Heródoto, é tanto o resultado da investigação quanto a própria investigação. É assim que surge a imagem do historiador que viaja, investiga, presencia e dá seu testemunho pessoal, garantido pela “autópsia”, sendo o seu relatório de pesquisas o próprio conteúdo de sua obra.
Em sua investigação, por sua vez, Tucídides escolhe com zelo as informações, e sempre deixa claro para o leitor seu esforço crítico, principalmente quando, nas narrativas ou nas antilogias, apresenta versões discordantes e, mediante a antítese lógos/érgon, opõe o que é dito em público e a verdade que as palavras escondem. Seu instrumento nesse trabalho de desvelamento da verdade é sempre o argumento da verossimilhança, mesmo quando o historiador foi testemunha dos eventos. Aqui a “função da verdade” é vista como crítica das informações. Daí decorrem sua desconfiança quanto a elementos testemunhais e, em particular, quanto a informações transmitidas em assembleias. Trata-se de crítica da função pública do discurso que, para indicar a veracidade da narração, emprega termos que conotam a retórica e a prática jurídica.
A conclusão de Butti é que a historiografia, no próprio momento em que constitui seu campo mediante o uso de meios heurísticos e retóricos, recusou a apresentação “retórica” dos fatos. Verdade e espaço público, prossegue, são incompatíveis em Heródoto e Tucídides ou, ao menos, contrastantes: pela retórica, mas contra a retórica, a historiografia grega exibe, assim, uma opção por um platonismo avant la lettre.
Conclusão surpreendente se contrastarmos a atividade do historiador antigo, empenhado em alcançar a objetividade para além dos indícios e testemunhos, com a do historiador contemporâneo, tão preocupado em “relativizar os pontos de vista”, “dissolver os objetos” e sempre “pôr em questão” suas teses. O livro de Butti é não apenas um rigoroso (e, por vezes, fatigante, justamente por ser rigoroso) passeio pelos caminhos trilhados pelas práticas jurídicas e formas historiográficas da Grécia clássica, mas sobretudo um convite à reflexão sobre o que a historiografia contemporânea perdeu, face ao modo de fazer história dos primeiros historiadores do Ocidente.
Anna Lia Amaral de Almeida Prado (1925-2017) foi professora de letras clássicas na USP.
Alberto Alonso Muñoz é doutor em filosofia pela USP e juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Publicado originalmente em Folha de S. Paulo\Jornal de Resenhas, em 10 de julho de 1999.
Referência
Paulo Butti de Lima. L’Inchiesta e la Prova: Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica. Turim, Einaudi, 202 págs.