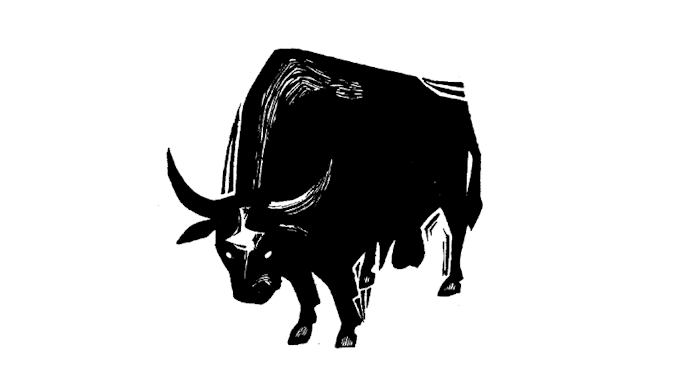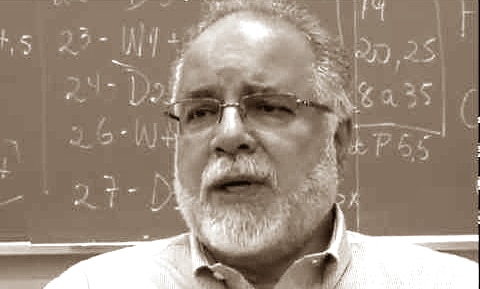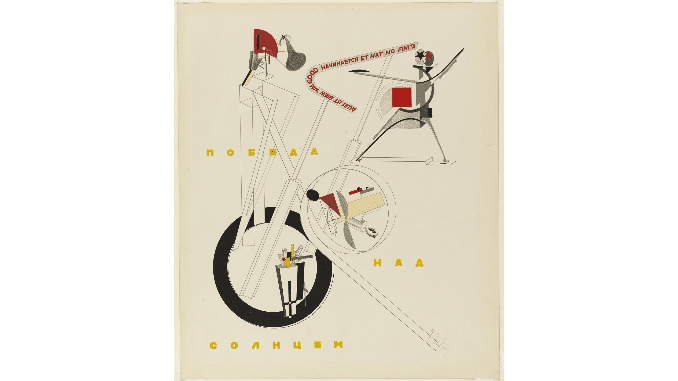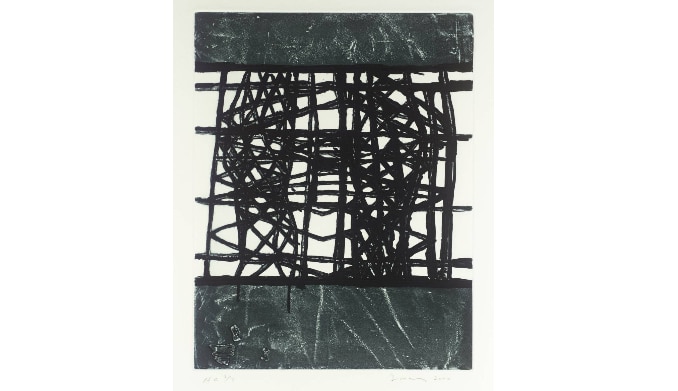Por MICHAEL HUDSON*
As ações dos EUA podem acabar por fazer com que pareçam tão ameaçadores quanto querem que a Rússia pareça
Impérios muitas vezes seguem o curso de uma tragédia grega, atraindo exatamente o destino que pretendiam evitar. Esse certamente é o caso do império americano, pois ele está se desmantelando, e a ritmo não tão suave.
O pressuposto básico de todo prognóstico econômico e diplomático é o de que cada país agirá sempre em seu próprio interesse. Tal raciocínio não se presta muito para entender o mundo de hoje. Observadores de todo o espectro político começam a usar expressões como “atirar no próprio pé” para descrever o confronto diplomático dos Estados Unidos com a Rússia e seus aliados.
Por mais de uma geração, os mais proeminentes diplomatas norte-americanos advertiram sobre o que eles acreditavam representar a derradeira ameaça externa à hegemonia dos Estados Unidos: uma aliança entre Rússia e China dominando a Eurásia. Agora, as sanções econômicas e as confrontações militares dos Estados Unidos os uniram, e estão levando outros países a entrarem em sua órbita emergente na Eurásia.
Esperava-se que o poder econômico e financeiro norte-americano evitasse tal destino. Durante meio século, desde que os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro em 1971, os bancos centrais do mundo operaram com base no padrão dólar, mantendo suas reservas monetárias internacionais na forma de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, depósitos bancários, ações e títulos norte-americanos. O padrão resultante, baseado em emissões do Tesouro dos Estados Unidos, permitiu que esse país financiasse seus gastos militares no exterior, tanto quanto realizasse investimentos em outros países, tão apenas imprimindo promissórias federais em dólares. Os déficits na balança de pagamentos dos Estados Unidos acabam, assim, nos bancos centrais dos países com superávit de reservas, enquanto os devedores do Sul Global precisam continuamente de dólares para pagar os detentores dos seus títulos e levar adiante seu comércio exterior.
Esse privilégio monetário – a senhoriagem do dólar – permitiu à diplomacia norte-americana impor políticas neoliberais ao resto do mundo, sem precisar usar muita força militar própria, salvo para se apoderar do petróleo do Oriente Médio.
A escalada mais recente de sanções dos Estados Unidos, que bloqueou a Europa, a Ásia e outros países ao comércio e investimento com Rússia, Irã e China, impôs enormes custos de oportunidade – o custo das oportunidades perdidas – aos aliados dos próprios Estados Unidos. E o recente confisco do ouro e das reservas no exterior da Venezuela, Afeganistão e agora da Rússia, juntamente com o roubo direcionado de contas bancárias de estrangeiros ricos (na esperança de conquistar seus corações e mentes quando viessem a recuperar suas contas sequestradas), pôs termo à ideia de que uma carteira em dólares, em libras esterlinas ou em euros seria um porto seguro para os investimentos, sempre que as condições econômicas mundiais se tornassem instáveis.
Assim, sinto certa pena ao observar a velocidade com que esse sistema financeiro, centrado nos Estados Unidos, incrementou a desdolarização no período de apenas um ou dois anos. O tema básico do meu livro Superimperialism (Islet, 2021) é exatamente como, nos últimos cinquenta anos, o padrão baseado nos títulos do Tesouro norte-americano canalizou poupanças estrangeiras para os mercados financeiros e bancos dos Estados Unidos, servindo de esteio para a “diplomacia do dólar”. Eu pensava que a desdolarização seria liderada pela China e pela Rússia, ao se movimentarem para assumir o controle de suas economias e evitar o tipo de polarização financeira que impõe austeridade até aos Estados Unidos. Mas as autoridades norte-americanas os estão forçando a superar qualquer hesitação que porventura tivessem em se desdolarizar.
Eu esperava que o fim da economia imperial dolarizada aconteceria com os outros países simplesmente caindo fora. Mas não é isso que está ocorrendo. Os diplomatas norte-americanos parecem ter optado por fulminar a dolarização internacional, na medida em que passaram a ajudar a Rússia a construir seus próprios meios de produção agrícola e industrial autossuficientes. Esse processo de fratura global [que alguns ultimamente vêm chamando, para além do campo da economia, de “grande desacoplamento”, ou seja, um movimento no sentido contrário ao da globalização], na verdade, já vem acontecendo há alguns anos, e começou com as sanções que impediram os aliados da OTAN e outros satélites econômicos de negociar com a Rússia. Para esta última, as sanções tiveram o mesmo efeito que as tarifas protecionistas teriam.
A Rússia seguiria enormemente fascinada com a ideologia do livre mercado para eventualmente ter que chegar ao ponto de tomar medidas que protegessem sua própria agricultura ou indústria. Só que os Estados Unidos forneceram o empurrão que era preciso no sentido contrário, ao impor autoconfiança doméstica à Rússia… por meio de sanções. Quando os Estados bálticos perderam o mercado russo de queijos e outros produtos agrícolas, a Rússia rapidamente criou seu próprio setor de queijos e laticínios, ao mesmo tempo em que se tornou o maior exportador mundial de grãos.
A Rússia está descobrindo (ou está prestes a descobrir) que não precisa de dólares americanos como lastro para a taxa de câmbio do rublo. Seu banco central pode gerar os rublos necessários para pagar os salários domésticos e financiar a formação de capital. Os confiscos realizados pelos Estados Unidos, portanto, podem finalmente levar a Rússia a pôr fim à sua adesão à filosofia monetária neoliberal, como Sergei Glaziev vem defendendo há muito tempo, em favor da Teoria Monetária Moderna (MMT).
A mesma dinâmica de minar os objetivos ostensivos dos Estados Unidos ocorreu também no que respeita às sanções norte-americanas contra os grandes bilionários russos. A terapia de choque neoliberal e as privatizações da década de 1990 na Rússia deixaram os cleptocratas locais com apenas uma alternativa para tornar líquido o patrimônio que haviam subtraído do domínio público: transformar seus ativos em capital e vender suas ações em Londres e Nova York. As poupanças domésticas foram eliminadas e os assessores norte-americanos persuadiram o banco central da Rússia a não gerar seus próprios fundos em rublos.
O resultado foi que o patrimônio nacional de petróleo, gás e minério da Rússia não foi usado para patrocinar a racionalização da indústria e da habitação russas. Em lugar de a receita obtida com as privatizações ser investida na criação de novos meios de proteção russos, ela foi torrada nas aquisições dos novos-ricos em imóveis britânicos de luxo, iates e outros ativos globais de capital volátil (flight-capital). No entanto, o efeito, agora, das sanções que tornaram os dólares, libras e euros russos reféns é também o de tornar a city de Londres um lugar muito arriscado para alguém manter seus ativos. Ao impor sanções aos russos ricos mais próximos a Putin, as autoridades americanas esperavam induzi-los a se opor à fratura com o Ocidente e, assim, servirem efetivamente como agentes de influência da OTAN. Mas, para os bilionários russos, seu próprio país está começando a parecer mais seguro.
Por muitas décadas, o Federal Reserve e o Tesouro norte-americano lutaram para que o ouro não recuperasse seu antigo papel nas reservas internacionais. Mas como podem a Índia e a Arábia Saudita prezar por investimentos em dólares enquanto Biden e Blinken se dispõem a forçá-las a seguir a “ordem baseada em regras”… norte-americanas, em lugar de seus próprios interesses nacionais? Os recentes ditames dos Estados Unidos deixaram pouca alternativa a não ser começar a proteger a própria autonomia política, convertendo uma carteira em dólares e euros em reservas em ouro, para dispor de um ativo livre da responsabilidade política de se ver refém das demandas cada vez mais dispendiosas e perturbadoras dos Estados Unidos.
A diplomacia norte-americana esfregou no nariz da Europa a abjeta subserviência desta última ao dizer para seus governos que suas empresas devem se desfazer dos ativos russos por uma ninharia de dólares, uma vez que as reservas estrangeiras da Rússia foram bloqueadas e a taxa de câmbio do rublo despencou. Blackstone, Goldman Sachs e outros investidores americanos agiram rapidamente para comprar aquilo que a Shell Oil anglo-holandesa e outras empresas europeias estavam se desfazendo.
Ninguém pensou que a ordem mundial do pós-guerra, de 1945 a 2020, cederia tão rápido. Uma ordem econômica internacional efetivamente nova está surgindo, embora ainda não esteja claro qual será sua forma. Mas “provocar o urso” (prodding the bear) por meio do confronto Estados Unidos/OTAN com a Rússia ultrapassou o limiar da massa crítica. Já não se trata apenas da Ucrânia. Ela é não mais que um gatilho, um catalisador para apartar grande parte do mundo da órbita dos Estados Unidos/OTAN.
O próximo confronto pode ocorrer dentro da própria Europa. Políticos nacionalistas locais poderiam promover uma ruptura com as forças que prescrevem a obediência dos seus países aos Estados Unidos, quando o fazem na vã tentativa de mantê-los dependentes do comércio e dos investimentos centrados neste último. O preço dessa obediência renitente é impor uma inflação de custos para sua própria indústria, ao mesmo tempo em que se renuncia à própria dinâmica democrática, em favor da subordinação aos pró-cônsules norte-americanos da OTAN.
Tais consequências não podem, de fato, ser consideradas “não intencionais”. Já muitos observadores apontaram exatamente o que poderia ocorrer – com Putin e Lavrov à cabeça, explicando qual seria precisamente a resposta se a OTAN insistisse em encurralá-los, enquanto atacava a população russofalante da Ucrânia Oriental e transportava armamento pesado para as fronteira ocidentais da Rússia. As consequências foram antecipadas. Os neocons no controle da política externa dos Estados Unidos simplesmente deram de ombros. Reconhecer aquelas preocupações russas era suficiente para fazer de alguém um Putinversteher (“simpatizante de Putin”, em alemão).
As autoridades europeias não se sentiram desconfortáveis para expressar ao mundo suas preocupações de que Donald Trump estava louco e que vinha malogrando o curso da diplomacia internacional. Mas eles parecem ter sido pegos de surpresa quando do ressurgimento, na administração Biden, do ódio visceral à Rússia, alimentado pelo secretário de Estado Blinken e pela subsecretária Victoria Nuland-Kagan. Os modos e maneirismos de Trump podem até ser grosseiros, mas a gangue neoconservadora norte-americana tem uma obsessão global com o confronto que é muito mais ameaçadora. Para esses últimos, trata-se tão só de uma questão de qual realidade sairá vitoriosa: a “realidade” que eles acreditam poder construir, ou a realidade econômica para mais além do controle dos Estados Unidos.
O que os países ao redor do mundo não fizeram por si só para substituir o FMI, o Banco Mundial e outros braços fortes da diplomacia americana, os políticos norte-americanos os forçam agora a fazer. Ai invés de serem os países europeus, do Oriente Próximo e do Sul Global que rompem com a ordem mundial a partir de seus próprios cálculos e interesses econômicos de longo prazo, são os Estados Unidos que os estão conduzindo para fora dela, como fazem exemplarmente com a Rússia e a China. Mais e mais políticos podem encontrar apoio nos seus eleitores consultando-os se seriam mais bem atendidos com novos arranjos monetários, para substituir o comércio, o investimento e até o serviço da dívida externa dolarizados.
O arrocho nos preços de energia e alimentos está atingindo especialmente os países do Sul Global, coincidindo com seus problemas locais com a covid-19 e o iminente custo dolarizado do serviço da dívida. Algo pode acontecer. Até quando esses países vão impor austeridade às suas economias para atender aos credores estrangeiros?
Como as economias dos Estados Unidos e da Europa lidarão com as sanções contra as importações de gás e petróleo russos, cobalto, alumínio, paládio e outros materiais básicos? Diplomatas americanos fizeram uma lista de matérias-primas de que sua economia precisa desesperadamente e que, portanto, ficaram isentas das sanções comerciais impostas. Isso fornece a Putin uma lista útil de pontos de pressão, a serem mobilizados tanto na reformulação da diplomacia mundial quanto no eventual processo de ajudar países europeus (e outros) a romper com a cortina de ferro imposta pelos Estados Unidos para manter a dependência dos seus satélites nos suprimentos norte-americanos de alto custo.
Mas a ruptura final com o aventureirismo da OTAN pode vir de dentro dos próprios Estados Unidos. À medida que as eleições de meio de mandato deste ano se aproximam, os políticos vão encontrar um terreno fértil para mostrar aos eleitores norte-americanos que a inflação de preços liderada pela gasolina e pela energia é um subproduto da política do governo Biden de bloquear as exportações russas de petróleo e gás. O gás é necessário não apenas para o aquecimento e a produção de energia, mas também para produzir fertilizantes, que já se encontram em escassez mundial. E isso tudo é exacerbado pelo bloqueio às exportações de grãos da Rússia e da Ucrânia, elevando os preços dos alimentos nos Estados Unidos e na Europa.
Tentar forçar a Rússia a responder militarmente e, dessa forma, mostrar-se como um bicho-papão para o resto do mundo está se tornando tão apenas uma manobra destinada a corroborar a necessidade de a Europa contribuir mais para a OTAN, de comprar mais equipamentos militares norte-americanos e de agrilhoar a si mesma ainda mais severamente na dependência comercial e monetária aos Estados Unidos. A instabilidade que isso produz pode acabar por fazer com que os Estados Unidos pareçam tão ameaçadores quanto querem que a Rússia pareça.
*Michael Hudson é professor na Universidade de Missouri, Kansas City. Autor, entre outros livros de Super Imperialism: the economic strategy of american empire (Islet).
Tradução: Ricardo Cavalcanti-Schiel.
Publicado originalmente no portal OpEdNews.