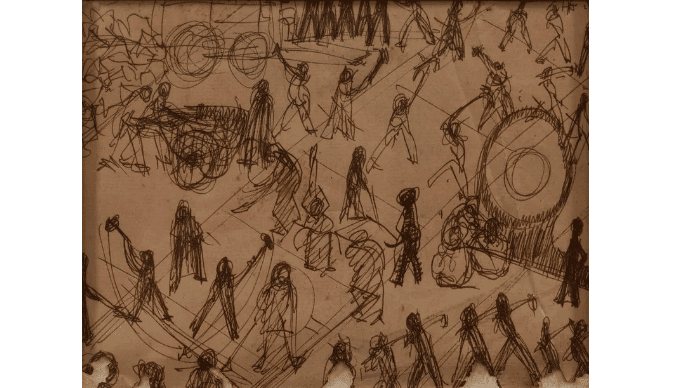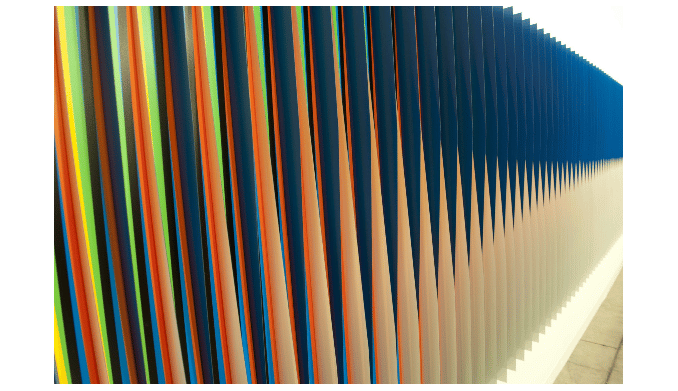Por LEDA PAULANI*
Introdução à nova edição do livro “O mito do desenvolvimento econômico”, de Celso Furtado
1.
Se há um traço distintivo na obra de Celso Furtado é a ideia de que não havia restrições objetivas para que o Brasil se tornasse um país forte, soberano, senhor de seu destino, com economia e cultura próprias e com um lugar ao sol no comando dos rumos mundiais. Mas, nele, isso nunca foi reflexo de um imaginário nacional grandioso, mas vazio, que se escorava preguiçosamente na fantasia do “país do futuro”.
Ao contrário, sua percepção embasava-se na análise que fazia do processo socioeconômico que ocorria por aqui, análise fundamentada teoricamente, colocando sempre como pano de fundo a conexão da economia brasileira com o andamento da acumulação de capital em nível mundial. Celso Furtado era um economista político. Mas, mais que isso, era um militante, que nunca deixou de lutar para que essa esperança se objetivasse e foi nessa condição que ocupou importantes cargos em vários governos. Constituiu-se, por isso, num intérprete privilegiado das venturas e desventuras desta periferia.
Mas, para falar cinquenta anos depois deste pequeno grande livro chamado O mito do desenvolvimento econômico, quero trazer à baila uma questão um tanto rarefeita e, à primeira vista, distante, tanto do tema do livro como do propósito de escrever sobre ele meio século depois. Refiro-me à questão metodológica, ou metateórica, ou epistemológica, como queiram. Para mostrar em que medida este livro pode ser entendido como um esforço singular de interpretação, é preciso considerar não só que Celso Furtado era um economista político, e que teve possibilidades concretas, como homem de Estado, de apurar ainda mais suas análises.
É preciso levar em conta também o que significava para ele o processo de produção do conhecimento, sobretudo no campo das ciências sociais. O desvio não será muito grande, não só porque o próprio livro traz também um ensaio metodológico, o que indica a importância que Furtado conferia ao tema, como porque, dado seu objeto, a reflexão mesma em torno da questão metateórica nos trará rapidamente de volta ao mito do desenvolvimento econômico.
Apesar de haver muito dessa discussão em sua tríade autobiográfica,[1] valho-me aqui, para tanto, de uma entrevista que tive o privilégio de fazer com ele em 1997, e de onde se extraiu um depoimento que foi publicado na revista Economia Aplicada,[2] então do ipe-usp.[3] Naquela tarde, passada no Rio de Janeiro, em conversa com o grande economista, que impressionava por sua figura intensa e forte, mas igualmente serena, ouvi que ele tivera três ordens de influência: a do positivismo (ele tinha uma biblioteca positivista em casa, segundo informou), que lhe permitiu adotar uma sorte de “metafísica construtiva” que lhe trouxe confiança na ciência, a de Marx, através da sociologia do conhecimento de Karl Mannheim, que o projetou na história, e, por meio de Gilberto Freyre, a da sociologia americana, que o alertou para a importância da dimensão cultural e do relativismo que daí deriva.
Das três fontes de influência, disse que a primeira depois refutou, porque foi perdendo a confiança na ciência. O que permaneceu muito forte nele foi o “historicismo” de origem marxiana, ou seja, a percepção de que a história é o contexto que envolve tudo e que dá ao homem um marco de referência para pensar. Para ele, “quem não tem esse pensamento histórico, não vai muito longe. Isso é o que separa um pensador do economista moderno, que pretende ser um engenheiro social”. Na mesma linha, ele vai afirmar pouco mais à frente que “a economia vai se tornando uma ciência cada vez mais formal, que é exatamente a negação da ciência social”.
De toda forma, a combinação das três heranças resultou numa visão da produção do conhecimento sobre o mundo social que, além da inescapável consideração da história, associa ao necessário saber teórico e analítico também a imaginação. Para ele, a ciência se constrói, em grande parte, por aqueles que, confiantes em sua imaginação, são capazes de, empurrados pela intuição, ultrapassar determinados limites.
Para Celso Furtado, toda a teorização que se construiu, a partir da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), entre os anos 1950 e 1970, sobre a singularidade latino-americana foi resultado dessa postura: “Acredito que o passo a mais que nós demos na América Latina foi justamente este: imaginamos que éramos capazes de identificar os nossos problemas e de elaborar uma teoria para eles, ou seja, imaginamos que havia uma realidade latino-americana, uma realidade brasileira, e então o fundamental aí tinha que ser captado dessa realidade”. O mito do desenvolvimento econômico é igualmente resultado desse espírito.
Além da imaginação, há ainda outro elemento apontado por Celso Furtado como essencial. Segundo ele, é preciso ter compromisso com alguma coisa, ou seja, se o objeto cujo conhecimento se busca é a realidade social, o diletantismo não é suficiente para que a imagem de atividade nobre que a ciência carrega tenha efetividade: “A ciência social tem que responder às questões colocadas pela sociedade […], não podemos nos eximir de compromissos mais amplos, porque há muitas áreas que não merecem atenção da ciência, e são áreas vitais”. Assim, por mais que haja consciência dos limites ao desenvolvimento do conhecimento que lhe são intrínsecos, ou seja, criados pela própria sociedade, é preciso insistir na produção de uma ciência social pura, que não seja refém de interesses e clientelas específicos. Mas não é fácil, ele avisa.
Para o próprio Celso Furtado, no entanto, isso nunca foi um problema. O mito do desenvolvimento econômico, escrito num momento em que se entoavam loas ao dito “milagre econômico” – seis anos de crescimento a taxas que hoje diríamos “chinesas” –, não se deixou seduzir pelo clima de euforia (construído, ademais, sob as botas dos militares).
Considerado o momento de seu nascimento, não foi pouca coisa, em meio a tanto ufanismo, adentrar a cena um livro que insistia em que, para países periféricos como o Brasil, o desenvolvimento econômico, se entendido tão somente como a possibilidade de os países mais pobres alcançarem em algum momento o padrão de vida dos países centrais, era um mito; mais ainda, um mito que se configurava como “um dos pilares da doutrina que serve de cobertura à dominação dos povos dos países periféricos”. Seu compromisso com o país obrigou-o a dizer que era melhor ir devagar com o andor, escapar de objetivos abstratos, como o puro e simples “crescimento”, e realizar a tarefa básica de identificar as necessidades fundamentais do coletivo.
2.
E com isso chegamos ao livro objeto deste prefácio, não sem antes enfatizar que ele jamais teria sido escrito se a pena que o redigiu tivesse por dono um economista convencional, que elabora seus modelos sem pudor, alheio à história e às carências de seu país, esquecendo-se, como disse Celso Furtado na citada entrevista, “que a ciência social se baseia na ideia de que o homem é, antes de tudo, um processo, não é um dado, uma coisa inerte”.
São quatro os ensaios que compõem o livro. O primeiro, o mais longo e então inédito, cuja quinta e última seção fornece o nome da obra, versa sobre as tendências estruturais do sistema capitalista na fase de predomínio das grandes empresas. A seu lado vão mais três peças: uma reflexão sobre desenvolvimento e dependência, que o próprio Furtado considera, na apresentação que faz, como o núcleo teórico dos demais, uma discussão sobre o modelo brasileiro de subdesenvolvimento e, por fim, o dito “ensaio metodológico”, no qual o autor, não por acaso, faz uma digressão sobre objetividade e ilusionismo em Economia.
O que conecta os quatro ensaios, para além de terem sido escritos entre 1972 e 1974 – período em que Celso Furtado atuou como professor visitante na American University (Estados Unidos) e na Universidade de Cambridge (Inglaterra) –, é o espírito militante do autor e sua inquebrantável disposição para analisar, alertar e apontar os descaminhos que ia tomando o desenvolvimento brasileiro, assentado em imensas desigualdades e delas dependente para ser “bem-sucedido”. Daí todo seu esforço de sustentar a análise na discussão sobre as tendências estruturais do sistema capitalista. Como pensar o desenvolvimento de um país periférico como o Brasil sem vinculá-lo ao plano internacional?
O objeto inicial de exame no ensaio que dá título ao livro é o estudo The Limits to Growth [Os Limites do crescimento], trabalho realizado por Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers e William W. Behrens em 1972, no Instituto de Tecnologia de Massachussetts (mit), nos Estados Unidos, para o Clube de Roma.
No estudo, que ficaria bastante famoso (traduzido para 30 idiomas, vendeu mais de 30 milhões de cópias) há aquilo que Furtado vai chamar de “profecia do colapso”. A tese central é que se o desenvolvimento econômico, nos moldes em que ia se dando nos países mais avançados, fosse universalizado, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seriam de tal ordem que o sistema econômico mundial colapsaria.
Celso Furtado discorda da tese, não por divergir da questão em si, isto é, do problema causado pelo consumo exacerbado de recursos não renováveis e da deterioração ambiental que daí advém. Ao contrário, chega mesmo a dizer que “em nossa civilização, a criação de valor econômico provoca, na grande maioria dos casos, processos irreversíveis de degradação do mundo físico”, e que, portanto, é preciso reconhecer “o caráter predatório do processo de civilização, particularmente da variante desse processo engendrada pela revolução industrial”.
Sua discordância deriva do pressuposto da tese, a saber, que o desenvolvimento era um processo de tipo linear, pelo qual passariam todos os países, de modo que, em algum momento da história, todos teriam o mesmo tipo e o mesmo nível de desenvolvimento então em vigor nos países centrais. Para nosso autor, a tese, totalmente equivocada, se chocava com aquela que ele considerou, na entrevista, como “a contribuição mais importante que dei à teoria econômica”, qual seja, sua teoria do subdesenvolvimento, que ele desenvolvera uma década antes. Se o subdesenvolvimento era, não uma etapa, mas um tipo específico de desenvolvimento capitalista, a tese linear estava descartada por definição, o que tornava pouco realista a profecia do colapso.
Muito marcado pelo que ia se dando no Brasil, Celso Furtado concluíra que, dada a divisão internacional do trabalho, consagrada com a consolidação do capitalismo, passaram a existir estruturas socioeconômicas em que o produto e a produtividade do trabalho crescem por mero rearranjo dos recursos disponíveis, com progresso técnico insignificante, ou, pior ainda, por meio da dilapidação de reservas de recursos naturais não reprodutíveis. Assim, o novo excedente não se conectava com o processo de formação de capital, tendendo tais economias a se especializarem na exportação de produtos primários.
Todavia, para Celso Furtado, mais do que a tendência à produção de bens primários, sobretudo agrícolas, o que estabelecia a linha demarcatória entre desenvolvimento e subdesenvolvimento era a orientação dada à utilização do excedente engendrado pelo incremento de produtividade. Nessas economias, de fraca formação de capital, o excedente, transmutado em capacidade para importar, permanecia disponível para a aquisição de bens de consumo. Assim, era pelo lado da demanda de bens de consumo que tais países se inseriam mais profundamente na civilização industrial.
A industrialização por substituição de importações, quando surge, pelas mãos de subsidiárias de empresas dos países cêntricos, acaba então por “reforçar a tendência para a reprodução de padrões de consumo de sociedades de muito mais elevado nível de renda média”, resultando daí “a síndrome de tendência à concentração de renda, tão familiar a todos os que estudam a industrialização dos países subdesenvolvidos”.
3.
A esse traço, que, no segundo ensaio do livro, Celso Furtado relaciona com aquilo que chama de “dependência cultural” (sobretudo das elites), ele associa as características tomadas pelo processo de acumulação naquele momento, a saber, o fato de serem as grandes empresas internacionais a dar-lhe o tom. Entre essas características, o domínio dos oligopólios (com os padrões de consumo se homogeneizando no plano internacional), operações em centros de decisão que escapam ao controle dos governos nacionais, e uma tendência à construção de um espaço unificado de atuação capitalista.
Nesse contexto, os países periféricos, em meio à industrialização por substituição de importações, verão um processo de agravamento de suas disparidades internas. Ao utilizarem tecnologia em geral já amortizada, as grandes empresas oligopólicas conseguiam superar o obstáculo produzido pela incipiente formação de capital, mas industrializavam a periferia perpetuando o atraso cifrado na desigualdade. Sem o dinamismo econômico do centro do sistema, caracterizado por permanente fluxo de novos produtos e elevação dos salários reais, o capitalismo periférico, em contraste, “engendra o mimetismo cultural e requer permanente concentração de renda”.
Em poucas palavras, para Celso Furtado, a evolução do sistema capitalista que ele presenciara caracterizava-se por “um processo de homogeneização e integração do centro, um distanciamento crescente entre o centro e a periferia e uma ampliação considerável do fosso que, na periferia, separa uma minoria privilegiada e as grandes massas da população”. Daí porque a profecia do colapso não tinha condições de vingar, já que o padrão de vida dos países do centro jamais se universalizaria na periferia do sistema.
O Brasil, com sua expressiva dimensão demográfica e um setor exportador altamente rentável, mostra Celso Furtado no terceiro ensaio do livro, tornara-se um caso de sucesso do processo de industrialização, mas não conseguira operar com as regras que prevalecem nas economias desenvolvidas, de modo que o sistema então criado foi espontaneamente beneficiando apenas uma minoria.
4.
Feito esse rápido inventário das principais observações e análises de Celso Furtado, o que podemos dizer de O mito do desenvolvimento econômico cinquenta anos depois? É evidente que há um contexto datado na obra, por exemplo, quando nosso autor afirma que o privilégio de emitir o dólar “constitui prova irrefutável de que esse país exerce com exclusividade a tutela do conjunto do sistema capitalista”. Cinco décadas depois, ainda que o privilégio continue a existir, e tenha sido reforçado pela política de Paul Volcker, presidente do Federal Reserve, ao final dos anos 1970, a liderança americana tem estado sob permanente controvérsia, principalmente por conta da assombrosa evolução da China.
Da mesma maneira, considerada a forma como Celso Furtado faz sua análise, fica implícito que ele considerava ao menos a industrialização, ainda que não a superação do atraso, como algo que tinha se consolidado no Brasil, o que, sabemos hoje, não é verdade, dado o evidente processo de desindustrialização precoce sofrido pelo país.
Isso posto, porém, os acertos de Celso Furtado são de espantar. Nem é preciso considerar sua preocupação com o permanente desgaste dos recursos naturais, a inevitável poluição e o uso frequente de “vantagens comparativas predatórias”, sobretudo na periferia do sistema, que atravessa todo o livro, evidência máxima da correta sintonia em que operava a economia política furtadiana.
O que parece aqui mais importante mencionar é sua correta percepção quanto às tendências unificadoras do sistema capitalista. Note-se que estávamos em 1974, ainda bem longe, portanto, da queda do muro de Berlim e de se começar a falar em globalização, e mesmo assim ele afirma que “as tendências a uma crescente unificação do sistema capitalista aparecem agora com muito maior clareza do que era o caso na metade do decênio de 1960”.
Associada a isso, também a percepção precisa de que ia se formando ao longo do globo uma espécie de grande e única reserva de mão de obra à disposição do capital internacional, haja vista a facilidade com que as grandes empresas podiam evitar aumentos de salário, principalmente na periferia, deslocando os investimentos para áreas com condições mais favoráveis.
Contudo, o que é de fato mais assombroso é o acerto de seus prognósticos, feitos há cinquenta anos, quanto ao destino da modernização em curso no Brasil. Desde então até hoje, com um e outro alívio trazido por políticas sociais de alto impacto implantadas por governos populares, o atraso só fez transbordar. Esse esforço singular de interpretação não teria sido possível sem a compreensão que tinha Celso Furtado da verdadeira constituição do processo de produção de conhecimento do social, aliando à teoria e à percepção do caráter histórico dos fenômenos sob análise também a imaginação e o compromisso com a coletividade.
Na já citada entrevista, diz Celso Furtado: “Minha vida foi simultaneamente um êxito e uma frustração: um êxito pelo fato de que eu acreditei na industrialização, na modernização do Brasil, e isso se realizou; e uma frustração porque eu talvez não tenha percebido com suficiente clareza as resistências que existiam à consolidação mais firme desse processo, ou seja, que, a despeito da industrialização, o atraso social ia se acumulando”.
Não é preciso dizer mais, penso, sobre a importância de se voltar a ler hoje O mito do desenvolvimento econômico,reeditado boa hora.
*Leda Maria Paulani é professora titular sênior da FEA-USP. Autora, entre outros livros, de Modernidade e discurso econômico (Boitempo) [https://amzn.to/3x7mw3t]
Referência

Celso Furtado. O mito do desenvolvimento econômico. São Paulo, Ubu Editora, 2024, 160 pp. [https://amzn.to/3Zdg2Ky]
Notas
[1] Cf. Celso Furtado, Obra autobiográfica (3 vols.). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
[2] Id., “A longa busca da utopia”, Economia Aplicada, v. 1, n. 3, 1997, p. 545-63.
[3] Antes vinculada ao Instituto de Pesquisas Econômicas da fea-usp (ipe-usp), responsável pela pós-graduação em Economia da Universidade de São Paulo (campus Butantã), a Economia Aplicada passou, alguns anos depois, para a gestão da fea-usp de Ribeirão Preto.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA