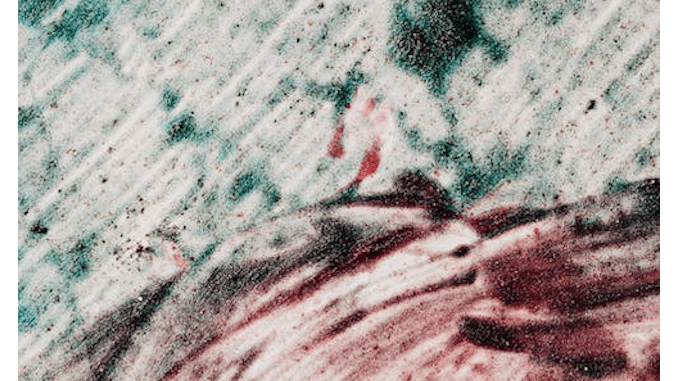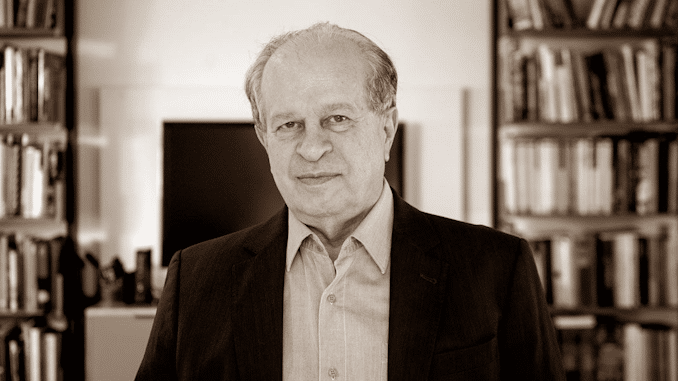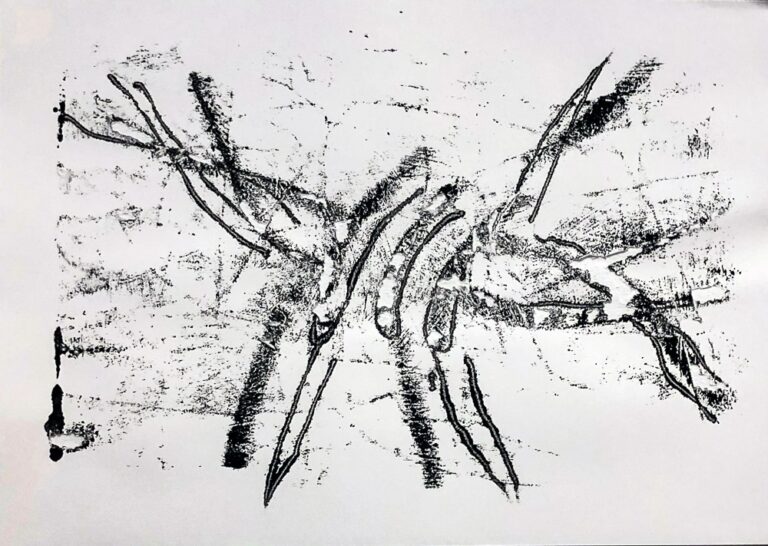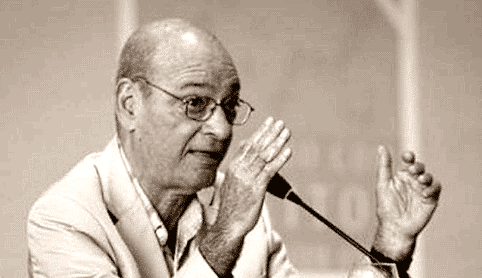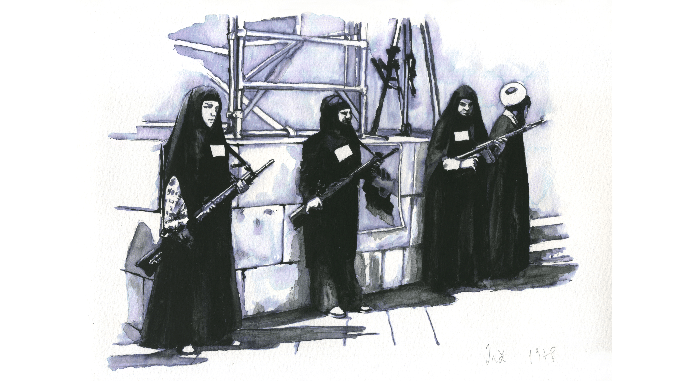Por OSVALDO COGGIOLA
A posse de importantes quantidades de “capital” por um setor diferenciado e minoritário da sociedade, qualquer que fosse sua origem social prévia, mudou paulatinamente as coordenadas econômicas e sociais
A sociedade burguesa se projetou a partir do sucesso, nacional, continental e, finalmente, mundial, de um dos processos de acumulação originária de capital, aquele situado especificamente na Inglaterra. O segredo da acumulação capitalista originária consistia em que “o dinheiro e a mercadoria não são capital desde um primeiro momento, como tampouco o são os meios de produção e de subsistência. Requerem ser transformados em capital.
Mas esta transformação só pode se operar em circunstâncias coincidentes: era necessário que se enfrentassem e entrassem em contato duas classes muito diferentes de possuidores de mercadorias; de um lado os proprietários de dinheiro, de meios de produção e de subsistência, a quem compete valorizar, mediante a aquisição de força de trabalho alheia, a soma de valor da qual se apropriaram; do outro lado, trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalho”.[i] A acumulação originária de capital foi o parto da sociedade capitalista ao mesmo tempo em que um processo de dissolução de relações de produção pré-capitalistas, que se condicionaram e alimentaram mutuamente.
As vias da dissolução do Antigo Regime e do surgimento de um novo modo de produção foram traçadas pela ruína e expropriação compulsória de camponeses e artesãos, criando uma força de trabalho livre, e pela acumulação de riqueza e meios de produção por parte de uma nova classe, que começou a ser chamada de “burguesia”, denominação derivada do latim medieval burgensis, associado ao termo do latim tardio burgo, e sobre a raiz germânica burg-baurgsou, que designava as pequenas cidades que surgiram com o renascimento da atividade comercial no fim da Idade Média.
A posse de importantes quantidades de “capital” por um setor diferenciado e minoritário da sociedade, qualquer que fosse sua origem social prévia, mudou paulatinamente as coordenadas econômicas e sociais. A transição para um novo regime social foi, no entanto, em primeiro lugar, um processo de dissolução da velha sociedade: “A longa crise da economia e da sociedade europeias durante os séculos XIV e XV marcou as dificuldades e os limites do modo de produção feudal no último período da Idade Média”.[ii]
Foi a partir da Inglaterra, onde esse processo avançou mais rapidamente, que as novas tendências econômicas se estenderam para outros países europeus, e a partir de Europa que elas se estenderam para o mundo todo. Para isso, foi necessário que a acumulação capitalista primitiva, baseada na violência, organizada pelo Estado, no roubo, no logro comercial e nas finanças usurárias, se transformasse em acumulação capitalista plena, baseada na troca universal de valores equivalentes e na acumulação e reprodução ampliada de capital. A acumulação originária devia ceder seu lugar ao “civilizado” comércio de mercadorias, incluída a força de trabalho mercantilizada; a acumulação comercial, desse modo, abriu o caminho para a acumulação propriamente capitalista, baseada na propriedade burguesa dos meios de produção sobre os que se fundava crescentemente a vida social.
A transição para uma nova sociedade percorreu diversas etapas. Os primeiros burgueses, que se rebelaram nas cidades contra a Igreja nos séculos XI e XII, não alteraram decisivamente o modo de produção, pois ainda se inscreviam nos parâmetros de reprodução do sistema feudal: “A situação do mercador, unindo polos de produção e de consumo, determinou sua consciência social, dada por seu interesse em manter as condições pré-capitalistas em que fundamentava seu lucro, dadas pelo papel dos bens de prestígio n consumo senhorial, pelo regime corporativista da produção artesanal nos grêmios, pelo fracionamento da soberania política e pelo monopólio comercial”.[iii]
O capital comercial da Alta Idade Média buscava participar de uma parte da renda feudal, operando a partir do intercâmbio desigual entre regiões e setores produtivos. Suas bases de operação se encontravam nas periferias dos burgos, que paulatinamente adentraram, sem substituir as relações feudais. Embora com um efeito lentamente deletério do feudalismo, o desenvolvimento mercantil baseado no “comprar barato e vender caro” denuncia sua relação indireta com o processo produtivo, ou seja, não de fonte de acumulação permanente de capital.[iv]
Os combates pelas autonomias urbanas contra as autoridades eclesiásticas ensejaram um amplo repertório de movimentos, que os aproximavam das heresias religiosas. As coisas mudaram nos séculos sucessivos. Depois de um recuo econômico na Europa no século XIV, a retomada comercial experimentou um salto a partir do século XV. No século precedente, a destrutiva Peste Negra e catástrofes assemelhadas foram um fator dinamizador da economia e das relações mercantis, presidido por um reordenamento das relações de propriedade: “Por causa das mortes, dos bens sem herdeiros e do questionamento de propriedades de casas e terras, verificou-se uma onda de litígios, tornada caótica devido à escassez de tabeliões. Ocupantes abusivos, ou a Igreja, se apropriaram de propriedades sem patrão. Fraudes e extorsões praticadas com os órfãos pelos seus tutores legais se transformaram num escândalo”.
Essa catástrofe era produto das novas relações e intercâmbios econômicos. A peste penetrou na Europa pela Sicília, em 1347, trazida por mercadores genoveses que fugiam de um cerco de tropas húngaro-mongóis (portadoras da doença) na Crimeia, eliminando rapidamente metade da população da ilha italiana. Espalhou-se pelo Norte da Itália em 1348, quando também atingiu o Norte da África. No final desse ano, a peste alcançou à França e os países ibéricos.
Em 1349, progredindo em razão de dez quilômetros por dia, a peste atingiu Áustria, Hungria, Suíça, Alemanha, Holanda e Inglaterra: “Numerosas cidades adotaram medidas rigorosas de quarentena. (Algumas cidades) proibiram a todos seus cidadãos que se encontrassem de visita ou devido a negócios em cidades atingidas voltar a casa, e também foi vetada a importação de lã e de linho”.[v]
A peste dizimou entre um quarto e metade da população europeia, entre 25 e 40 milhões de pessoas. Sua principal consequência econômica foi que aproximadamente metade dos trabalhadores agrícolas europeus morreu, mudando a estrutura do mercado de trabalho: “Os sobreviventes viram um grande aumento dos seus ordenados, pois tinham agora a possibilidade de regatear os préstimos com os habitantes das cidades, que precisavam desesperadamente dos alimentos que apenas os servos produziam… A doença matou pessoas, mas não danificou a propriedade. Tudo que os mortos tinham possuído pertencia agora a outros. A nova riqueza dos sobreviventes lançou-os numa das maiores fúrias gastadoras da história. Os últimos 25 anos do século XIV foram uma época de prosperidade. O consumismo desmedido foi alimentado pelo relaxamento da moral que se seguiu à epidemia. Quando estamos cercados pela morte não é fácil impor regras à família, aos vizinhos, ou aos súditos”.[vi]
Quem diz consumo diz comércio, portanto moeda e, portanto, metais preciosos. Nessa fase, o capitalismo se identificava ainda com o capital comercial, dominante na Europa do século XIV até pelo menos inícios do século XVIII, período em que a burguesia mercante europeia começou sistematicamente a buscar riquezas, principalmente auríferas e argentíferas, fora da Europa. Os grandes comerciantes estavam à procura de ouro, prata, especiarias e matérias primas não encontradas em solo europeu: financiados por reis, nobres e banqueiros, começaram um ciclo de exploração cujo objetivo principal era o enriquecimento mediante o acúmulo de capital, a busca de lucros comerciais crescentes; houve, para isso, uso cada vez maior de mão de obra assalariada, com a moeda-dinheiro substituindo o antigo sistema de trocas, relações bancárias e financeiras, fortalecimento do poder econômico da burguesia.
Foi no século XV que se acelerou o processo de acumulação primitiva de capital na Inglaterra, onde havia uma legislação que congelava o valor das terras da nobreza: a nobreza enfraquecia economicamente, já que subia o preço do que consumia, enquanto sua renda continuava a mesma. Assim, entre os séculos XIV e XVI, os movimentos urbanos de revolta continuaram, agora protagonizados por setores enriquecidos que tratavam de obter um lugar para participar do governo das cidades. À par dessas lutas, surgiram abalos sociais de outra natureza que, pela primeira vez, questionavam o feudalismo dominante. Foram dirigidos por primitivos empresários e foram paralelos às grandes lutas camponesas.
A arrancada vitoriosa do novo modo de produção situou-se na segunda metade do século XVI e no começo do século XVII, primordialmente na Inglaterra e nos Países Baixos. Frédéric Mauro distinguiu três “épocas” no século XVI. Na primeira (1500-1530) os portugueses se apropriaram do mercado das especiarias, e o Mediterrâneo, dominado pelos turcos, cedeu seu espaço ao Atlântico. Na segunda (1530-1560) começaram a chegar os carregamentos de prata das Américas, e Carlos V tentou salvar a unidade da cristandade: “(Ele) era o imperador dos últimos dias, aquele a quem o Altíssimo tinha outorgado a missão de estabelecer a dominação universal da Igreja, abrindo a via para o fim dos tempos, que veria o retorno glorioso do Cristo”.[vii]
Superada (provisoriamente) essa miragem milenarista, a terceira época, estendida até o fim do século, testemunhou grandes crises (abdicação do Imperador, crises financeiras, afundamento de Lyon, Toulouse, Antuérpia) e guerras religiosas, mas também o revigoramento das exportações de Prata do Peru e do México, assim como uma “pré-revolução industrial” na Inglaterra. O novo modo de produção reconhecia seus primeiros passos na Itália, onde se registrou “a existência de empresas capitalistas, particularmente na indústria de lã, em inícios do século XVI, e inclusive no XV e XIV. Na Inglaterra, a partir do reinado de Henrique VII [1509-1547] alguns ricos fabricantes têxteis desempenharam nos condados do Norte e do Oeste papel semelhante ao dos manufatureiros contemporâneos… Houve, na Inglaterra, desde a época do Tudor, um desenvolvimento espontâneo do capitalismo industrial, já potente o bastante para fazer temer que a pequena produção fosse absorvida ou destruída”.[viii]
Os primeiros “surtos industrias” se situaram na Itália, em Flandres, mas também na Inglaterra: “A terceira região na qual floresceu a indústria têxtil medieval foi a Inglaterra. Com lentidão, a Inglaterra se livros de seu ‘estatuto colonial’ como país produtor de matérias primas, se transformando em país industrializado que abastecia vestimentas a extensas zonas da Europa e inclusive a parte da África e Ásia. (Havia) um predomínio esmagador dos panos ingleses nos mercados europeus a partir do ano 1350”.[ix] Através de um lento processo, com raízes ainda medievais, que no Sul da Inglaterra, a “pequena nobreza” progressista, a gentry,[x] não enveredou pelo velho parasitismo senhorial e passou a dedicar-se à produção de lã para a nova e auspiciosa indústria de tecido voltada para o mercado interno e externo, o que esteve na raiz dos cercamentos de terra, enclosures, para garantir terrenos para os crescentes rebanhos fornecedores da matéria prima dessa indústria.
Nas palavras de Marx, “a nova nobreza era filha de seu tempo, para o qual o dinheiro era o poder de todos os poderes. Transformação de terras aráveis em pastos para a criação de ovelhas era seu slogan”. Não lhe faltavam razões: “Os cercamentos facilitaram a inovação e as mudanças no uso da terra porque as restrições impostas pelos direitos de propriedade comum, a dispersão da terra e a tomada de decisão coletiva poderiam ser superadas. Os contemporâneos foram praticamente unânimes em afirmar que os campos fechados ofereciam mais oportunidades de ganhar dinheiro do que os campos comuns [abertos]”.[xi]
As transformações nas relações de propriedade foram, desse modo, possibilitadas pelos cercamentos agrários e pelo crescimento da produção camponesa, causada pela exploração das terras disponíveis mediante métodos de cultivo mais intensivos. A formação de uma burguesia capitalista com presença e dimensões nacionais exigiu condições suplementares. O entrelaçamento dos interesses econômicos da nobreza do Sul com a burguesia manufatureira e comercial do Norte deveu-se à origem burguesa da fração que havia ingressado na gentry mediante compra de terras confiscadas e de títulos nobiliárquicos.
Os cercamentos agrários do século XVI foram acompanhados pela difusão da manufatura têxtil na zona rural, longe dos óbices à sua expansão inerentes às rígidas regras das corporações de ofício das cidades. Floresceu assim o sistema doméstico de manufatura, putting-ot system, com o comerciante distribuindo as primitivas máquinas de tecido e fiação entra camponeses e habitantes dos burgos, “colhendo” posteriormente a produção.
Na Inglaterra, somado a isso, coincidiram a disponibilidade e a possibilidade de uma exploração rentável do capital monetário, com uma impulsão estatal para o aproveitamento em maior escala das inovações e descobertas técnicas. O capital comercial inglês, o grande protagonista desse processo, era originado menos no crescimento da demanda externa e no comércio com as primeiras colônias, do que na expansão do comércio interno, “uma demanda cuja satisfação apenas dependia da produção interna, um mercado nacional ligado a um determinado produto suscetível de proporcionar elevados lucros a usos facilmente comportáveis”.[xii] Ao mesmo tempo, no decorrer do século XVI, entre a fundação da colônia de Virginia (1534) e a criação da Companhia Comercial das Índias Orientais (1600), passando pela derrota infringida à Armada espanhola (1588), Inglaterra sentou as bases de seu império colonial e de seu domínio mundial.
Os Países Baixos, por sua vez, viraram uma encruzilhada marítima e comercial de alcance continental depois do saque do porto belga de Anvers pelos espanhóis. Anvers (Antuérpia) não era só um porto importante: a cidade era, à época, um dos centros da vida econômica europeia. Era o principal centro de vendas das obras de arte do continente e, junto com Veneza, o berço do periodismo e da crítica modernas (a obra de Erasmo de Rotterdam floresceu nessa cidade).
Em novembro de 1576, tropas espanholas atacaram Antuérpia, impondo um massacre de três dias à população da cidade. A selvageria do saque levou as dezessete províncias dos Países Baixos a se unirem contra a coroa espanhola, o que resultaria numa vitoriosa guerra pela sua independência. Sete mil vidas e uma grande quantidade de propriedades foram perdidas no saque. A crueldade e a pilhagem ficaram conhecidas como a “fúria espanhola”.[xiii] Em consequência da destruição de Antuérpia, Amsterdã se transformou na nova “loja da Europa”, com a criação das primeiras bolsas de mercadorias e de valores, situadas a escassa distância umas das outras, para facilitar as transações.
A bolsa de Antuérpia fora criada em 1531; na vizinha França, havia bolsas e mercadorias em Lyon (1548), Toulouse (1549), Rouen (1556, Bordeaux (1571). Em Londres, Thomas Griesham, estabelecido em Antuérpia desde 1551, e responsável pelo câmbio de moedas da rainha Elizabeth de Inglaterra, fundou em 1564 o Royal Exchange, cujo prédio foi concluído em 1571, “permitindo finalmente aos operadores econômicos não mais realizar seus negócios a céu aberto, situação pouco propícia num país notabilizado pelas névoas e a chuva”.[xiv]
O período situado entre os séculos XVI e XVIII foi denominado “era do mercantilismo”, conceito associado à exploração geográfica mundial da “Era dos Descobrimentos” e à exploração dos novos territórios por mercadores, especialmente da Inglaterra e dos Países Baixos; também com a colonização europeia das costas da África e das Américas e com o rápido crescimento no comércio externo dos países europeus. André Gunder Frank, distinguiu três períodos do capitalismo: o mercantilista (1500-1770), o capitalista industrial (1770-1870) e o imperialista (1870-1930).
O mercantilismo era “um número de teorias econômicas aplicadas pelo Estado num momento ou outro, num esforço para conseguir riqueza e poder. A Espanha foi no século XVI o país mais rico e poderoso do mundo. A explicação para isso estava na exploração do ouro e da prata”.[xv] Era um sistema baseado na defesa do comércio com fins lucrativos, embora as mercadorias fossem ainda produzidas com base em um modo de produção não capitalista; o bulionismo salientava a importância de acumular metais preciosos. O termo derivava do inglês bullion: ouro em pequenos lingotes; chamado também de metalismo, pela teoria econômica que quantificava e hierarquizava a riqueza através da quantidade de metais preciosos possuídos.
Os políticos mercantilistas argumentavam que o Estado devia exportar mais bens do que importava, para que os países estrangeiros tivessem que pagar a diferença em metais preciosos: somente matérias primas que não pudessem ser extraídas no próprio país deveriam ser importadas. O mercantilismo promovia subsídios e concessão de monopólios comerciais a grupos de empreendedores, assim como tarifas protecionistas, para incentivar a produção nacional de bens manufaturados.
Os empresários europeus, apoiados por controles, subsídios e monopólios estatais, realizavam a maior parte de seus lucros a partir da compra e venda de mercadorias. Segundo Francis Bacon, figura central da época como político (chegou a chanceler da Inglaterra), filósofo empirista, cientista, e ensaísta, o objetivo do mercantilismo era “a abertura e o equilíbrio do comércio, o apreço dos fabricantes, o banimento da ociosidade, a repressão dos resíduos e excesso de leis, a melhora e administração do solo; a regulamentação dos preços”.[xvi] Nesse período, o Estado substituiu as corporações locais como regulador da economia.
Heckscher resumiu o mercantilismo definindo-o como “um complexo de fenômenos econômicos (derivados da) aparição e consolidação de Estados surgidos sobre as ruínas da monarquia universal romana, delimitados territorialmente e quanto à sua influência, embora soberanos dentro de suas fronteiras. A preocupação pelo Estado se destaca no centro das tendências mercantilistas, tal como elas se desenvolveram historicamente; o Estado é, simultaneamente, o sujeito e o objeto da política econômica mercantilista”.[xvii] O mercantilismo foi, portanto, um instrumento do Estado, e não o contrário.
Joseph Schumpeter reduziu as proposições mercantilistas a três preocupações principais: controle do câmbio, monopólio de exportação e saldo da balança comercial. Nos reinos europeus mais importantes, o mercantilismo tornou-se dominante: ele era menos uma doutrina do que uma política, baseada no imperativo de acúmulo de divisas em metais preciosos pelos cofres dos reinos, por meio de um comércio exterior de caráter protecionista, com resultados lucrativos para as balanças comerciais, o que pressupunha um desenvolvimento constante e sustentado desse comércio. Propondo uma regulamentação rigorosa e planejada da economia nacional para suas transações no exterior, o mercantilismo, simultaneamente, lutava pela liberdade de comércio interna no sentido de eliminar os particularismos regionais que dificultavam o trânsito interno de mercadorias.[xviii]
A política mercantilista não buscava o ouro pelo ouro, mas como meio de fortalecer a economia nacional e, por meio de uma balança comercial e de pagamentos favorável, estimular o desenvolvimento industrial que permitiria a exportação de produtos manufaturados e a compra de matérias primas que retroalimentassem a indústria local. Segundo um economista liberal francês do século XIX, com o “colbertismo” (sinônimo galo de mercantilismo),[xix] na França “via-se por toda parte o surgimento de fábricas; o alto preço de seus produtos rendia aos chefes da indústria grandes benefícios, e multiplicava seus capitais pela acumulação (provocando a) submissão absoluta dos trabalhadores aos capitalistas e o crescimento da miséria individual em face da riqueza geral”.[xx]
O mercantilismo foi um marco na ascensão econômica e política da burguesia europeia. Para Pierre Deyon, ele foi o conjunto das práticas de intervenção econômica que se desenvolveram na Europa desde a metade do século XV, prefigurando o nacionalismo autárquico e o intervencionismo do Estado.[xxi] Maurice Dobb definiu o mercantilismo como a política econômica de uma era de acumulação capitalista primitiva, caracterizando o conjunto de ideias e práticas econômicas dos Estados europeus durante o período situado entre os séculos XV/XVI e XVIII.
Intercâmbio importante de mercadorias, mercados, progresso tecnológico, existiam antes do capitalismo, e se encontravam tão desenvolvidos ou mais do que na Europa em outras partes do mundo. O capitalismo moderno se expandiu, no entanto, na Europa do século XVI, a partir de um país que não era especialmente rico nem densamente povoado, a Inglaterra. Seus inícios se situaram no campo, especificamente nas mudanças nas relações sociais de propriedade e na perda de poder político da nobreza, que conduziram a um tipo de mercado novo.
Mercados existiram quase desde sempre, mas os mercados pré-capitalistas não dependiam da extração de mais-valia de produtores: eles dependiam da circulação de bens, especialmente de luxo, de uma região para outra. Na Europa, eles ofereciam oportunidades de enriquecimento para comerciantes holandeses ou florentinos; não impulsionavam, no entanto, nenhum ou quase nenhum aumento da produtividade, não condicionando a produção. O desenvolvimento econômico inglês criou um novo tipo de mercado, que se estendeu por todo o país.
O capital agrário inglês foi o criador da moderna propriedade fundiária, responsável por promover a dissolução das relações de honra, tradição e vínculo pessoal com a terra, próprias do feudalismo, substituídas pelo mero interesse econômico e transformando-a em mercadoria. O interesse econômico pela terra ocorre quando é possível auferir uma renda fundiária. Foi na Inglaterra do século XVI que começou a surgir um mercado que impunha de modo inexorável o aumento da produtividade da terra. Nesse país, a propriedade da terra estava nas mãos de grandes senhores, que a alugavam a meeiros e parceiros.
O poder político da nobreza tinha diminuído, em benefício da monarquia, o que impedia aos senhores da terra extrair novos benefícios da exploração dos camponeses pela força ou pela imposição de taxas. A propriedade de terra, no entanto, lhes conferia ainda poder econômico. Os tradicionais aluguéis fixos foram sendo substituídos por aluguéis determinados pelo mercado, por aquilo que os camponeses poderiam pagar, ou pelo que poderiam pagar melhorando sua produtividade.
Essas novas relações entre senhores e camponeses criaram na Inglaterra uma situação única. A formação econômico-social de Portugal, baseada na sesmaria, por exemplo, não era tipicamente feudal, pois suas raízes não estavam ligadas a um passado arcaico ou decorrente de relações servis. A Coroa concentrava grande parte das terras e concedia seu domínio condicionado ao uso, sem, contudo, abrir brechas para o processo da criação da moderna propriedade territorial como pressuposto para a formação de um mercado de trabalho livre.
Na Inglaterra, diversamente, a usurpação de terras ocorreu conduzida pela nobreza fundiária, apoiada pelos capitalistas, que almejavam transformar a terra em uma mercadoria, possibilitando ampliar a área de exploração agrícola e intensificar o processo de proletarização dos camponeses. Nesse país, a concentração fundiária foi legitimada pelo Estado; a Coroa foi responsável pela alienação das terras do Estado para particulares. O processo de expropriação dos camponeses e de concentração de terra foi sancionado fazendo uso da lei e da força e violência do Estado.
A acumulação primitiva de capital na Inglaterra se desenvolveu a partir de dois pressupostos vinculados: a concentração de uma grande quantidade de recursos (sobretudo dinheiro e terras) nas mãos de um pequeno setor da sociedade; e a formação de um contingente de indivíduos que foram compulsoriamente despossuídos das terras de propriedade comunal (por meio da espoliação e dos cercamentos, realizados pela aliança da burguesia com a gentry e com o Estado absolutista inglês) que, portanto, se viam obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver.
A realização dessas condições nada teve de um automatismo ou racionalização econômicas: “Os economistas políticos clássicos não estavam dispostos a confiar nas forças do mercado para determinar a divisão social do trabalho porque achavam que a tenacidade dos produtores rurais tradicionais era muito desagradável. Em vez de defender que as forças do mercado deveriam determinar o destino desses produtores, a economia política clássica pediu intervenções estatais para prejudicar a capacidade dessas pessoas para produzir em resposta às suas próprias necessidades. As suas recomendações equivaliam a uma manipulação flagrante da divisão social do trabalho. Não podemos justificar tais políticas em termos de eficiência. Se a eficiência fosse de grande importância para eles, os economistas clássicos não teriam ignorado a lei que permite aos nobres atravessar os campos dos pequenos agricultores em perseguição de raposas, enquanto proibia aos agricultores que livrassem as suas terras de fauna selvagem capaz de comer as colheitas. Estas leis destruíram uma enorme parcela da produção agrícola”.[xxii]
A riqueza desprovida de origem nobre teve várias fontes. A formação do polo burguês da sociedade inglesa foi possível graças às riquezas acumuladas pelos negociantes com o tráfico de escravos africanos, com o saque colonial, com a apropriação privada das terras comunais dos camponeses, com a proteção das manufaturas nacionais, e com o confisco e/ou venda a baixo preço das terras da Igreja. A acumulação originária imbricou, dessa maneira, processos internos e externos de economias em estado de expansão espasmódico.
Os economistas clássicos não viam a acumulação originária a partir desse ângulo, pois não conseguiam ir além das aparências: identificavam o capital com o dinheiro e, em outros casos, com os meios de produção (capital fixo): daí que pensassem que o capitalismo (como quer que o chamassem) existia desde que o homem conseguira elaborar os primeiros instrumentos de trabalho. Adam Smith, quando estudou a previous accumulation (Marx citou a Riqueza das Nações: “A acumulação de estoque deve, pela natureza das coisas, ser anterior à divisão do trabalho”) referiu-se exclusivamente à acumulação de dinheiro e instrumentos de trabalho em mãos dos capitalistas, sem atentar para a prévia expropriação compulsória da maioria da população trabalhadora. Em outros momentos da história conseguira-se acumular em poucas mãos grandes quantidades de dinheiro, mas isto não deu lugar ao surgimento do capitalismo, sistema em que a acumulação de dinheiro se assentou sobre relações de produção de novo tipo.
A manufatura, substituta crescente do artesanato, foi uma consequência da ampliação do consumo, que levou o produtor a aumentar a produção, e o comerciante a dedicar-se também à produção industrial. Ela resultou também do aumento do comércio de base monetária, em substituição da troca direta. Com a manufatura houve aumento na produtividade do trabalho, devido à divisão técnica da produção no estabelecimento industrial, onde cada trabalhador realizava uma etapa na confecção de um único produto. A ampliação do mercado consumidor relacionou-se diretamente ao alargamento do comércio, tanto interno como em direção do Oriente ou da América.
Outra característica foi o surgimento da interferência direta do comerciante no processo produtivo, passando a comprar a matéria prima e a determinar o ritmo de produção. O processo que criou o sistema capitalista consistiu na transformação em capital os meios sociais de subsistência e de produção, e converteu em assalariados os produtores diretos. Isto já acontecia, limitadamente, nas cidades costeiras italianas, em Flandres e na Inglaterra; no início do século XIV, porém, os benefícios do setor capitalista da economia ainda provinham majoritariamente do comércio e das finanças, não da manufatura ou da indústria. Isso mudou no século sucessivo na Inglaterra.
A gênese do capitalista agrário passou por uma metamorfose iniciada no servo capataz, passando pelo arrendatário livre e pelo meeiro, até concluir no “arrendatário propriamente dito”, que já tinha capital próprio, contratava trabalhadores assalariados e pagava uma renda, em dinheiro ou em espécie, ao proprietário de terras. A gênese do arrendatário se desenvolveu na Inglaterra desde seu estágio primitivo no bailif (de bail: contrato), ainda servo, passando pela sua substituição, durante a segunda metade do século XV, pelo colono. O colono logo se tornou parceiro, que também desapareceu para dar lugar ao arrendatário, que procurava expandir seu capital empregando trabalhadores assalariados e entregava ao landlord uma parte do produto excedente, em dinheiro ou em produtos, como renda da terra. O arrendatário capitalista inglês surgiu, desse modo, das fileiras dos servos da Idade Média.
Maurice Dobb acentuou esse aspecto, ao afirmar que os embriões do capital industrial estiveram na pequena produção mercantil de base agrária, na economia de pequenos produtores separados e relativamente autônomos, ainda submetidos por mecanismos extra econômicos (principalmente religiosos e militares) aos senhores feudais. À medida em que os camponeses conseguiam a emancipação da exploração feudal, através de revoltas contra os senhores e de condições que lhes favoreciam (como as pestes que tornavam escassa, e por isso mais valorizada, a força de trabalho), eles podiam guardar para si parcelas maiores de sua produção, acumular um pequeno excedente, usar seus lucros para melhorar o cultivo e acumular algum capital.[xxiii]
A gênese do capitalista industrial não esteve na alta burguesia, mas no movimento de libertação da grande propriedade feudal representado pelos pequenos produtores mercantis, “agentes principais da produtividade no estágio inicial do capitalismo”; camponeses independentes e artesãos.[xxiv]
Alguns desses camponeses, agora “independentes”, enriqueceram e passaram a usar o trabalho de outros para acumular capital e, progressivamente, a pagar suas obrigações servis aos senhores feudais em dinheiro, na forma de uma renda pelo uso da terra. Assim, foram se consolidando os arrendatários capitalistas (que arrendavam as terras da aristocracia rural, e lhes repassavam uma parte de seus lucros na forma de uma renda pelo seu uso) ao mesmo tempo em que a multiplicação de trabalhadores rurais assalariados, que compunham um mercado de força de trabalho e também um mercado consumidor em expansão, acelerando a passagem para uma economia monetária.
O século XVI inglês marcou a ascensão do arrendatário capitalista, que enriqueceu com a mesma rapidez com que a população rural empobreceu. A usurpação das pastagens, os contratos de arrendamento de longo prazo, a inflação e depreciação contínua dos metais preciosos (a “revolução dos preços” do século XVI), o rebaixamento dos salários, a elevação contínua dos preços dos produtos agrícolas, e a renda que tinha de se pagar ao landlord, fixada pelo valor monetário antigo, foram os fatores responsáveis pelo surgimento da classe de arrendatários que se fortaleceu pelo aumento da circulação monetária.
A inflação de preços do século seguinte favoreceu as novas relações econômicas e sociais, acirrou a disputa entre comerciantes e senhores e propiciou novas funções para o Estado: “No século XVI, o ouro e a prata circulantes na Europa aumentaram em consequência da descoberta na América de minas mais ricas e fáceis de explorar. O valor do ouro e da prata caiu em relação às outras mercadorias. Os operários continuaram recebendo a mesma soma de dinheiro em metálico como pagamento pela sua força de trabalho; o preço de seu trabalho em dinheiro permaneceu estável, mas seu salário caiu, pois em troca do mesmo dinheiro recebiam uma soma menor de mercadorias.
Essa foi uma das circunstâncias que favoreceram o aumento do capital e a ascensão da burguesia no século XVI”.[xxv] A moeda e sua circulação viraram campo de disputa entre setores econômicos concorrentes. Em 1558, Thomas Gresham, agente financeiro da rainha Elizabeth 1ª, escreveu que o “dinheiro ruim expulsa o bom”, e observou que, se duas moedas tinham valor legal idêntico, mas conteúdo metálico diferente, aquelas com maior densidade de metal nobre seriam entesouradas, o que prejudicaria a circulação comercial. A Coroa inglesa passou a intervir diretamente no controle da circulação monetária.
A nova burguesia comercial e os cambistas e banqueiros eram os elementos dinâmicos do novo sistema econômico, simultaneamente baseado no lucro, no acúmulo de riquezas, no controle dos sistemas de produção e na expansão permanente dos negócios. Paralela e complementarmente, violentos conflitos eliminavam os elementos comunitários da vida rural europeia: “A implantação da ‘sociedade do mercado’ surgiu como uma confrontação entre classes, entre aquelas cujos interesses se expressavam na nova economia política do mercado e aquelas que a contestavam, colocando o direito à subsistência acima dos imperativos do lucro”.[xxvi] A expropriação dos camponeses de seus meios de subsistência promoveu a ruína da indústria doméstica rural, fazendo surgir a indústria urbana e consigo o capitalista industrial.
Para estes, surgiu um mercado originado pela ruína da indústria doméstica, atrelada à produção rural. Com a dissociação dos trabalhadores de seus meios de produção, garantia-se também a existência da indústria. A revolução capitalista, que se consolidaria com a indústria urbana, teve, desse modo, sua origem em mudanças econômicas e sociais no campo: “Um aumento geral das rendas [monetárias] agrícolas representa uma elevação nas rendas da maioria da população; a mudança tecnológica na agricultura afeta a maioria dos produtores; uma baixa no preço dos produtos agrícolas tende a baixar o custo das matérias primas para os setores fora da agricultura e dos gêneros alimentícios para os assalariados em geral”.[xxvii]
A revolução agrícola, acompanhada do crescimento da indústria capitalista, trouxe consigo o aumento na exploração do trabalho e a elevação do número de excluídos da propriedade, proporcionando a reserva de mão de obra de que a indústria moderna necessitava para sua existência e expansão: “Se os cercamentos do século XVI estavam envolvidos com a produção agrícola, os do século XVII mostram uma qualidade diferente. Dirigidos para a atividade de organização de matérias primas para o desenvolvimento industrial urbano, esses cercamentos se concentram na produção de lã; (eles) podem ser considerados a síntese das transformações que levaram ao capitalismo na Inglaterra, porque sua especialização requeria uma articulação com o mercado (pois) a geração de renda dependia dos mercados (e) também das novas tecnologias de beneficiamento da lã, com novos tipos de ovelhas. O crescimento dessas atividades impôs novas formas de organização das indústrias urbanas, representando o fim dos sistemas clássicos das corporações, aumentando a oferta de empregos urbanos e atraindo a população rural para as cidades”.[xxviii]
A origem do capitalista industrial, do seu lado, não se restringiu aos mestres de corporações, artesãos e assalariados que se transformavam em capitalistas através da exploração ampliada do trabalho assalariado: ela abrangeu também o capitalista rural e o comerciante transformado em empresário industrial. O centro de estruturação do polo burguês da nova sociedade em gestação constituiu a gênese do capitalista industrial.
A transformação gradual e progressiva dos mestres, artesãos independentes, antigos servos da gleba, em capitalistas, no entanto, era um método demasiadamente lento para a acumulação de capital. Os métodos usados na acumulação originária pularam etapas, impulsionados pelo caráter abrangente do novo processo econômico. Os comerciantes ingleses investiram capital nas Companhias das Índias Orientais e outros empreendimentos ultramarinos, impulsionados e protegidos pelo Estado.
As mudanças econômicas fundamentais, no entanto, foram internas, e tiveram por base câmbios na estrutura de classes, a hegemonia do capital diante das outras formas de produção. Inglaterra foi o primeiro país a romper com os sistemas de produção agrícola não comercial, diminuindo a cultura de subsistência e acabando com as terras comuns (commons). A propriedade agrária se incorporava ao circuito comercial e, através dele, aos primórdios da acumulação capitalista de base industrial.
Diferente era o desenvolvimento agrário na Europa continental. Como apontou Ellen M. Wood, na França do século XVIII, “onde os camponeses ainda constituíam a vasta maioria da população e continuavam a deter a posse da maior parte da terra, os cargos no Estado central serviam de recurso econômico para muitos membros das classes dominantes como meio de extrair o trabalho excedente dos produtores camponeses sob a forma de impostos. Até os grandes proprietários que se apoderavam da renda da terra dependiam tipicamente de vários poderes e privilégios extra econômicos para aumentar sua riqueza”.
Sem a separação, produto de uma expropriação, da força de trabalho e os meios de produção, que permite aos seus proprietários comprar a força de trabalho como mercadoria e utilizá-la para um tempo maior do que a reprodução do valor adiantado na forma de meios de subsistência, dos quais eles têm igualmente o monopólio, não haveria lucros nem rendas. Assim, é o fato de ter se apropriado da terra que permite ao rentista reivindicar como renda fundiária uma parte da mais-valia extorquida do assalariado no processo de produção, uma vez que o capitalista teve de usar sua terra (para matérias-primas, para terras agrícolas, para transporte ou para edifícios).[xxix]
A tese das origens agrárias do capitalismo na Inglaterra, ou que a parte decisiva da transição do feudalismo ao capitalismo teve por teatro o campo é, no entanto, polêmica. Um célebre debate teve lugar a partir da tese de Robert Brenner, exposta em 1988, que objetou as teses estruturalistas que sustentavam que as novas forças produtivas criadas pela pressão demográfica e a expansão comercial bastavam para explicar a transição do feudalismo ao capitalismo na Europa.[xxx] Para esse autor, a dinâmica do feudalismo se fundamentava, principalmente, na estrutura de classes e nas relações de propriedade: foram as relações de classe as que impeliram as transformações mercantis (o desenvolvimento dos negócios e das cidades), e não o contrário. Não teria sido principalmente o desenvolvimento das forças produtivas o que impeliu para a transição em direção do capitalismo, mas o resultado (contingente) do conflito de classe entre senhores e camponeses.
Robert Brenner observou que as mudanças no longo prazo na economia medieval pré-moderna foram definidas pela estrutura das relações de classe (e as lutas de classes decorrentes) no feudalismo tardio, observando “o fato de que, no processo de explicação, ou seja, na aplicação do modelo a desenvolvimentos históricos e econômicos específicos, a estrutura de classes tende, quase inevitavelmente, a se infiltrar para compreender uma tendência histórica que o modelo não pode cobrir. Mais frequentemente, no entanto, consciente ou inconscientemente, a estrutura de classe é simplesmente integrada ao próprio modelo e vista como essencialmente moldada ou mutável em termos das forças econômicas objetivas em torno das quais o modelo foi construído”. O autor acentuou, na questão da “transição”, o papel das relações de poder e asa lutas de classes que determinaram o modo através do quais as mudanças demográficas e comerciais incidiram sobre o desenvolvimento e distribuição da riqueza, alterando as relações de força entre as classes.
Um quarto de século depois desse debate, Ellen Meiksins Wood levou algumas das suas teses (as origens agrárias do capitalismo, sobretudo) até suas últimas consequências: “O capitalismo agrário possibilitou a industrialização. As condições de possibilidade criadas pelo capitalismo agrário – as transformações das relações de propriedade, do tamanho e da natureza do mercado interno, a composição da população e da natureza da extensão do comércio e do imperialismo britânicos – foram mais substanciais e tiveram maior alcance do que qualquer avanço puramente tecnológico exigido pela industrialização… Sem a riqueza criada [por ele], ao lado de motivações inteiramente novas de expansão colonial – motivações diferentes das antigas formas de aquisição territorial – o imperialismo britânico teria sido algo muito diferente do motor do capitalismo industrial em que veio a se transformar”.[xxxi]
A noção de Antigo Sistema Colonial, portanto, recobriria duas realidades qualitativamente diferentes. O que seria decisivo e distintivo, para Wood, é que o sistema colonial inglês não só foi importante como forma de acumulação de capital-dinheiro, mas também como periferia orgânica do crescimento industrial.[xxxii]
Foi, portanto, a Inglaterra que deu o passo decisivo. Durante os séculos XVI e XVII a expansão comercial holandesa tinha ainda as características clássicas de expansão mercantil (comprar barato para vender caro) e se especializava nos exóticos produtos tropicais. A expansão inglesa, diversamente, incorporava suas colônias como apêndice aprovisionador de matérias primas (algodão, sobretudo) e, depois, como mercado protegido para sua produção manufatureira. Na medida em que a indústria inglesa ia deitando raízes na metrópole, o monopólio colonial perdia importância como via de acumulação originária e se transformava em seu obstáculo.
No último quartel do século XVIII, Adam Smith, embora reconhecendo as vantagens que significavam as possessões coloniais para seu país, se pronunciou contra o monopólio colonial. Com relação ao vínculo entre desenvolvimento agrário e revolução industrial, Eric L. Jones sublinhou a indissociabilidade da relação entre indústria e agricultura, como chave que permitiu à Inglaterra sobrelevar as consequências “da crise que investiu a Europa de inícios do século XVII, que se prolongou quase até meados do século XVIII”. As inovações técnicas no campo foram notáveis na Inglaterra desde meados do século XVII, com repercussões sobre toda a economia, preparando as condições para uma revolução industrial.[xxxiii]
Paul Mantoux chegou à conclusão de que uma “revolução agrícola” caracterizada pela apropriação privada das terras comunais, pelo direito dos novos proprietários de cercar essas terras, pela derrubada do direito tradicional ao uso dos commons, fora uma condição dessa revolução.[xxxiv] O excedente gerado pelo aumento da agricultura comercial encorajou a mecanização da agricultura. Inglaterra era o país com a mais alta produtividade agrícola, e Inglaterra era mais e melhor alimentada do que as outras regiões europeias, exceto as áreas rurais mais prósperas, ou as classes mais abonadas dos países continentais.
Jones chegou a propor um “modelo” de condições que teriam permitido o deslanche econômico não só da Inglaterra, mas de um conjunto de países, incluindo parte da Europa ocidental, a América do Norte e o Japão: “Seu sucesso econômico dependeu da conjunção de vários fatores| novas e mais favoráveis condições da oferta agrícola, possibilidade de efetuar transportes aquáticos de modo econômico, e diminuição da pressão demográfica, em alguns casos diminuição absoluta da população. Os elementos dinâmicos eram a melhora das técnicas agrícolas e, em alguns casos, a disponibilidade de cereais importados com preços baixos e a diminuição do crescimento da população”.[xxxv]
Não é possível considerar esses fatores fora de seu contexto histórico e, no médio prazo, dos grandes acontecimentos bélicos e políticos. Os eventos determinantes para as mudanças ocorridas na Inglaterra foram: (a) A submissão ao rei da nobreza feudal inglesa, que havia sido derrotada pela França na Guerra dos Cem Anos (1337-1451) e sofreu perdas e se enfraqueceu politicamente durante a Guerra das Duas Rosas (1450-1485); (b) O rompimento dos laços feudais a que estavam submetidos os camponeses, passando a ser predominante, nos campos ingleses, a classe dos camponeses livres, dedicados à pequena produção independente; (c) O enfraquecimento do clero; (d) O fim da interferência de Roma (Vaticano) nos negócios internos ingleses, determinado através da criação da Igreja Anglicana, da qual o rei era o chefe supremo; (e) A centralização política e administrativa e a afirmação da nacionalidade, que confirmaram e reforçaram os poderes reais; (f) A crescente influência, junto ao rei, no vácuo aberto pela nobreza e pelo clero, da burguesia mercantil, cada vez mais interessada no comércio exterior; (g) A substancial alteração do perfil dos proprietários de terras na Inglaterra.
À medida que o Estado, movido pelas dificuldades financeiras, vendia as terras de domínio público e as que haviam sido expropriadas da Igreja à burguesia comercial e financeira, esta, em paralelo, também adquiria terras da antiga nobreza arruinada ou perdulária, fato este que possibilitou o fortalecimento da gentry, ao mesmo tempo que o poder que detinham os membros da antiga nobreza se tornava cada vez mais débil. Enquanto em outras nações europeias o Estado era controlado pela nobreza e por um rei absolutista, o Estado inglês controlado pela burguesia, começou a incentivar a industrialização, estimulando inclusive a navegação. A conquista naval inglesa teve início no final do século XVI, com a vitória sobre a “Invencível Armada” de Filipe II e, posteriormente, ao derrotar a Holanda, no período entre 1652 e 1674, em guerras provocadas por disputas comerciais, que se tornaram frequentes a partir dos Atos de Navegação de 1651; a Inglaterra passa a ser a “Rainha dos Mares”.
Esse estímulo à navegação levou os ingleses a colonizar territórios da Ásia e da África, direcionando para a Inglaterra riquezas vindas de várias partes do mundo. Foi sobre a base desse conjunto de condições, não apenas nacionais, que se produziu na Inglaterra a passagem do mercantilismo para o liberalismo. A Companhias das Índias Orientais foi criada em 1600: quinze anos mais tarde, ela já possuía mais de vinte escritórios espalhados pelo mundo. O comércio externo inglês decuplicou em apenas três décadas, entre 1610 e 1640, graças (e induzindo) ao desenvolvimento da produção. Por volta de 1640, algumas minas de carvão já produziam 25 mil toneladas anuais, contra poucas centenas no século precedente. Altos fornos, empresas siderúrgicas, já empregavam centenas de operários; em algumas empresas têxteis, o número de trabalhadores (diretos ou a domicílio) superava o milhar. Uma nova burguesia estava no centro dessa emergência produtiva e comercial: seus interesses econômicos, grandes demais, passaram a ser políticos.
O pano de fundo e condição do processo foi a transformação radical do agro inglês. A ideia de que os primeiros capitalistas ajudaram a transformar a terra em artigo de comércio mediante o uso da violência estatal, isto é, não através de processos puramente econômicos, tem por sustento o próprio Marx: “A violência que se assenhoreia das terras comuns, seguida em regra pela transformação das lavouras em pastagens, começa no fim do século XV e prossegue no século XVI.
O progresso do século XVIII consiste em ter tornado lei o veículo do roubo das terras pertencentes ao povo. O roubo assume a forma parlamentar que lhe dão as leis relativas ao cerco das terras comuns, que são decretos de expropriação do povo”. A terra deixava de ser condição natural de produção para se tornar mercadoria. No mesmo país, foi necessário um golpe parlamentar para tornar as terras comuns em propriedades privadas: “O roubo sistemático das terras comuns, aliado ao furto das terras da Coroa, contribuiu para aumentar aqueles grandes arrendamentos, chamados, no século XVIII, de fazendas de capital ou fazendas comerciais”.
Os trabalhadores eram expulsos de suas terras e obrigados a procurar empregos nas cidades. Como lembrou o mesmo autor: “No século XIX, perdeu-se naturalmente a lembrança da conexão que existia entre agricultura e terra comunal. O último grande processo de expropriação dos camponeses é finalmente a chamada limpeza das propriedades, que consiste em varrer destas os seres humanos. Todos os métodos ingleses culminaram nessa limpeza”. A terra, antes povoada por trabalhadores, agora era pasto para ovelhas: “O ser humano vale menos que uma pele de carneiro”, dizia um ditado popular. A “limpeza das propriedades” se alastrou por toda Europa: “O roubo dos bens da igreja, a alienação fraudulenta dos domínios do Estado, a ladroeira das terras comuns e a transformação da propriedade feudal e do clã em propriedade privada moderna, levada a cabo com terrorismo implacável, figuram entre os métodos idílicos da acumulação primitiva”.[xxxvi] Esses métodos incorporaram as terras ao capital e proporcionaram à indústria das cidades a oferta necessária de proletários.[xxxvii]
O processo de formação das classes despossuídas, futuramente proletários da indústria capitalista, foi violento e compulsório, para nada “natural”. Os homens que foram expulsos das terras com a dissolução das vassalagens feudais não foram absorvidos, na mesma proporção e com a mesma velocidade, pelo trabalho industrial, doméstico ou comercial. Nesse processo, e nas lutas entre os artesãos e suas corporações, alguns artesãos se enriqueceram à custa de outros que perdiam seus meios de trabalho.
Os que “perdiam” ficavam apenas com sua força de trabalho e viravam proletários, os que ganhavam conseguiam acumular recursos para novos investimentos. Na Inglaterra do século XVI, a técnica produtiva evoluiu, a produção de lã se expandiu e o país preparou-se para o processo que, dois séculos mais tarde, culminaria na Revolução Industrial, porque já não estávamos, como nos séculos precedentes, diante de um “capitalismo parasitário em um mundo feudal”.
O comércio internacional induziu a expansão da criação de ovelhas e, com a expropriação das terras, os senhores ampliaram em grande escala sua criação, que só necessitava de poucas pessoas empregadas nas vastas pastagens das grandes propriedades. As lãs eram usadas nas manufaturas, na fabricação de tecidos e de outros produtos têxteis. Com o crescimento do mercado de lã, cresceram também os rebanhos de ovelhas, limitados inicialmente pelas autoridades reais, que determinavam um máximo de duas mil cabeças por criador.
Com a expulsão dos servos-camponeses, estes se dirigiram para as cidades em busca de trabalho: as cidades não tinham como empregar todos os novos desempregados, que foram assim empurrados ao roubo e à mendicância. O florescimento da manufatura flamenga de lã, e a consequente alta dos preços, incentivou a transformação de lavouras em pastagem, criando a necessidade de expulsar de suas terras a maioria dos camponeses.
Para “remediar” o desemprego e suas consequências, foram promulgadas as leis “dos pobres”, surgidas na Inglaterra no final do século XV e durante o século XVI, e depois imitadas em outros países. Elas foram consequência direta das transformações sociais decorrentes da exploração dos recursos naturais do “Novo Mundo” e da abertura de novos mercados de consumo, que favoreceram a expansão do comércio e da indústria manufatureira. A população rural inglesa, expropriada e expulsa de suas terras, compelida à vagabundagem, foi enquadrada na disciplina exigida pelo novo sistema de trabalho por meio de um terrorismo legalizado que empregava o açoite, o ferro em brasa e a tortura.
Muitas áreas agrícolas, antes cultivadas garantindo a subsistência de numerosas famílias camponesas, foram cercadas e transformadas em pastagens. Sem condições de adaptar-se à rígida disciplina da manufatura ou mesmo à vida urbana, muitos camponeses desalojados se transformaram em mendigos; sucederam-se leis e decretos para diminuir essa categoria de habitantes. As leis proibiam a existência de desempregados, punindo-os com severas penas.
Henrique VIII estabeleceu em lei que “doentes e velhos incapacitados têm direito a uma licença para pedir esmolas, mas vagabundos sadios serão flagelados e encarcerados” (os reincidentes tinham, ademais, metade da orelha decepada). A primeira “lei dos pobres” inglesa, sob o reinado de Elizabeth I, preparou, sob o pretexto de ajuda obrigatória à pobreza, as futuras “casas de trabalho”, workhouses, onde o pobre foi colocado compulsoriamente à disposição do capitalista industrial.
Este último prosperou porque os mercados se expandiam, interna e externamente, pressionando um aumento constante e acelerado da produção, e o capital se concentrava, o que “contribuiu para incrementar a acumulação de capital… a concentração em favor das economias marítimas, com seu novo mecanismo sumamente eficaz para a acumulação de capital (obtido pelas empresas comerciais no estrangeiro e nas colônias) forneceu as bases para uma acumulação acelerada. Nos países continentais [da Europa] a empresa governamental das novas monarquias absolutas fomentou as indústrias, as colônias e a exportação, que de outro modo não teriam florescido, expandido e salvado do colapso a mineração e a metalurgia e fornecido as bases para indústrias em lugares onde o poder dos senhores do sistema servil e a fraqueza e o parasitismo das classes médias o inibiam. A concentração do poder das economias marítimas contribuiu para fomentar consideravelmente o investimento produtivo. O fluxo crescente do comercio colonial e estrangeiro estimulou as indústrias nacionais e as agriculturas que as abasteciam”.[xxxviii]
A concentração de riquezas forneceu à Inglaterra condições favoráveis ao desenvolvimento das indústrias e permitiu que o país ampliasse sua potência colonial. A conquista de um crescente mercado externo amparado no mercado interno ainda pouco desenvolvido foi a resposta a uma já ineficiente economia rural, determinando uma revolução agrária. O fim do sistema feudal transformou lentamente a agricultura do período, expulsando o camponês, acabando com os resquícios das relações feudais e com um mundo rural de economia de subsistência, para a partir dos cercamentos uma agricultura fornecedora de matéria prima para investidores capitalistas: “Somente a grande indústria fornece, com as máquinas, a base constante da agricultura capitalista, expropria radicalmente a imensa maioria do povo do campo e completa a separação entre a agricultura e a indústria rural doméstica, cujas raízes – fiação e tecelagem – ela arranca. Portanto, é só ela que conquista para o capital industrial todo o mercado interno”.[xxxix]
O que mais gerava lucro era o investimento na indústria têxtil que, além de ser a principal indústria inglesa, era a que mais necessitava de aumento da produção para suprir a crescente demanda conquistada. Essa expressiva demanda por lã na indústria têxtil impulsionou a Inglaterra a buscar evoluções e melhorias no processo de produção, criando melhores ferramentas e máquinas.[xl]
A produtividade agrícola inglesa encontrava um obstáculo ao seu desenvolvimento devido ao sistema de “campos abertos” e de “terras comuns” (commons), utilizado pelos camponeses para o plantio e a criação de gado, desde a Idade Média, como acontecia na maioria dos países europeus. Por isso, as inovações técnicas foram acompanhadas de um grande reordenamento e redimensionamento das propriedades rurais, através da intensificação do cercamento dos campos. As enclosures consistiam na unificação dos lotes dos camponeses, até então dispersos em faixas pela propriedade senhorial (campos abertos), num só campo cercado por sebes e usado na criação intensiva de gado, ou nas plantações que interessavam ao proprietário. As novas técnicas agrícolas promoviam o aumento da oferta de mercadorias, que podiam ser vendidas a um melhor preço.
Essa prática foi legalmente utilizada, pois foi permitida pelo Parlamento inglês desde o século XVI, e foi intensificada no século XVIII causando a eliminação dos yeomen (pequenos camponeses) e dos arrendatários. Com a gentry (pequena nobreza de origem recente) no poder, dispararam os cercamentos, autorizados pelo Parlamento, que, ao permitirem a formação de grandes áreas de terras contínuas, criaram as condições requeridas para que uma série de melhoramentos se tornasse possível: eliminação de áreas não aproveitadas, rotação de culturas, aperfeiçoamento do sistema de drenagem, aplicação de fertilizantes e, de forma geral, a aplicação de outros métodos intensivos de produção. O aumento da produtividade decorrente proporcionou à produção agrícola condições de atendimento à crescente demanda por matérias primas e alimentos e, de outro lado, conduziu à proletarização dos produtores diretos expulsos dos campos.[xli]
A divisão das terras anteriormente coletivas beneficiou os grandes proprietários. As terras dos camponeses independentes, os yeomen, foram reunidas num só lugar e eram tão poucas que não lhes garantiam a sobrevivência: eles se transformaram em proletários rurais; deixaram de serem, ao mesmo tempo, agricultores e artesãos. Com duas consequências principais: a diminuição da oferta de trabalhadores na indústria doméstica rural, no momento em que ganhava impulso o mercado, o que tornava indispensável adotar uma nova forma de produção capaz de satisfazê-lo; a proletarização, que abriu espaço para o investimento de capital na agricultura, do que resultaram a especialização da produção, o avanço técnico e o crescimento da produtividade.
A população cresceu e o mercado consumidor também; sobrou assim mão de obra para os novos centros industriais urbanos. Os cercamentos provocaram um brutal desemprego na área rural, com os camponeses e suas famílias perdendo os lotes de onde tradicionalmente tiravam o seu sustento. A preocupação com as consequências sociais do processo não existia para aqueles que estavam maravilhados pelo progresso da produção, como era o caso de um agrônomo chamado Arthur Young: “A meu ver, a população é um objetivo secundário. Deve-se cultivar o solo de modo a fazê-lo produzir o máximo possível, sem se inquietar com a população. Em caso algum o fazendeiro deve ficar preso a métodos agrícolas superados, suceda o que suceder com a população. Uma população que, ao invés de aumentar a riqueza do país, é para ele um fardo, é uma população nociva”. Em algumas paróquias inglesas, o simples anúncio de editais para o cercamento gerava revoltas e tentativas para que não fossem afixados nas portas das igrejas.
“Lamento profundamente – afirmava um comissário real inglês – o mal que ajudei a fazer a dois mil pobres, a razão de vinte famílias por aldeia. Muitos deles, aos quais o costume permitia levar rebanhos ao pasto comum, não podem defender seus direitos, e muitos deles, pode-se dizer quase todos os que têm um pouco de terra, não têm mais de um acre; como não é o bastante para alimentar uma vaca, tanto a vaca como a terra são, em geral, vendidos aos ricos proprietários”; “Não era raro ver quatro ou cinco ricos criadores se apossarem de toda uma paróquia, antes dividida entre trinta ou quarenta camponeses, tanto pequenos arrendatários quanto pequenos proprietários. Todos foram repentinamente expulsos e, ao mesmo tempo, inúmeras outras famílias, que dependiam quase que unicamente deles, para o seu trabalho e sua subsistência, as dos ferreiros, carpinteiros, carro e outros artesãos e pessoas de ofício, sem contar os jornaleiros e criados”.[xlii] Os cercamentos agrários foram chamados, por isso, de “revolução dos ricos contra os pobres”.
Os senhores e nobres estavam perturbando a ordem social, destruindo as leis e costumes tradicionais, pela violência ou por intimidação e pressão. Eles literalmente roubavam do pobre sua parcela de terras comuns, demolindo casas que até então, por força de antigos costumes, os pobres consideravam como suas e de seus herdeiros. Aldeias abandonadas e ruínas de moradias testemunhavam a ferocidade da incipiente “revolução capitalista”. A aristocracia inglesa começou, nos anos sucessivos, um esforço sistemático de modernização da agricultura, com o objetivo de aumentar as rendas de suas propriedades, seguindo o exemplo da burguesia que se enriquecia com as atividades comerciais e financeiras. A agricultura inglesa desenvolveu-se com a difusão de novas técnicas e instrumentos de cultivo.[xliii]
O fim do uso comum das terras gerou o “trabalhador livre”, expulso do campo. A agricultura era praticada na Inglaterra, bem como no restante da Europa, através de métodos e de instrumentos ainda bastante primitivos. O cultivo do solo, realizado pelo sistema medieval do arroteamento trienal, deixava o campo improdutivo durante um ano em três, para recuperação da fertilidade. Os arados eram rudimentares e as forragens insuficientes para a alimentação dos rebanhos durante o inverno, tornando-se necessário abatê-los em grande número no outono.
Como deslanchou economicamente a Inglaterra? As primeiras hipóteses para explicar o “privilégio inglês” remeteram para fatores geográficos: a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, ou seja, a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor. Além da fonte de energia, os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, a principal matéria prima utilizada. Na Europa continental, os maiores centros de desenvolvimento industrial eram as regiões mineradoras de carvão, o norte da França, os vales do Rio Sambre e Meuse; na Alemanha, o vale de Ruhr, e também algumas regiões da Bélgica.
Além desses lugares, a industrialização ficou presa às principais cidades, como Paris e Berlim; aos centros de interligação viária, como Lyon, Colônia, Frankfurt, Cracóvia e Varsóvia; aos principais portos, como Hamburgo, Bremen, Roterdã, Le Havre, Marselha; a polos têxteis, como Lille, Ruhr, Roubaix, Barmen-Elberfeld, Chemmitz, Lodz e Moscou, e a distritos siderúrgicos e regiões de indústria pesada na bacia do rio Loire, no Sarre, e na Silésia. A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria prima e máquinas e contratar empregados.
O mercado consumidor alargado inglês também pode ser destacado como fator que contribuiu para o pioneirismo capitalista britânico. Esses fatores logo mostraram suas limitações. A economia capitalista tendeu para a inovação constante dos produtos e das formas de trabalho. Quanto mais sofisticados os meios de trabalho, maior a produtividade (mais unidades de mercadoria produzidas em menos tempo de trabalho), menores os custos e os preços, maior a possibilidade de vender para mais gente, conquistando mais mercados.
Mas nada indica que os capitalistas, nas circunstâncias históricas dos séculos XVI ou XVII, tivessem interesse em revolucionar os meios de produção, construindo máquinas inovadoras. O tipo de mercado ao qual estavam acostumados era formado em primeiro lugar por ricos, nobres e burgueses, que queriam mercadorias de luxo, caras e em pequena quantidade. A margem de lucro era alta sem que fosse preciso produzir ou comercializar muitas mercadorias. Os consumidores pobres que satisfaziam suas necessidades exclusivamente no mercado não eram numerosos nem adeptos de produtos padronizados.
Foi preciso que a produção mecanizada criasse o seu mercado, que capitalistas industriosos e pioneiros apostassem nas inovações tecnológicas, que o Estado os apoiasse, e que eles quisessem de fato substituir as manufaturas da Índia, no caso do ramo têxtil, por mercadorias baratas e abundantes feitas na Inglaterra. A realização dessa tendência explica o “privilégio inglês”. Inglaterra tinha um Estado disposto a apoiar seus capitalistas; um mercado interno potencialmente grande; e um mercado externo igualmente grande e em crescimento, baseado num verdadeiro império, que começou a ser erguido no início do século XVII, com um exército nacional centralizado e uma marinha mercante cada vez mais eficiente.
A condição política que diferenciava a Inglaterra do restante do mundo (com a parcial exceção dos Países Baixos, e com a diferença de que estes possuíam parcos recursos naturais e limitada extensão geográfica) era que a burguesia inglesa havia impulsado uma revolução vitoriosa, conseguindo exercer o poder de maneira a criar as condições legais e institucionais favoráveis à atividade capitalista e à expansão colonial. Inglaterra possuía ricas jazidas de ferro e carvão, e o fator demográfico foi importante como formador de um grande mercado consumidor interno. Esses fatores inicialmente nacionais acabaram tendo projeção mundial.
*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de Teoria econômica marxista: uma introdução (Boitempo).
Notas
[i] Karl Marx. O Capital, Livro I, vol. 1.
[ii] Perry Anderson. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo, Editora Unesp, 2016 [1974].
[iii] Carlos Astarita. O conflito social no feudalismo. História & Luta de Classes nº 14, Cândido Rondon, Universidade do Oeste do Paraná, setembro de 2012.
[iv] Theo Santiago. Capitalismo: Transição. Rio de Janeiro, Eldorado, 1975.
[v] Barbara W. Tuchman. Uno Specchio Lontano. Un secolo di avventure e calamità: il Trecento. Milão, Arnoldo Mondadori, 1992, assim como a citação precedente.
[vi] Charles Van Doren. Uma Breve História do Conhecimento. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2012.
[vii] Joël Cornette. Le rêve brisé de Charles Quint. In: Comment meurent les empires. Les Collections de l’Histoire nº 48, Paris, julho-setembro 2010.
[viii] Paul Mantoux. A Revolução Industrial no Século XVIII. São Paulo, Hucitec, 1988 [1959].
[ix] Gerald A. J. Hodgett. Historia Social y Económica de la Europa Medieval. Madri, Alianza Universidad, 1982.
[x] Denominação derivada do francês arcaico genterie, o termo designava a classe possuidora rural que, embora desprovida de títulos nobiliárquicos, tinha aspirações a se transformar em aristocracia da terra.
[xi] Mark Overton. Agricultural Revolution in England. The transformation of the agrarian economy 1500-1850. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
[xii] Nino Salamone. Causas Sociais da Revolução Industrial. Lisboa, Presença, 1978.
[xiii] Geoffrey Parker. El Ejército de Flandes y el Camino Español 1567–1659. Madri, Alianza, 2010.
[xiv] Loretta Bruschini Vincenzini. Storia della Borsa. Roma, Newton & Compton, 1998.
[xv] Leo Huberman. História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro, Zahar, 1974.
[xvi] Francis Bacon. The Essays. Londres, Penguin, 1986 [c. 1625].
[xvii] Eli Filip Heckscher. La Época Mercantilista. Historia de la organización y las ideas económicas desde el final de la Edad Media hasta la sociedade liberal. México, Fondo de Cultura Económica, 1943 [1931].
[xviii] Francisco José Calazans Falcon. Mercantilismo e Transição. São Paulo, Brasiliense, 1982.
[xix] Nome derivado da política econômica francesa de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministro de estado e da economia do rei Luís XIV e Controlador-Geral das Finanças, política identificada com ações de incentivo ao desenvolvimento das manufaturas, com o objetivo de ampliar as exportações francesas de produtos manufaturados, restringindo as importações.
[xx] Adolphe-Jerôme Blanqui. Histoire de l’Économie Politique en Europe. Depuis les anciens jusqu’à nos jours. Genebra, Slatkine Reprints, 1980 [1882].
[xxi] Pierre Deyon. O Mercantilismo. São Paulo, Perspectiva, 2009.
[xxii] Michael Perelman. A história secreta da acumulação primitiva e a economia política clássica. O Comuneiro nº 26, Lisboa, março de 2018.
[xxiii] Maurice Dobb. A Evolução do Capitalismo. Rio de Janeiro, Guanabara, 1987 [1947].
[xxiv] Kohachiro Takahashi. Contribution à la discussion. In: Maurice Dobb e Paul M. Sweezy. Du Féodalisme au Capitalisme. Problèmes de la transition. Paris, François Maspéro, 1977.
[xxv] Karl Marx. Trabajo Asalariado y Capital. Pequim, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1976 [1847].
[xxvi] Ellen Meiksins Wood. A Origem do Capitalismo, cit.
[xxvii] Phyllis Deane. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
[xxviii] Francisco Falcon e Antonio E. Rodrigues. A Formação do Mundo Moderno. A construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVII. Rio de Janeiro, Campus-Elsevier, 2006.
[xxix] “O monopólio da terra permite ao proprietário apropriar-se de uma parte da mais-valia, sob o nome de renda fundiária, quer essa terra seja utilizada para agricultura, construção, ferrovias ou qualquer outra finalidade produtiva” (Karl Marx. Salario, Prezzo e Profitto, Nápoles, Laboratorio Politico, 1992 [1865]).
[xxx] Cf. Eduardo Barros Mariutti. O Debate Brenner: uma nova perspectiva para o estudo da formação do capitalismo. Leituras de Economia Política, nº 8, Campinas, junho 2000 – junho 2001.
[xxxi] Ellen Meiksins Wood. A Origem do Capitalismo. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001.
[xxxii] Ideia semelhante foi exposta por: Héctor Alimonda. Acumulação originária: uma revisão. Estudos nº 4, São Paulo, FFLCH-USP, outubro 1986.
[xxxiii] E. L. Jones. Agriculture and Economic Growth in England 1650-1815. Londres, Methuen, 1967.
[xxxiv] Paul Mantoux. A Revolução Industrial no Século XVIII, cit.
[xxxv] Eric Jones. Agricoltura e Rivoluzione Industiale. Roma, Riuniti, 1982.
[xxxvi] Karl Marx. O Capital, Livro I, vol. 1.
[xxxvii] A expressão provinha da antiga Roma, onde ela designava o cidadão da mais baixa classe social, que não pagava impostos e era considerado útil à sociedade apenas pelos filhos (prole) que gerava.
[xxxviii] Eric J. Hobsbawm. As Origens da Revolução Industrial. São Paulo, Global, 1979.
[xxxix] Karl Marx. O Capital, cit.
[xl] Fernão Pompêo de Camargo Neto. Os alicerces da Revolução Industrial. Cadernos da FACECA, Campinas, vol. 14, nº 1, janeiro-junho de 2005.
[xli] Jonathan D. Chambers (Enclosure and the labor supply in the Industrial Revolution. Economic History Review Second Series, vol. V, Londres, 1953) argumentou que em períodos em que foram impostas as leis de cercamento, aumentou o número de pessoas que residiam nas áreas de fazendas, o que invalidaria a tese de Marx, ao que Harry Magdoff respondeu que “Marx estava fazendo uma generalização de amplo significado para um período que vai do século XIV até o final do século XVIII. Em outro momento, ele fala sobre processos em fase provisória. Na verdade, isso não tem nada a ver com a análise de Marx, porque na teoria de Marx e na abrangência de sua apresentação está o reconhecimento tanto do longo quanto do curto prazo com relação à agricultura e aos estágios de desenvolvimento dos processos de manufatura. A crítica de Chambers é importante para entender a metodologia de Marx e sua importância na compreensão da história econômica (diante da) metodologia burguesa, que isola questões fora do contexto”. Para um ponto de vista oposto a Chambers, ver: Jon S. Cohen e Martin L. Weitzman. A marxian model of enclosures. Journal of Development Economics vol. 1, nº 4, Amsterdã, Elsevier, 1975.
[xlii] Paul Mantoux. A Revolução Industrial no Século XVIII, cit.
[xliii] Eric L. Jones. Agricoltura e rivoluzione industriale. In: Ciro Manca (ed.). Formazione e Trasformazione dei Sistemi Economici in Europa dal Feudalesimo al Capitalismo. Padova, CEDAM, 1995.